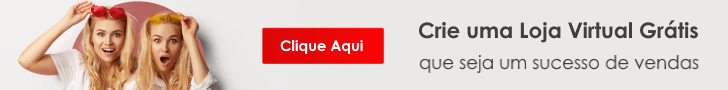Bispos e Presbíteros, poder de Ordem do Presbítero
Bispos e Presbíteros, poder de Ordem do Presbítero
- Bispo s e Presbíteros: Aspectos sacramentais e organizativos do ministério eclesial Jesu s Hortal , S . J . Thi s articl e mtend s t o dra w th e consequence s ou t o f t h e teaching s o f Vaticãn I I Counci l abou t th e sacramen - talit y o f th e episcopacy . Fro m th e fac t tha t th e tradltíon a l theor y abou t th e distinctio n betwee n orde r powe r a n d jurisdictio n powe r canno t an y longe r b e interprete d a s a basi c an d adequat e divisio n òf th e cburc h ministry , i t look s fo r a sur e bas e fo r th e realit y -wel l knox ^ a s traditiona l o f th e thre e form s I n whic h th e hol y order s a r e conferred : episcopacy , priesthoo d an ^ de^co^ship . A rapi d historica l visio n examine s th e diffèrent theorie s buit t b y canonist s an d theblog^ians , i n orde r t o expláin t h e realit y live d b y th e Church . Base d o n th e counci l texts , i t trie s t o understan d the , sacre d minístry a s a continuatio n o f th e uniqu e missio n transmitte d to th e apostle s b y Christ , thrdug h a n insertio n i h th e episcopa l coUege . , Communio n — no t "jurisdiction " seem s t q b e th e basi c concep t fo r th e Characte r receive d it i ordination . Finally , ther e ar e expresse d a serie s óf hypothese s base d o n |h e previou s analysi s abou t th e distinctio n betwee n bishop s an d priests , abou t th e variou s saçred powers , abou t a possibl e dlvisio n o f th e Sacraínent o f Hòly Órder, abou t th e diffèrent grade s o f tlíe sacreá ministry , abou t t h e possibl e "irritation " o f th e poWér t o sanctify , an d abou t th e convenienc e o f modifyin g th e presen t termino - logy . Na realidade eclesial concreta em que vivemos , nos encontramos com três tipos plenamente diferenciados de ministérios, dentro do que costumamos chamar de "sacramento da ordem": bispos, presbí- teros e diáconos. Ainda que as três, denominações apareçam já na Escritura, a sua distinção clara é testemunhada a partir do século II. Isso vale principalmente para as Igrejas da Ásia Menor, onde a hierarquia tripartita é considerada por Santo Inácio de Antioquia como j organização natural e comum das cornunidades cristãs. Mas se a distinção é conhecida,já naqueles tempos primitivos, a reflexão teológica que.lh e pretendeu dar um fundamento foi elaborada tardiamente e com vacilações. Construiuse., primeiramente, a teoria da distinção de potestades ou do dú- plice poder; de ordem e de jurisdi- ção. O poder de ordem seria plenamente divino, transmissível 183 diretamente pelo sacramento, dirigido à santificação interna dos fiéis , e, uma vez conferido, subtraí- do, quanto à validade, ao domínio da Igreja. O poder de jurisdição, pelo contrário, teria muito de humano, transmitir-se-ia por delega- ção pontifícia e até (pelo menos parcialmente) sem necessidade da base sacramentai, estaria dirigido ao governo externo da sociedade eclesial, e poderia ser invalidado, em todo ou em parte pela autoridade competente. Elaborada pelos canonistas dos séculos XI-XII , esta distinção penetrou profundamente na Escolástica, devido, em grande parte, à autoridade de S. Tomás , que a adotou, com a célebre terminologia de "potestas in Corpus Christi verum " (poder de ordem) e "potestas in Corpus Christi mysticum" (poder de jurisdição) (1). Mas este modo de ver as coisas tem um inconveniente fundamental: a separação quase total dos dois elementos que correm sempre unidos na Igreja: o divino e o humano (2). Ora , a fórmula do Calcedonense — "inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter" (3) percorre toda a realidade derivada da Encarnação. Pretender separar os elementos divinos e humanos é tanto como destruir a ordem inaugurada pelo Homem-Deus. Na prática, aliás, a distinção entre ordem e jurisdição não era tão fácil como podia parecer à primeira vista. Afirmava-se — e o mesmo S. Tomás é testemunha disso — que os bispos e os (1) . Cf. S. Th. Il-llae, q. 184, a. 6, ad 1 ; III , q. 67, a. 2, ad 2 ; 111, q. 82, a. 1, ad 4. (2) Cf. CONCIUU M OECUMENICU M VATICA - N UM II, Const. dogm. de Ecciesla, Lumen Génlium , n. 8. (3) DS 302. 184 presbíteros diferiam apenas no poder de jurisdição e não no de ordem (4). As dificuldades, porém, que se derivavam dessa distinção não podiam ser ignoradas. Sobretudo nos casos da administração dos sacramentos da crisma e da ordem eram particularmente perturbadoras. A confirmação, com maiores ou menores restrições, foi administrada por presbíteros durante toda a História da Igreja. As ordenações, pelo menos em alguns casos (5), foram também conferidas por simples sacerdotes. Onde estava, pois, a distinção entre bispos e padres? No poder de ordem? Por que, então, os dois únicos sacramentos citados sempre como prova podjam ser administrados, vàlidamente, pelo menos em certos casos, por presbíteros? Se faltava a base sacramentai, não se v ê como podia ser suprida por uma simples delegação humana. Se, pelo contrário, com S. Tomás, se pensava no poder de jurisdição, como base da distinção entre presbíteros e bispos, devia explicar-se porque a Igreja considerava como (4) "A d quartum dicendum quod episcopus accipit potestaten ut agat in persona Cliristi supra corpus eius mvsticum: idest super Ecclesiam: quam quidem potestatem non accipit sacerdos in sua consecratione, licet possit eam habere ex episcopi commissione. Et ideo ea quae non pertinent ad disposi - tionem cornoris mvstici, non reservantur eoiscopo" (S. Th. 111, q. 82, a. I, ad 4). Cf. também; In IV Sen», d. 7, q. 3, a. 1 co. 2, ad 3; d. 24, q. 3, a. 2, col. 2-3; S. Th. ll-llae q. 184, a. 6, ad 1 ; III q. 65, a. 3, ad 2 ; q. 67, a. 2; q. 82, a. 1, ad 4 e a. 3 , ad 3. Não deve esquecer-se, porém, que o mesmo S. Tomás parece inclinar-se, nas suas últimas obras , por uma distinção entre bispos e nresbíteros baseada não apenas na diversa "jurisdição" . Cf. De perf. vitae spir., c. 24, n. 715. (5) Cf. BONIFAT . IX, Bulla Sacra* raliglonis, DS 1145; MARTIN. V . Bulla Gerantas ad vos , DS 1290; INNOCENT . VIII , Bulla Exposcit tua * d*votionis , DS 1435. O recurso fácil à negação da autenticidade destes d» , cumentos , que costumava empregar-se nos nossos manuais de Teologia, não é mais possível depoi s que foram descobertos o i originais conservados no Arquivo Vaticano. inválidas — e não apenas como ilícitas — as confirmações e ordenações realizadas por sacerdotes não autorizados. Para fugir a essas dificuldades foram elaboradas diversas teorias. Pensou-se, em primeiro lugar, numa irritação eclesiástica do poder sacramentai. Mas , por que essa irritação era possível nos casos da crisma e da ordem e não no da eucaristia? De fato, a Igreja considerou sempre como válida — embora ilícita — a celebração eucarística dos presbíteros que se encontram fora da comunhão eclesial, enquanto que ordenações e crismas, realizadas por padres incensurados mas não autorizados, eram dadas como inválidas. Falou-se, então, de um poder delegado de ordem. Os presbíteros não possuiriam, em virtude da própria ordenação, a faculdade de administrar os dois sacramentos citados, mas a Igreja, através dos bispos ou do papa, poderia delegar-lhes esse poder. A teoria ia , porém, diretamente contra a base da distinção entre ordem e jurisdi- ção. O poder de ordem era , como dizíamos, sacramentai, conferido diretamente por Deus, dirigido à santificação dos indivíduos e, por isso, subtraído radicalmente ao domínio da sociedade eclesial. Mas poder delegado de ordem significa algo social, regulável à vontade da autoridade humana, não conferido diretamente por Deus. Aliás , se, mediante uma simples delegação, os presbíteros podiam obter todas as faculdades dos bispos, para que servia a sagração episcopal? A única saída possível parecia a negação da distinção de graus dentro do sacramento da ordem. O presbiterato seria a ordenação propriamente dita. Bispos e padres seriam completamente iguais no plano da ordem, diferindo apenas no plano da jurisdição. A eucaristia não poderia ser nunca invalidada porque a consagração não atua diretamente sobre os súditos da Igreja. As ordenações e a crism a , pelo contrário, exigem necessariamente um sujeito que, por definição, deve ser súdito da Igreja. Ora , ela poderia assiná-lo ou não a tal sacerdote concreto, conferindo ou negando a validade desses sacramentos. O resultado, porém, desta teoria foi uma enorme casuística sobre designação de súditos, subordinação de uns ministros a outros, liceidade, iliceidade ou iterabilidade dos sacramentos. No tempo do Concilio de Trento, a questão da distinção entre bispos e presbíteros se apresentava tão complicada que os padres conciliares não se atreveram a resolvê-la, contentando-se apenas com afirmar a superioridade dos bispos sobre os presbíteros, mas sem fornecer a razão intrínseca dela (6). A distinção entre ordem e jurisdição sofreu os primeiros embates quando, nos fins do século XVIII , alguns teólogos e canonistas católicos começaram a aceitar a doutrina protestante dos tempos do lluminismo sobre a divisão tripartita do poder eclesial: santificação, magistério e regime (7). Sem dúvida , essa teoria apresentava grandes vantagens do ponto de vista pedagógico e até parecia ter um fundamento bíblico (6) CONC . TRID. Sess. XXIll , cap. 4 (DS T768) e can. 7 (DS 1777). (7) Sobre a origem da divisão tripartita, cf. J . FUCHS , Magisterium, Ministarium, Regimen. V o m Ursprufig einer «MilMiologítchaii Trilogia, Bonn, 1941 ; ID., Waiheuikrameiitale Grundiagung liirchlieher Rachtsgewait, in Scholasfilc 16 (1941) 496-520. 1 8 5 claro: Mt 28 , 19-20 (8). Mas , do ponto de vista da Teologia dogmá- tica e da Sistemática jurídica, oferecia igualmente não pequenos iriíçonvenientes. Qual era, afinal, a -natureza e o modo de transmissão do poder de magistério? Para muitos parecia ser uma espécie de potestade intermédia, carismática mais do que sacramentai, e dirigida tanto à santificação quanto ao governo dos fiéis. Para fugir a essa indefinição do poder de magisté- rio, a maior parte dos canonistas da segunda metade do século XI X e da primeira do X X acabaram rejeitando a tríplice divisão e voltaram à bipartição entre ordem e jurisdição (9). O" magistério seria apenas um exercício da jurisdição eclesiástica. Justificavam-se assim as licenças que ainda hoje são necessárias para a pregação. Voltavase, porém,'às dificuldades dos sé- culos anteriores, , No momento em cjue começa o Concilio Ecumênico Vaticano II , a distinção -radical entre poder de ordem e poder de jurisdição parece ser um obstáculo para o prgresso' da Teotogia do Episcopado. Com efeito, essa distinção tinha entrado nos documentos rebentes dO' Magistério eclesiástico ordiná rio. Em Pio XI I é'clara a afirmação da transmissão da ' jurisdição por intermédio dó Papa e não direta mente pelo sacramento (10). Os Padres conciliares pretendem solucionar o dilema" mediante a compreer?são'de tôda a realidade ecle- (8) Esse fundamento bíblico não parece ser tão evidente como alguns autores afirmam: Cf. M. VIDAL , íTiiene fundamento biMico Ia ' div&ión trÍDartila de Ia Teologia Pastoral? , em Pentecostés 8 (1070) 3-17. (9) Cf. , p. ex. WERNZ-VIDAL , lus Canonieum, I I , p. 62 ss.; A. OTTAVIANI , Intlítuttones luri s Publici Ecciesiaslici, ed. 4.^, Romae, , 1958, 1. p. 186 ss.; J . FERRANTE , Suinnia luris Constifutionalis Eeclesiae, Romae 1964, pp. 196 ss. 186 sial sob o prisma da sacramentalidade da sua ação. Falar-se-á de "mistério", de "sacramento", de "natureza encarnatória da Igreja", de "caráter teândrico", etc. No fundo, está presente a realidade de uma dupla estrutura eclesial: visível e invisível, jurídica e carismática, humana e divina. Não é que essa dupla estrutura fosse desconhecida anteriormente, mas a união íntima, inseparável, entre os dois elementos não era suficientemente acentuada (11). À luz desta nova compreensão da Igreja, a distinção radical entre ordem e jurisdição não é mais .possível. No "poder de ordem" deve estar presente também um elemento organizativo, social; e »o "poder de jurisdição" não pocíe faltar o elemento sacramentai. Numa linguagem às vezes obscura, que procura evitar as palavras "ordem" e "jurisdição" e até mesmo o termo (10) "(Episcopi) non plane sui iuris sunt, sed sub debita Romani Pontificis auctoritate • positi, quamvts ordinária iurisdictionís potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontífice Summo impertita" ; Ene. Mvstici Corporis , em AA S 35 (1943) 212; "iuris - dictionís autem potestas, quae Supremo Pontifici iure ipso divino confertur, Episcopis ex eodem provenit iure, at nonnísí. per Petri Sucessorem" : Ene. A d Sínarum Gentes efn AA S 47 (1955) 9; "hoc posito, efficitur ut Episcopi nec nominati nec confirmati a Sede Apostólicanuli a fruantur potestate magisterlí et iurisdictionís, cum iurísdictio Episcopi s per unüm Romanum Pontificem obtingat" : Ene. A d Apoitolorum Pincipis , em AA S 50 (1958) 610. O s grifos são meus . (11) Cf. W. BERTRAMS, De constilulione Écclasiae simui charismalica e l inslilulionali, em Periódica 57 (1968) 302 ss. Quase em todos os escritos deste autor iiá úm aceno a essa dupla estrutura. Por isso, não parece haver dúvida quanto à sua contribuição para a redação final do capítulo III e da "Not a explicativa prévia da Const. dogm. lume n Oentium. ' Cf , entre outros, bs' seguintes estudos do citada P. BERTRAMS: De relalione inter Episcopatum et Primatum, Principia philosophica et theologica quibus relatio iuridica fundatur inter officium episcopaje e» primatiale, Romae, 1963;^ De quaestione circa originem potestis iurisdic- . .«ionis Eaiscoperum in Contilio Tridantino non resoluta, em Periódica 52 ,(1963) 45? - 476;'Paps t und Bischâfskollegium ais Trãger der kirchiichen Hirtengewait, Paderborn, 1965. "poder", o Capítulo III da "Lumen Gentium" e a sua "Nota explicativa prévia " nos falam da participa- ção ontológica nos múnus sagrados através da sagração episcopal. Pensava-se assim poder explicar facilmente as relações entre os membros do Colégio episcopal e o Romano pontífice. Na realidade, porém, atingia-se também a questão da diferença entre bispos e presbíteros. Não há dúvida que o Concilio realizou um grande avanço, mas ainda deixou alguns pontos obscuros e não poucas ambigüidades, principalmente em relação à essa última questão. Procuremos, portanto, tirar as conseqüências da doutrina conciliar. A base para a compreensão do sacerdócio cristão, neste como em qualquer outro aspecto, é a vida e a obra de Cristo. Dêle deriva todo poder, porque a Êle foi entregue pelo Pai (12). É, portanto, no Cristo onde poderemos encontrar o modelo para a interpretação do poder eclesiástico. E o que encontramos aí? Cristo é envjado pelo Pai (13). Mas, simultâne^ente , é ungido pelo Espírito Santo (14). Do mesmo modo, Êle envia ôs Apóstolos (15) e lhes concede'ou promete para o futuro a unção do Espírito Santo (16). Nestes textos, aparece claro que missão e consagração, embora separaveis, è até mesmo conferidas em ocasiões diversas, estão sempre em íntima relação. Cristo, que iá desde o início recebeu a sua missão, não começa a sua "pregação do Reino", quer dizer a rea- (12) Cf. M l 28 18. (13) Jo 20, 21 . Aliás , em todo o Evangelho de S. João é um tema constante a missão do Filho, que é enviado ao mundo pelo Pai. (14) Cf. Lc. 4, 18s. e os relatos do batismo de Jesus . (15) Jo 20, 21 ; Mt 23 , 19-20; Mc 16, 15-18. (16) Lc 24, 49 ; Jo 14, 16-17; 20,22; At 7, 5.8. iização estrita da sua missão, senSo depois da unção visível pelo Espirito, no momento do batismo. Por sua vez , os Apóstolos recebem a ordem de não se empenharem diretamente na missão até não terem recebido a consagração interior do Paráciito (17). É claro que a missão, a ordem externa pela qual alguém é enviado, representa um elemento organizativo. Na compreensão humana, é a autoridade quem dá o mandato, quem envia. E, no caso dos Apóstolos, essa autoridade é o pró- prio Cristo, que manifesta claramente a sua vontade. Por sua vez , a santificação ou consagração é um elemento fundamentalmente interno e invisível. Mas aqui, ao igual que em tôda a ordem derivada do Encarnação, os elementos divinos e humanos, internos e externos , não aparecem separados, desunidos. A missão é externa, mas a autoridade que a confere é divina. A un- ção do Espírito é interna, mas é realizada mediante um rito externo (18), e se destina a completar a missão recebida. Porém, a tarefa a realizar não está dividida; é única como único é o Espírito que a deve dirigir. Há, em principio, uma única missão, e há um único grande missionário: o Colégio apostólico, depositário do mandato de Cristo e transmissor do único Espirito (19). Daí se derivam os dois grandes princípios que o Vaticano II enunciou no capítulo III da tumen Gentium: a colegialidade e a'sacra - mentalidade do Episcopado. Não (17) Lc 24 , 49; A t 1, 4. (18) Cf. Jo 20, 22 ; At 6,6; 9, 17; 13, 2-3. (19) ".. . quos Apóstolos (cf. Lc 6,13) ad modum çòllegii sçu coefus stabilis instifuit.. . Eos ad filios Israel primum et ad omnes gentes misit (cf. Rom 1, 161" : Const. dogm. de Ecciesia lume n Gentium, n. 19. r 8 7 há, não pode haver na Igreja um ministério individual, indeperidente da comunhão eclesial. Quem se coloca voluntariamente contra a ordem estabelecida por Cristo, como participará da sua missão e do seu Espírito? É na comunhão do Colégio que todos os ministérios encontram a sua unidade. E é na imposição das mãos pelos membros do Colégio, seguindo o exemplo dos Apóstolos, que o Espírito nos é dado para a edificação do Corpo de Cristo. Essa comunhão, de origem sacramentai, mas de conseqüências sociológicas e organizativas, é o ponto de encontro do visível e do invisível, do divino e do humano, no ministério eclesial (20). De acordo com os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, o Colégio apostólico começa a realizar a sua missão unido como um todo, como um conjunto. A dé-> da unidade da tarefa a realizar parece ocupar naqueles momentos o primeiro plano. Mas a mesma dinâmica da vida da Igreja deveria, mais tarde, levar necessariamente ao reconhecimento da multiplicidade implícita nessa unidade. Surge assim, em primeiro lugar, o problema da limitação das forças dos Doze, que os leva a impor as mãos aos sete varões que deverão encarregar-se da assistência aos indigentes (21). Apresenta-se depois a necessidade de espalhar a boa nova além dos limites restritos de Jerusalém e, conseqüentemente, a desagregação dos Doze, que passam a viver dispersos, sem, contudo, romperem a sua unidade na comunhão. Há, enfim — com o (20) O caráter social dos sacramenots (portanto, também do sacramento da ordem) é frisado no n.o 7 da lumen Gentium. (21) At 6, 1-7. 188 decorrer dos anos — o avizinhar-se da morte e o crescimento da consciência de que o ministério não poderá desaparecer com a passagem do Apóstolo. Seus colaboradores deverão continuar a sua tarefa (22). Nesse contexto histórico, a Igreja primitiva viveu uma realidade antes de refletir sobre ela. Essa realidade pode-se resumir em três frases: unidade da missão encomendada por Cristo; sacramentalidade da inserção no Colégio apostólico, através da imposição das mãos; multiplicidade de ministé- rios, explicitada de acordo com as circunstâncias e necessidades das comunidades locais. A unidade nos fala da comunhão eclesial; a sacramentalidade nos mostra a união entre o visível e o invisível na sucessão apostólica; a multiplicidade, enfim , nos indica um certo poder da Igreja sobre os sacramentos. Nas primeiras comunidades cristãs, não só a diversidade de nomes (apóstolos, colaboradores, enviados , evangelistas, profetas, bispos, presbíteros, guias, diretores, pastores, presidentes. . .) , mas também a falta de diferenciação clara das diversas funções, nos está indicando a multiplicidade potencial do ministério eclesial (23). Num tempo relativamente breve, essa multiplicidade acaba enquadrando-se no (22) Cf. , por exemplo, 2, Tim 4, 5-8 e as passagens finais das Epístolas do cativeiro. A Const. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium ensina o mesmo no seu número 20: (Apostou) "non solum.. . vários adíutores in mi - nistério habuerunt, sed ut missio ipsis concredita post eorum mortem continuaretur, cooperatoribus suis immediatis , quasi per modum testamenti, demandaverunt munus perficiendi et confirmandi opus ab ipsis inceptum" . (23) Entre os múltiplos estudos sabre este ponto, podemos destacar: MANUE L GUERI^A GO - MEZ, I a Colegialidad en Ia conttitueiin jerárquica y en el gobiarno da la> primerat comunidades cristianas, na obra coletiva El Colégio Episcopal, Madrid, 1964. tríplice esquema, hoje tão conhecido para nós: episcopado, presbiterato e diaconato. Tão acostumados estamos a esse esquema, que nem sequer nos apresentamos a questão da sua reformabilidade. Contemplando, po- • rém, a evolução histórica a que temos feito referência, manifestase-nos um primeiro problema. Nas comunidades cristãs primitivas, o único ministério apostólico se desdobrou, sob o impulso das circunstâncias e necessidades pastorais, até chegar a cristalizar nos três graus da chamada "hierarquia de ordem". Conserva a Igreja, ainda hoje, a capacidade de desenvolver em formas novas as virtualidades do sacramento da ordem? Quer dizer, poderia ela, no nosso tempo, estabelecer novos modos de participação no sacerdócio ministerial que foi confiado ao Colégio apostólico? Dificilmente se poderá negar essa possibilidade se se considera que o exclusivismo da nossa organização atujl não parece ser um dado dos primeiros tempos do Cristianismo, mas apenas um fruto da era pós-apostólica. A s declara- ções do Concilio de Trento, que afirmam uma hierarquia de ordem, estabelecida por instituição divina (24), não constituem nenhuma dificuldade, pois, de modo algum, afirmam que os diversos graus procedam imediatamente de Cristo, nem que todas as virtualidades do sacramento da ordem fiquem esgotadas na trilogia "bispos , presbíteros e ministros". Não é nenhuma novidade a teoria da instituição apenas genérica do sacramento da ordem por Cristo. A literatura canônica e teológica a (24) CONC . TRID. jess . XXIll : Decr. de sacram. ordinis , especialmente o cap. 4 e o cânon 6: DS 17Ó8, 1776. este respeito é grande (25). Dividem-se, porém, os autores quando se trata de determinar se após a fixação dos três graus conhecidos é ainda possível uma ordenação diferente do ministério eclesial. E a verdade é que não há nenhum argumento convincente. Se, como parece, a distinção clara entre bispos, presbíteros e diáconos é apenas pós-apostólica, não se pode dizer que pertença ao núcleo da revelação, que ficou encerrada com a morte do último Apóstolo. O Colégio apostólico, primeiramente, e o Colégio episcopal depois, foram chamando homens que, em diversos graus e de diversos modos deveriam colaborar na missão única, ou continuá-la. Essa participação não parece ser, na consciência dos primeiros séculos cristãos, uma entrega parcelada de podêres que só através de etapas sucessivas possam ser alcançados. O ministério nos aparece dividido não em degraus que devam ser escalados progressivamente, mas em modos de participação, em tarefas especializadas, em missões a cumprir dentro da grande missão. Os exemplos de ordenações "pe r saltus" não são raros, nem levantaram maiores problemas teológicos (26). Em tôda ordenação de diácono, presbítero ou bispo há, fundamentalmente, uma inserção nessa grande missão do Colégio; há — valha a expressão — uma "incardinação" não nesta ou naquela diocese, mas no Colégio episcopal, depositário e transmissor (25) Pode consultar-se uma lista bastante completa no trabalho de ANTÔNI O MOSTAZ A RODRIGUEZ , Poderes episcopales y pretbi - terales, em La Función pastoral de los ©bis - pos , XI Semana espanola de Derecho canónico, Salamanca 1967. (26j É típico, a este respeito, o caso dos papas. Cf. MICHE L ANDRIEU , La urrièr e eeclesiastiqua des papes du moyen tge , em Rev. des Sciences rei. 27 (1947) 90-120. 189 do mandato de Cristo. Por isso, a Lumen Gentium pôde afirmar que "todos os sacerdotes. . . estão unidos com o Corpo dos Bispos e, segundo sua vocação e graça, devem servir ao bem de tôda a Igreja" (27). Em tôda ordenação há, portanto, já uma missão. Ordenação e missão aparecem tão intimamente unidas nos primeiros séculos que nem se cogita na sua pogsível separação. Daí que os clérigos sejam sempre ordenados relativamente, quer dizer destinados já a um ministério particular: a uma diocese, a um "título" ou a uma diaconia concretos e determinados (28). A participação de, pelo menos, três bispos na sagra- ção episcopal, que nos é apresentada em Nicéia como lei universal e tradicional (29), dá , por sua vez , o sentido da universalidade, da participação na missão única do Colégio através do rito sacro do sacramento da ordem. Quando, a partir da Alta Idade Média, começam a generalizar-se na Igreja as ordenações absolutas, sem referência explícita a um ofí- cio determinado, o pensamento teológico procura uma justificação (27) Consf. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. (28) Essa disciplina foi rigorosamente observada durante os, quatro primeiros séculos. Aos poucos , caiu em desuso; mas para a Igreja Romana airida era lei, nos fins do século IX, e a sua inobservância deu lugar aos conhecidos episódios relacionados com a elevação de Formoso (891-896) ao Pontifi - , cado. Tão forte era a união entre o ordenado e ofício a que se destinava que c próprio Concilio Ecumênico de Nicéia consi - dera como absolutamente nula qualquer trasladação a outra diocese, título ou diaconia. Cf. CONC . NICAEN . 1, can. 15: ".. . si qui s vero,. . tale quid agere temptaverit.. . hoc factum prorsus in irritum deducatur et restituatur eeclesiae, cui fuit episcopus , presbyter aut diaconus órdinatus" : em Conci - líorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc, p. 12. (29) Cf. CONC . NICAEN . I, can. 4, em Concí - liorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc), Friburgi 1962, pp. 6-7. i9Ó teórica para o fato d a aparente separação radical e adequada das duas realidades que virão a receber o nome de ordem e jurisdição. Surgirá assim a teoria a que fazíamos referência no começo deste artigo. A ordenação conferiria somente o poder de ordem, sacramentai, de santificação; poder que deveria ser completado em todos os casos nos quais o seu exercício atinge diretamente os indivíduos (os "súditos", como costumava dizer-se). Por isso, a confissão "sem jurisdição" seria nula, mas a celebração da Eucaristia — que atua diretamente sobre a realidade divina do Corpo de Cristo e só indiretamente sobre os fiéis — seria sempre válida. A jjjrisdição, distinta e separável do poder de ordem, se transmitiria e seria, até certo ponto, independente da ordenação sacerdotal. Esta teoria parecia mais cômoda enquanto permitia explicar a diferença entre bispos e presbíteros, sem aumentar o nú- mero dos sacramentos e nem sequer recorrer à concepção da diversidade de graus no sacramento da ordem. A verdadeira, a única ordenação sacerdotal, seria ó presbiterato. Bispos e presbíteros diferenciar-se-iam apenas no poder de jurisdição (30). J á temos falado, anteriormente, das dificuldades que essa teoria apresenta. Vejamos ainda uma outra. Na realidade, a distinção radical entre ordem e jurisdição e a negação da multiplicidade contida no sacramento da ordem, em lugar de explicar, obscureciâ a distinção entre bispos e presbíteros. Perante um bispo titular sem (30) Entre os autores mais recentes partidários dessa teoria, pode destacar-se J . BEVÉR, Nature et position du iacerdoce, em Nouv. Rev. Théol. 86 (1954) 356-373; 469-480. nenhuma função especial numa diocese, deveríamos dizer que se encontra "degradado" à condição de presbítero? E, por sua vez , um presbítero que, como no caso dos prelados "nuliius", dos administradores apostólicos, dos vigários capitulares ou dos prefeitos apostólicos, governasse de fato uma diocese ou um território afim, poderia dizer-se que tinha sido "elevado" à categoria de bispo? Pôr causa das dificuldades apontadas, o Concilio Vaticano II abandonou a velha terminologia e fala não de "ordem" e "jurisdição", mas do tríplice "múnus " de ensinar, santificár e governar, cuja participação ontológica é conferida aos bispos na sagração episcopal. Os três múnus têm, portanto, uma base sacramentai, uma estrutura interna anterior à sua manifestação externa, à sua atuação no contexto social da Igreja. Mas se isso é verdade para os bispos, deve sê-lo igualmente para os presbíteros, que também recebem o sacramento da ordem, embora em forma diferente. Os presbíteros não são chamados "participantes do sacerdócio dos bispos", mas do único sacerdócio de Cristo (31). Daí que, também para êles , ps podêres de ensinar, santificár e governar tenham o seu apoio, a sua base ontológica, na ordenação recebida. A mudança de terminologia no Concilio é evidente. Trata-se, poréni, também de uma mudança de doutrina? Ou melhor, de uma volta a uma doutrina esquecida: a da sacramentalidade radical do poder eclesial? Assim parece ser. Contudo, nem todas as dificuldades fo- (31) ".. . (Presbyteri). consecranfur, ut veri sa- . cerdotes Novi Testamenti Muneri s unici Me-, diatoris Christi (1 Tim 2,5) participes in suo ' . gradu ministérii" : Const. dogm, de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. ram resolvidas. Os "múnus", afirma o Concilio, são conferidos na ordenação sagrada; mas devem ser exercidos na "comunhão hierárquica" (32). Não está aqui ainda escondida a distinção entre ordem e jurisdição? Pelo menos uma reminiscência dela é clara. De fato, a relação da comissão sobre o modo 39 afirma que a restrição da necessidade da comunhão para o exercício dos múnus episcopais se refere unicamente aos de ensinar e reger, não ao de santificár. Èm outras palavras , o múnus de santificár (antigo "poder de ordem") já estaria expedito para a ação pélp fato da simples sagração episcopal, enquanto os múnus de ensinar e governar (antigo "poder de jurisdição") deveriam ser completados pela "comunhão hierárquica" (33). Se fôssemos tirar as conseqüências lógicas dessa explicação dada na aula conciliar, teríamos que concluir que o poder de santificár é sempre vàlidamente exercido; ó que não acontece com os de ensinar e governar. E não era èssá a doutrina "pré-conciliar" das duas potestades? Colocada, porém, a premissa da unidade do ministério em Cristd, tem sentido um poder sacramentai exercido totalmente fora da comunhão eclesial? A necessidade dessa comunhão não me parece que: se possa justificar apenas pela exigência da determinação dos súdir tos sobre os quais o ministério deva ser exercido. Pelo contrário, a comunhão hierárquica é uma con- (32) C{. Const. dogm. de Ecciesia-^luiniM -.âmr tium, n. 21 . (33) (Textus approbatus) "affirmàt cohsècfationô conferri, cum munere sanctificandl,^- ^çtlam munera regendi ac.docendi ; curn hac qui - dem restrictione, quod haec ultim a extra communionem exercteri non possunt" : Responsió ad modurti 39, âp. J . Aí. RAMIREZ, De Epiacopatu u t sacramentp deqúe epii ? coporum collegio, Salmanticae 1966, p. 55 , Í91 seqüência da estrutura social de todos os sacramentos, incluído o da Eucaristia. Êles são ações "da Igreja", realizadas "na Igreja". O caráter indelével do sacramento da ordem é, sem dúvida , um dado certo da tradição cristã, mas é igualmente certo que a ordenação é uma realidade destinada a ser exercida numa comunidade local, dentro da comunidade universal que é a Igreja. Colocar-se fora ou contra esta privaria de sentido a atuação do poder de santificár. A Eucaristia, sinal e causa eficaz da unidade dos irmãos em Cristo, teria algum sentido se fosse celebrada por alguém que rompeu por inteiro essa unidade? É evidente que um raciocínio que logicamente leva à admissão da irritabilidade do poder de santificár causa pelo menos perplexidade. Mas não me parece que as dificuldades que daí se derivam sejam insalváveis. As reflexões expostas até aqui constituem a base para a formula- ção de algumas hipóteses sobre o ministério presbiteral e a sua rela- ção com o episcopado. Não me atrevo a dizer que elas tenham sido perfeitamente provadas , mas me parece que constituem a explicação mais coerente dos ensinamentos do Concilio e dos fatos que a História da Igreja nos transmitiu. Eis, pois, as minhas conclusões: 1) A diferença entre bispo e presbítero não pode descansar unicamente numa jurisdição extrasacramental, que era desconhecida na primitiva Igreja e que pugnaria com a própria economia da salva- ção, onde os elementos interno e externo vão sempre unidos. Essa diferença tem a sua base no pró- prio sacramento da ordem. O presbítero, pela ordenação, passa a participar da missão única do Co- 192 légio apostólico; não como titular desse Colégio, mas como o seu auxiliar e subordinado. O bispo, pelo contrário, é membro pleno, continuador do ministério apostó- lico, presencializador na comunidade local de tôda a obra de Cristo e co-responsável na comunidade universal da tarefa primitivamente encomendada aos Doze. 2) Os podêres do presbítero são variáveis e, de fato, variaram ao longo da História, porque o Colégio episcopal pode escolher os seus auxiliares com finalidades diversas , de acordo com as circunstâncias e necessidades da Igreja. A tradição eclesiástica reservou o nome de presbítero para aqueles que foram chamados a colaborar diretamente no q/^erecimento do único sacrifício def Cristo. Daí o nome de sacerdotes pelo qual também são conhecidos. Quanto à administração de outros sacramentos (sobretudo crisma e ordem) o Colégio pode chamar para colaboração maior ou menor. E, precisamente porque o Colégio dos bispos quer conceder estes e não outros podêres, concede-os, de fato, porque êle é o titular da missão e o encarregado de arbitrar os meios necessários para o cumprimento dela. Não se esque- ça: a missão do Colégio é originá- ria, enquanto a dos presbíteros é derivada. 3) O que se afirma dos presbíteros pode ser aplicado — corri as devidas correções — aos diáconos. Também êles foram chamados a colaborar com o Colégio episcopal , mas apenas no plano do ministério e não no do sacerdócio. Aliás , a Igreja — sempre através do Colégio — poderia estabelecer novas e.cambiantes formas de participação na sua tarefa, a serem construídas sobre a base do sacramento da ordem. A função deste sacramento é, portanto, agregar alguém, como membro ou como colaborador, ao Corpo episcopal. 4) O exercício dos podêres conferidos na ordenação, de acordo com a própria natureza da Igreja e da missão, encomendada não a indivíduos isolados mas a um corpo, exige a comunhão eclesial. Mas essa comunhão não pode ser concebida como mero elemento jurídico externo e sim como expressão de uma vida íntima de união na fé , na esperança e na caridade. Ora , assim como a união intencional admite diversos graus , é também possível uma comunhão eclesial limitada e gradual, que dê sentido à ação do ministro, mesmo quando externamente êle se encontre fora ou à margem da comunidade. Aí estaria a explicação da validade do ministério dos orientais separados (inclusive no caso da crisma). 5) Poderia ser irritado ou tornado nulo, o poder já concedido pela ordenação ê pela comunhão com o Colégio? Não se vê como negar essa possibilidade, considerando que o próprio Colégio episcopal é capaz de retirar radicalmente a comunhão com indivíduos ou grupos determinados. Mas , nessa perspectiva, não se pode manter a distinção tradicional entre ordem e jurisdição, porque tôda ação ministerial, mesmo a celebração eucarística, deve realizarse nesse quadro da comunhão eclesial. A natureza sacramentai da Igreja, como conjunto, leva, ao meu modo de ver, a esta conclusão. É verdade, porém, que tradicionalmente se vem afirmando que a Eucaristia é válida em todo caso, sempre que o ministro fôr ordenado e tiver a intenção de celebrar. Mas , isso é conseqüência de uma necessidade intrínseca, nascida da própria ordenação, ou do fato de o Colégio episcopal não ter querido negar nunca a comunhão mínim a , imprescindível para que essa Eucaristia seja uma realidade eclesial? 6) Finalmente, a terminologia atual pode induzir a erro. Principalmente porque reserva o nome de sacerdote para os presbíteros. Os sacerdotes do Novo Testamento são, fundamentalmente, os membros plenos do Colégio episcopal, porque a êles foi encomendada diretamente a tarefa de perpetuar a ação sacerdotal de Cristo. Os presbíteros são, como o Vaticano II os chama, sacerdotes "em grau subordinado" (34), cuja ação fora ou contra a comunhão do Colégio episcopal perderia todo o seu significado eclesial. (34) CONC . OECUM , VAT . II , Decr. de Presbyterorum ministério et vita, Presbyterorum ordinis , n. 2 . 193 Bispo s e Presbíteros: Aspectos sacramentais e organizativos do ministério eclesial Jesu s Hortal , S . J . Thi s articl e mtend s t o dra w th e consequence s ou t o f t h e teaching s o f Vaticãn I I Counci l abou t th e sacramen - talit y o f th e episcopacy . Fro m th e fac t tha t th e tradltíon a l theor y abou t th e distinctio n betwee n orde r powe r a n d jurisdictio n powe r canno t an y longe r b e interprete d a s a basi c an d adequat e divisio n òf th e cburc h ministry , i t look s fo r a sur e bas e fo r th e realit y -wel l knox ^ a s traditiona l o f th e thre e form s I n whic h th e hol y order s a r e conferred : episcopacy , priesthoo d an ^ de^co^ship . A rapi d historica l visio n examine s th e diffèrent theorie s buit t b y canonist s an d theblog^ians , i n orde r t o expláin t h e realit y live d b y th e Church . Base d o n th e counci l texts , i t trie s t o understan d the , sacre d minístry a s a continuatio n o f th e uniqu e missio n transmitte d to th e apostle s b y Christ , thrdug h a n insertio n i h th e episcopa l coUege . , Communio n — no t "jurisdiction " seem s t q b e th e basi c concep t fo r th e Characte r receive d it i ordination . Finally , ther e ar e expresse d a serie s óf hypothese s base d o n |h e previou s analysi s abou t th e distinctio n betwee n bishop s an d priests , abou t th e variou s saçred powers , abou t a possibl e dlvisio n o f th e Sacraínent o f Hòly Órder, abou t th e diffèrent grade s o f tlíe sacreá ministry , abou t t h e possibl e "irritation " o f th e poWér t o sanctify , an d abou t th e convenienc e o f modifyin g th e presen t termino - logy . Na realidade eclesial concreta em que vivemos , nos encontramos com três tipos plenamente diferenciados de ministérios, dentro do que costumamos chamar de "sacramento da ordem": bispos, presbí- teros e diáconos. Ainda que as três, denominações apareçam já na Escritura, a sua distinção clara é testemunhada a partir do século II. Isso vale principalmente para as Igrejas da Ásia Menor, onde a hierarquia tripartita é considerada por Santo Inácio de Antioquia como j organização natural e comum das cornunidades cristãs. Mas se a distinção é conhecida,já naqueles tempos primitivos, a reflexão teológica que.lh e pretendeu dar um fundamento foi elaborada tardiamente e com vacilações. Construiuse., primeiramente, a teoria da distinção de potestades ou do dú- plice poder; de ordem e de jurisdi- ção. O poder de ordem seria plenamente divino, transmissível 183 diretamente pelo sacramento, dirigido à santificação interna dos fiéis , e, uma vez conferido, subtraí- do, quanto à validade, ao domínio da Igreja. O poder de jurisdição, pelo contrário, teria muito de humano, transmitir-se-ia por delega- ção pontifícia e até (pelo menos parcialmente) sem necessidade da base sacramentai, estaria dirigido ao governo externo da sociedade eclesial, e poderia ser invalidado, em todo ou em parte pela autoridade competente. Elaborada pelos canonistas dos séculos XI-XII , esta distinção penetrou profundamente na Escolástica, devido, em grande parte, à autoridade de S. Tomás , que a adotou, com a célebre terminologia de "potestas in Corpus Christi verum " (poder de ordem) e "potestas in Corpus Christi mysticum" (poder de jurisdição) (1). Mas este modo de ver as coisas tem um inconveniente fundamental: a separação quase total dos dois elementos que correm sempre unidos na Igreja: o divino e o humano (2). Ora , a fórmula do Calcedonense — "inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter" (3) percorre toda a realidade derivada da Encarnação. Pretender separar os elementos divinos e humanos é tanto como destruir a ordem inaugurada pelo Homem-Deus. Na prática, aliás, a distinção entre ordem e jurisdição não era tão fácil como podia parecer à primeira vista. Afirmava-se — e o mesmo S. Tomás é testemunha disso — que os bispos e os (1) . Cf. S. Th. Il-llae, q. 184, a. 6, ad 1 ; III , q. 67, a. 2, ad 2 ; 111, q. 82, a. 1, ad 4. (2) Cf. CONCIUU M OECUMENICU M VATICA - N UM II, Const. dogm. de Ecciesla, Lumen Génlium , n. 8. (3) DS 302. 184 presbíteros diferiam apenas no poder de jurisdição e não no de ordem (4). As dificuldades, porém, que se derivavam dessa distinção não podiam ser ignoradas. Sobretudo nos casos da administração dos sacramentos da crisma e da ordem eram particularmente perturbadoras. A confirmação, com maiores ou menores restrições, foi administrada por presbíteros durante toda a História da Igreja. As ordenações, pelo menos em alguns casos (5), foram também conferidas por simples sacerdotes. Onde estava, pois, a distinção entre bispos e padres? No poder de ordem? Por que, então, os dois únicos sacramentos citados sempre como prova podjam ser administrados, vàlidamente, pelo menos em certos casos, por presbíteros? Se faltava a base sacramentai, não se v ê como podia ser suprida por uma simples delegação humana. Se, pelo contrário, com S. Tomás, se pensava no poder de jurisdição, como base da distinção entre presbíteros e bispos, devia explicar-se porque a Igreja considerava como (4) "A d quartum dicendum quod episcopus accipit potestaten ut agat in persona Cliristi supra corpus eius mvsticum: idest super Ecclesiam: quam quidem potestatem non accipit sacerdos in sua consecratione, licet possit eam habere ex episcopi commissione. Et ideo ea quae non pertinent ad disposi - tionem cornoris mvstici, non reservantur eoiscopo" (S. Th. 111, q. 82, a. I, ad 4). Cf. também; In IV Sen», d. 7, q. 3, a. 1 co. 2, ad 3; d. 24, q. 3, a. 2, col. 2-3; S. Th. ll-llae q. 184, a. 6, ad 1 ; III q. 65, a. 3, ad 2 ; q. 67, a. 2; q. 82, a. 1, ad 4 e a. 3 , ad 3. Não deve esquecer-se, porém, que o mesmo S. Tomás parece inclinar-se, nas suas últimas obras , por uma distinção entre bispos e nresbíteros baseada não apenas na diversa "jurisdição" . Cf. De perf. vitae spir., c. 24, n. 715. (5) Cf. BONIFAT . IX, Bulla Sacra* raliglonis, DS 1145; MARTIN. V . Bulla Gerantas ad vos , DS 1290; INNOCENT . VIII , Bulla Exposcit tua * d*votionis , DS 1435. O recurso fácil à negação da autenticidade destes d» , cumentos , que costumava empregar-se nos nossos manuais de Teologia, não é mais possível depoi s que foram descobertos o i originais conservados no Arquivo Vaticano. inválidas — e não apenas como ilícitas — as confirmações e ordenações realizadas por sacerdotes não autorizados. Para fugir a essas dificuldades foram elaboradas diversas teorias. Pensou-se, em primeiro lugar, numa irritação eclesiástica do poder sacramentai. Mas , por que essa irritação era possível nos casos da crisma e da ordem e não no da eucaristia? De fato, a Igreja considerou sempre como válida — embora ilícita — a celebração eucarística dos presbíteros que se encontram fora da comunhão eclesial, enquanto que ordenações e crismas, realizadas por padres incensurados mas não autorizados, eram dadas como inválidas. Falou-se, então, de um poder delegado de ordem. Os presbíteros não possuiriam, em virtude da própria ordenação, a faculdade de administrar os dois sacramentos citados, mas a Igreja, através dos bispos ou do papa, poderia delegar-lhes esse poder. A teoria ia , porém, diretamente contra a base da distinção entre ordem e jurisdi- ção. O poder de ordem era , como dizíamos, sacramentai, conferido diretamente por Deus, dirigido à santificação dos indivíduos e, por isso, subtraído radicalmente ao domínio da sociedade eclesial. Mas poder delegado de ordem significa algo social, regulável à vontade da autoridade humana, não conferido diretamente por Deus. Aliás , se, mediante uma simples delegação, os presbíteros podiam obter todas as faculdades dos bispos, para que servia a sagração episcopal? A única saída possível parecia a negação da distinção de graus dentro do sacramento da ordem. O presbiterato seria a ordenação propriamente dita. Bispos e padres seriam completamente iguais no plano da ordem, diferindo apenas no plano da jurisdição. A eucaristia não poderia ser nunca invalidada porque a consagração não atua diretamente sobre os súditos da Igreja. As ordenações e a crism a , pelo contrário, exigem necessariamente um sujeito que, por definição, deve ser súdito da Igreja. Ora , ela poderia assiná-lo ou não a tal sacerdote concreto, conferindo ou negando a validade desses sacramentos. O resultado, porém, desta teoria foi uma enorme casuística sobre designação de súditos, subordinação de uns ministros a outros, liceidade, iliceidade ou iterabilidade dos sacramentos. No tempo do Concilio de Trento, a questão da distinção entre bispos e presbíteros se apresentava tão complicada que os padres conciliares não se atreveram a resolvê-la, contentando-se apenas com afirmar a superioridade dos bispos sobre os presbíteros, mas sem fornecer a razão intrínseca dela (6). A distinção entre ordem e jurisdição sofreu os primeiros embates quando, nos fins do século XVIII , alguns teólogos e canonistas católicos começaram a aceitar a doutrina protestante dos tempos do lluminismo sobre a divisão tripartita do poder eclesial: santificação, magistério e regime (7). Sem dúvida , essa teoria apresentava grandes vantagens do ponto de vista pedagógico e até parecia ter um fundamento bíblico (6) CONC . TRID. Sess. XXIll , cap. 4 (DS T768) e can. 7 (DS 1777). (7) Sobre a origem da divisão tripartita, cf. J . FUCHS , Magisterium, Ministarium, Regimen. V o m Ursprufig einer «MilMiologítchaii Trilogia, Bonn, 1941 ; ID., Waiheuikrameiitale Grundiagung liirchlieher Rachtsgewait, in Scholasfilc 16 (1941) 496-520. 1 8 5 claro: Mt 28 , 19-20 (8). Mas , do ponto de vista da Teologia dogmá- tica e da Sistemática jurídica, oferecia igualmente não pequenos iriíçonvenientes. Qual era, afinal, a -natureza e o modo de transmissão do poder de magistério? Para muitos parecia ser uma espécie de potestade intermédia, carismática mais do que sacramentai, e dirigida tanto à santificação quanto ao governo dos fiéis. Para fugir a essa indefinição do poder de magisté- rio, a maior parte dos canonistas da segunda metade do século XI X e da primeira do X X acabaram rejeitando a tríplice divisão e voltaram à bipartição entre ordem e jurisdição (9). O" magistério seria apenas um exercício da jurisdição eclesiástica. Justificavam-se assim as licenças que ainda hoje são necessárias para a pregação. Voltavase, porém,'às dificuldades dos sé- culos anteriores, , No momento em cjue começa o Concilio Ecumênico Vaticano II , a distinção -radical entre poder de ordem e poder de jurisdição parece ser um obstáculo para o prgresso' da Teotogia do Episcopado. Com efeito, essa distinção tinha entrado nos documentos rebentes dO' Magistério eclesiástico ordiná rio. Em Pio XI I é'clara a afirmação da transmissão da ' jurisdição por intermédio dó Papa e não direta mente pelo sacramento (10). Os Padres conciliares pretendem solucionar o dilema" mediante a compreer?são'de tôda a realidade ecle- (8) Esse fundamento bíblico não parece ser tão evidente como alguns autores afirmam: Cf. M. VIDAL , íTiiene fundamento biMico Ia ' div&ión trÍDartila de Ia Teologia Pastoral? , em Pentecostés 8 (1070) 3-17. (9) Cf. , p. ex. WERNZ-VIDAL , lus Canonieum, I I , p. 62 ss.; A. OTTAVIANI , Intlítuttones luri s Publici Ecciesiaslici, ed. 4.^, Romae, , 1958, 1. p. 186 ss.; J . FERRANTE , Suinnia luris Constifutionalis Eeclesiae, Romae 1964, pp. 196 ss. 186 sial sob o prisma da sacramentalidade da sua ação. Falar-se-á de "mistério", de "sacramento", de "natureza encarnatória da Igreja", de "caráter teândrico", etc. No fundo, está presente a realidade de uma dupla estrutura eclesial: visível e invisível, jurídica e carismática, humana e divina. Não é que essa dupla estrutura fosse desconhecida anteriormente, mas a união íntima, inseparável, entre os dois elementos não era suficientemente acentuada (11). À luz desta nova compreensão da Igreja, a distinção radical entre ordem e jurisdição não é mais .possível. No "poder de ordem" deve estar presente também um elemento organizativo, social; e »o "poder de jurisdição" não pocíe faltar o elemento sacramentai. Numa linguagem às vezes obscura, que procura evitar as palavras "ordem" e "jurisdição" e até mesmo o termo (10) "(Episcopi) non plane sui iuris sunt, sed sub debita Romani Pontificis auctoritate • positi, quamvts ordinária iurisdictionís potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontífice Summo impertita" ; Ene. Mvstici Corporis , em AA S 35 (1943) 212; "iuris - dictionís autem potestas, quae Supremo Pontifici iure ipso divino confertur, Episcopis ex eodem provenit iure, at nonnísí. per Petri Sucessorem" : Ene. A d Sínarum Gentes efn AA S 47 (1955) 9; "hoc posito, efficitur ut Episcopi nec nominati nec confirmati a Sede Apostólicanuli a fruantur potestate magisterlí et iurisdictionís, cum iurísdictio Episcopi s per unüm Romanum Pontificem obtingat" : Ene. A d Apoitolorum Pincipis , em AA S 50 (1958) 610. O s grifos são meus . (11) Cf. W. BERTRAMS, De constilulione Écclasiae simui charismalica e l inslilulionali, em Periódica 57 (1968) 302 ss. Quase em todos os escritos deste autor iiá úm aceno a essa dupla estrutura. Por isso, não parece haver dúvida quanto à sua contribuição para a redação final do capítulo III e da "Not a explicativa prévia da Const. dogm. lume n Oentium. ' Cf , entre outros, bs' seguintes estudos do citada P. BERTRAMS: De relalione inter Episcopatum et Primatum, Principia philosophica et theologica quibus relatio iuridica fundatur inter officium episcopaje e» primatiale, Romae, 1963;^ De quaestione circa originem potestis iurisdic- . .«ionis Eaiscoperum in Contilio Tridantino non resoluta, em Periódica 52 ,(1963) 45? - 476;'Paps t und Bischâfskollegium ais Trãger der kirchiichen Hirtengewait, Paderborn, 1965. "poder", o Capítulo III da "Lumen Gentium" e a sua "Nota explicativa prévia " nos falam da participa- ção ontológica nos múnus sagrados através da sagração episcopal. Pensava-se assim poder explicar facilmente as relações entre os membros do Colégio episcopal e o Romano pontífice. Na realidade, porém, atingia-se também a questão da diferença entre bispos e presbíteros. Não há dúvida que o Concilio realizou um grande avanço, mas ainda deixou alguns pontos obscuros e não poucas ambigüidades, principalmente em relação à essa última questão. Procuremos, portanto, tirar as conseqüências da doutrina conciliar. A base para a compreensão do sacerdócio cristão, neste como em qualquer outro aspecto, é a vida e a obra de Cristo. Dêle deriva todo poder, porque a Êle foi entregue pelo Pai (12). É, portanto, no Cristo onde poderemos encontrar o modelo para a interpretação do poder eclesiástico. E o que encontramos aí? Cristo é envjado pelo Pai (13). Mas, simultâne^ente , é ungido pelo Espírito Santo (14). Do mesmo modo, Êle envia ôs Apóstolos (15) e lhes concede'ou promete para o futuro a unção do Espírito Santo (16). Nestes textos, aparece claro que missão e consagração, embora separaveis, è até mesmo conferidas em ocasiões diversas, estão sempre em íntima relação. Cristo, que iá desde o início recebeu a sua missão, não começa a sua "pregação do Reino", quer dizer a rea- (12) Cf. M l 28 18. (13) Jo 20, 21 . Aliás , em todo o Evangelho de S. João é um tema constante a missão do Filho, que é enviado ao mundo pelo Pai. (14) Cf. Lc. 4, 18s. e os relatos do batismo de Jesus . (15) Jo 20, 21 ; Mt 23 , 19-20; Mc 16, 15-18. (16) Lc 24, 49 ; Jo 14, 16-17; 20,22; At 7, 5.8. iização estrita da sua missão, senSo depois da unção visível pelo Espirito, no momento do batismo. Por sua vez , os Apóstolos recebem a ordem de não se empenharem diretamente na missão até não terem recebido a consagração interior do Paráciito (17). É claro que a missão, a ordem externa pela qual alguém é enviado, representa um elemento organizativo. Na compreensão humana, é a autoridade quem dá o mandato, quem envia. E, no caso dos Apóstolos, essa autoridade é o pró- prio Cristo, que manifesta claramente a sua vontade. Por sua vez , a santificação ou consagração é um elemento fundamentalmente interno e invisível. Mas aqui, ao igual que em tôda a ordem derivada do Encarnação, os elementos divinos e humanos, internos e externos , não aparecem separados, desunidos. A missão é externa, mas a autoridade que a confere é divina. A un- ção do Espírito é interna, mas é realizada mediante um rito externo (18), e se destina a completar a missão recebida. Porém, a tarefa a realizar não está dividida; é única como único é o Espírito que a deve dirigir. Há, em principio, uma única missão, e há um único grande missionário: o Colégio apostólico, depositário do mandato de Cristo e transmissor do único Espirito (19). Daí se derivam os dois grandes princípios que o Vaticano II enunciou no capítulo III da tumen Gentium: a colegialidade e a'sacra - mentalidade do Episcopado. Não (17) Lc 24 , 49; A t 1, 4. (18) Cf. Jo 20, 22 ; At 6,6; 9, 17; 13, 2-3. (19) ".. . quos Apóstolos (cf. Lc 6,13) ad modum çòllegii sçu coefus stabilis instifuit.. . Eos ad filios Israel primum et ad omnes gentes misit (cf. Rom 1, 161" : Const. dogm. de Ecciesia lume n Gentium, n. 19. r 8 7 há, não pode haver na Igreja um ministério individual, indeperidente da comunhão eclesial. Quem se coloca voluntariamente contra a ordem estabelecida por Cristo, como participará da sua missão e do seu Espírito? É na comunhão do Colégio que todos os ministérios encontram a sua unidade. E é na imposição das mãos pelos membros do Colégio, seguindo o exemplo dos Apóstolos, que o Espírito nos é dado para a edificação do Corpo de Cristo. Essa comunhão, de origem sacramentai, mas de conseqüências sociológicas e organizativas, é o ponto de encontro do visível e do invisível, do divino e do humano, no ministério eclesial (20). De acordo com os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, o Colégio apostólico começa a realizar a sua missão unido como um todo, como um conjunto. A dé-> da unidade da tarefa a realizar parece ocupar naqueles momentos o primeiro plano. Mas a mesma dinâmica da vida da Igreja deveria, mais tarde, levar necessariamente ao reconhecimento da multiplicidade implícita nessa unidade. Surge assim, em primeiro lugar, o problema da limitação das forças dos Doze, que os leva a impor as mãos aos sete varões que deverão encarregar-se da assistência aos indigentes (21). Apresenta-se depois a necessidade de espalhar a boa nova além dos limites restritos de Jerusalém e, conseqüentemente, a desagregação dos Doze, que passam a viver dispersos, sem, contudo, romperem a sua unidade na comunhão. Há, enfim — com o (20) O caráter social dos sacramenots (portanto, também do sacramento da ordem) é frisado no n.o 7 da lumen Gentium. (21) At 6, 1-7. 188 decorrer dos anos — o avizinhar-se da morte e o crescimento da consciência de que o ministério não poderá desaparecer com a passagem do Apóstolo. Seus colaboradores deverão continuar a sua tarefa (22). Nesse contexto histórico, a Igreja primitiva viveu uma realidade antes de refletir sobre ela. Essa realidade pode-se resumir em três frases: unidade da missão encomendada por Cristo; sacramentalidade da inserção no Colégio apostólico, através da imposição das mãos; multiplicidade de ministé- rios, explicitada de acordo com as circunstâncias e necessidades das comunidades locais. A unidade nos fala da comunhão eclesial; a sacramentalidade nos mostra a união entre o visível e o invisível na sucessão apostólica; a multiplicidade, enfim , nos indica um certo poder da Igreja sobre os sacramentos. Nas primeiras comunidades cristãs, não só a diversidade de nomes (apóstolos, colaboradores, enviados , evangelistas, profetas, bispos, presbíteros, guias, diretores, pastores, presidentes. . .) , mas também a falta de diferenciação clara das diversas funções, nos está indicando a multiplicidade potencial do ministério eclesial (23). Num tempo relativamente breve, essa multiplicidade acaba enquadrando-se no (22) Cf. , por exemplo, 2, Tim 4, 5-8 e as passagens finais das Epístolas do cativeiro. A Const. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium ensina o mesmo no seu número 20: (Apostou) "non solum.. . vários adíutores in mi - nistério habuerunt, sed ut missio ipsis concredita post eorum mortem continuaretur, cooperatoribus suis immediatis , quasi per modum testamenti, demandaverunt munus perficiendi et confirmandi opus ab ipsis inceptum" . (23) Entre os múltiplos estudos sabre este ponto, podemos destacar: MANUE L GUERI^A GO - MEZ, I a Colegialidad en Ia conttitueiin jerárquica y en el gobiarno da la> primerat comunidades cristianas, na obra coletiva El Colégio Episcopal, Madrid, 1964. tríplice esquema, hoje tão conhecido para nós: episcopado, presbiterato e diaconato. Tão acostumados estamos a esse esquema, que nem sequer nos apresentamos a questão da sua reformabilidade. Contemplando, po- • rém, a evolução histórica a que temos feito referência, manifestase-nos um primeiro problema. Nas comunidades cristãs primitivas, o único ministério apostólico se desdobrou, sob o impulso das circunstâncias e necessidades pastorais, até chegar a cristalizar nos três graus da chamada "hierarquia de ordem". Conserva a Igreja, ainda hoje, a capacidade de desenvolver em formas novas as virtualidades do sacramento da ordem? Quer dizer, poderia ela, no nosso tempo, estabelecer novos modos de participação no sacerdócio ministerial que foi confiado ao Colégio apostólico? Dificilmente se poderá negar essa possibilidade se se considera que o exclusivismo da nossa organização atujl não parece ser um dado dos primeiros tempos do Cristianismo, mas apenas um fruto da era pós-apostólica. A s declara- ções do Concilio de Trento, que afirmam uma hierarquia de ordem, estabelecida por instituição divina (24), não constituem nenhuma dificuldade, pois, de modo algum, afirmam que os diversos graus procedam imediatamente de Cristo, nem que todas as virtualidades do sacramento da ordem fiquem esgotadas na trilogia "bispos , presbíteros e ministros". Não é nenhuma novidade a teoria da instituição apenas genérica do sacramento da ordem por Cristo. A literatura canônica e teológica a (24) CONC . TRID. jess . XXIll : Decr. de sacram. ordinis , especialmente o cap. 4 e o cânon 6: DS 17Ó8, 1776. este respeito é grande (25). Dividem-se, porém, os autores quando se trata de determinar se após a fixação dos três graus conhecidos é ainda possível uma ordenação diferente do ministério eclesial. E a verdade é que não há nenhum argumento convincente. Se, como parece, a distinção clara entre bispos, presbíteros e diáconos é apenas pós-apostólica, não se pode dizer que pertença ao núcleo da revelação, que ficou encerrada com a morte do último Apóstolo. O Colégio apostólico, primeiramente, e o Colégio episcopal depois, foram chamando homens que, em diversos graus e de diversos modos deveriam colaborar na missão única, ou continuá-la. Essa participação não parece ser, na consciência dos primeiros séculos cristãos, uma entrega parcelada de podêres que só através de etapas sucessivas possam ser alcançados. O ministério nos aparece dividido não em degraus que devam ser escalados progressivamente, mas em modos de participação, em tarefas especializadas, em missões a cumprir dentro da grande missão. Os exemplos de ordenações "pe r saltus" não são raros, nem levantaram maiores problemas teológicos (26). Em tôda ordenação de diácono, presbítero ou bispo há, fundamentalmente, uma inserção nessa grande missão do Colégio; há — valha a expressão — uma "incardinação" não nesta ou naquela diocese, mas no Colégio episcopal, depositário e transmissor (25) Pode consultar-se uma lista bastante completa no trabalho de ANTÔNI O MOSTAZ A RODRIGUEZ , Poderes episcopales y pretbi - terales, em La Función pastoral de los ©bis - pos , XI Semana espanola de Derecho canónico, Salamanca 1967. (26j É típico, a este respeito, o caso dos papas. Cf. MICHE L ANDRIEU , La urrièr e eeclesiastiqua des papes du moyen tge , em Rev. des Sciences rei. 27 (1947) 90-120. 189 do mandato de Cristo. Por isso, a Lumen Gentium pôde afirmar que "todos os sacerdotes. . . estão unidos com o Corpo dos Bispos e, segundo sua vocação e graça, devem servir ao bem de tôda a Igreja" (27). Em tôda ordenação há, portanto, já uma missão. Ordenação e missão aparecem tão intimamente unidas nos primeiros séculos que nem se cogita na sua pogsível separação. Daí que os clérigos sejam sempre ordenados relativamente, quer dizer destinados já a um ministério particular: a uma diocese, a um "título" ou a uma diaconia concretos e determinados (28). A participação de, pelo menos, três bispos na sagra- ção episcopal, que nos é apresentada em Nicéia como lei universal e tradicional (29), dá , por sua vez , o sentido da universalidade, da participação na missão única do Colégio através do rito sacro do sacramento da ordem. Quando, a partir da Alta Idade Média, começam a generalizar-se na Igreja as ordenações absolutas, sem referência explícita a um ofí- cio determinado, o pensamento teológico procura uma justificação (27) Consf. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. (28) Essa disciplina foi rigorosamente observada durante os, quatro primeiros séculos. Aos poucos , caiu em desuso; mas para a Igreja Romana airida era lei, nos fins do século IX, e a sua inobservância deu lugar aos conhecidos episódios relacionados com a elevação de Formoso (891-896) ao Pontifi - , cado. Tão forte era a união entre o ordenado e ofício a que se destinava que c próprio Concilio Ecumênico de Nicéia consi - dera como absolutamente nula qualquer trasladação a outra diocese, título ou diaconia. Cf. CONC . NICAEN . 1, can. 15: ".. . si qui s vero,. . tale quid agere temptaverit.. . hoc factum prorsus in irritum deducatur et restituatur eeclesiae, cui fuit episcopus , presbyter aut diaconus órdinatus" : em Conci - líorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc, p. 12. (29) Cf. CONC . NICAEN . I, can. 4, em Concí - liorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc), Friburgi 1962, pp. 6-7. i9Ó teórica para o fato d a aparente separação radical e adequada das duas realidades que virão a receber o nome de ordem e jurisdição. Surgirá assim a teoria a que fazíamos referência no começo deste artigo. A ordenação conferiria somente o poder de ordem, sacramentai, de santificação; poder que deveria ser completado em todos os casos nos quais o seu exercício atinge diretamente os indivíduos (os "súditos", como costumava dizer-se). Por isso, a confissão "sem jurisdição" seria nula, mas a celebração da Eucaristia — que atua diretamente sobre a realidade divina do Corpo de Cristo e só indiretamente sobre os fiéis — seria sempre válida. A jjjrisdição, distinta e separável do poder de ordem, se transmitiria e seria, até certo ponto, independente da ordenação sacerdotal. Esta teoria parecia mais cômoda enquanto permitia explicar a diferença entre bispos e presbíteros, sem aumentar o nú- mero dos sacramentos e nem sequer recorrer à concepção da diversidade de graus no sacramento da ordem. A verdadeira, a única ordenação sacerdotal, seria ó presbiterato. Bispos e presbíteros diferenciar-se-iam apenas no poder de jurisdição (30). J á temos falado, anteriormente, das dificuldades que essa teoria apresenta. Vejamos ainda uma outra. Na realidade, a distinção radical entre ordem e jurisdição e a negação da multiplicidade contida no sacramento da ordem, em lugar de explicar, obscureciâ a distinção entre bispos e presbíteros. Perante um bispo titular sem (30) Entre os autores mais recentes partidários dessa teoria, pode destacar-se J . BEVÉR, Nature et position du iacerdoce, em Nouv. Rev. Théol. 86 (1954) 356-373; 469-480. nenhuma função especial numa diocese, deveríamos dizer que se encontra "degradado" à condição de presbítero? E, por sua vez , um presbítero que, como no caso dos prelados "nuliius", dos administradores apostólicos, dos vigários capitulares ou dos prefeitos apostólicos, governasse de fato uma diocese ou um território afim, poderia dizer-se que tinha sido "elevado" à categoria de bispo? Pôr causa das dificuldades apontadas, o Concilio Vaticano II abandonou a velha terminologia e fala não de "ordem" e "jurisdição", mas do tríplice "múnus " de ensinar, santificár e governar, cuja participação ontológica é conferida aos bispos na sagração episcopal. Os três múnus têm, portanto, uma base sacramentai, uma estrutura interna anterior à sua manifestação externa, à sua atuação no contexto social da Igreja. Mas se isso é verdade para os bispos, deve sê-lo igualmente para os presbíteros, que também recebem o sacramento da ordem, embora em forma diferente. Os presbíteros não são chamados "participantes do sacerdócio dos bispos", mas do único sacerdócio de Cristo (31). Daí que, também para êles , ps podêres de ensinar, santificár e governar tenham o seu apoio, a sua base ontológica, na ordenação recebida. A mudança de terminologia no Concilio é evidente. Trata-se, poréni, também de uma mudança de doutrina? Ou melhor, de uma volta a uma doutrina esquecida: a da sacramentalidade radical do poder eclesial? Assim parece ser. Contudo, nem todas as dificuldades fo- (31) ".. . (Presbyteri). consecranfur, ut veri sa- . cerdotes Novi Testamenti Muneri s unici Me-, diatoris Christi (1 Tim 2,5) participes in suo ' . gradu ministérii" : Const. dogm, de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. ram resolvidas. Os "múnus", afirma o Concilio, são conferidos na ordenação sagrada; mas devem ser exercidos na "comunhão hierárquica" (32). Não está aqui ainda escondida a distinção entre ordem e jurisdição? Pelo menos uma reminiscência dela é clara. De fato, a relação da comissão sobre o modo 39 afirma que a restrição da necessidade da comunhão para o exercício dos múnus episcopais se refere unicamente aos de ensinar e reger, não ao de santificár. Èm outras palavras , o múnus de santificár (antigo "poder de ordem") já estaria expedito para a ação pélp fato da simples sagração episcopal, enquanto os múnus de ensinar e governar (antigo "poder de jurisdição") deveriam ser completados pela "comunhão hierárquica" (33). Se fôssemos tirar as conseqüências lógicas dessa explicação dada na aula conciliar, teríamos que concluir que o poder de santificár é sempre vàlidamente exercido; ó que não acontece com os de ensinar e governar. E não era èssá a doutrina "pré-conciliar" das duas potestades? Colocada, porém, a premissa da unidade do ministério em Cristd, tem sentido um poder sacramentai exercido totalmente fora da comunhão eclesial? A necessidade dessa comunhão não me parece que: se possa justificar apenas pela exigência da determinação dos súdir tos sobre os quais o ministério deva ser exercido. Pelo contrário, a comunhão hierárquica é uma con- (32) C{. Const. dogm. de Ecciesia-^luiniM -.âmr tium, n. 21 . (33) (Textus approbatus) "affirmàt cohsècfationô conferri, cum munere sanctificandl,^- ^çtlam munera regendi ac.docendi ; curn hac qui - dem restrictione, quod haec ultim a extra communionem exercteri non possunt" : Responsió ad modurti 39, âp. J . Aí. RAMIREZ, De Epiacopatu u t sacramentp deqúe epii ? coporum collegio, Salmanticae 1966, p. 55 , Í91 seqüência da estrutura social de todos os sacramentos, incluído o da Eucaristia. Êles são ações "da Igreja", realizadas "na Igreja". O caráter indelével do sacramento da ordem é, sem dúvida , um dado certo da tradição cristã, mas é igualmente certo que a ordenação é uma realidade destinada a ser exercida numa comunidade local, dentro da comunidade universal que é a Igreja. Colocar-se fora ou contra esta privaria de sentido a atuação do poder de santificár. A Eucaristia, sinal e causa eficaz da unidade dos irmãos em Cristo, teria algum sentido se fosse celebrada por alguém que rompeu por inteiro essa unidade? É evidente que um raciocínio que logicamente leva à admissão da irritabilidade do poder de santificár causa pelo menos perplexidade. Mas não me parece que as dificuldades que daí se derivam sejam insalváveis. As reflexões expostas até aqui constituem a base para a formula- ção de algumas hipóteses sobre o ministério presbiteral e a sua rela- ção com o episcopado. Não me atrevo a dizer que elas tenham sido perfeitamente provadas , mas me parece que constituem a explicação mais coerente dos ensinamentos do Concilio e dos fatos que a História da Igreja nos transmitiu. Eis, pois, as minhas conclusões: 1) A diferença entre bispo e presbítero não pode descansar unicamente numa jurisdição extrasacramental, que era desconhecida na primitiva Igreja e que pugnaria com a própria economia da salva- ção, onde os elementos interno e externo vão sempre unidos. Essa diferença tem a sua base no pró- prio sacramento da ordem. O presbítero, pela ordenação, passa a participar da missão única do Co- 192 légio apostólico; não como titular desse Colégio, mas como o seu auxiliar e subordinado. O bispo, pelo contrário, é membro pleno, continuador do ministério apostó- lico, presencializador na comunidade local de tôda a obra de Cristo e co-responsável na comunidade universal da tarefa primitivamente encomendada aos Doze. 2) Os podêres do presbítero são variáveis e, de fato, variaram ao longo da História, porque o Colégio episcopal pode escolher os seus auxiliares com finalidades diversas , de acordo com as circunstâncias e necessidades da Igreja. A tradição eclesiástica reservou o nome de presbítero para aqueles que foram chamados a colaborar diretamente no q/^erecimento do único sacrifício def Cristo. Daí o nome de sacerdotes pelo qual também são conhecidos. Quanto à administração de outros sacramentos (sobretudo crisma e ordem) o Colégio pode chamar para colaboração maior ou menor. E, precisamente porque o Colégio dos bispos quer conceder estes e não outros podêres, concede-os, de fato, porque êle é o titular da missão e o encarregado de arbitrar os meios necessários para o cumprimento dela. Não se esque- ça: a missão do Colégio é originá- ria, enquanto a dos presbíteros é derivada. 3) O que se afirma dos presbíteros pode ser aplicado — corri as devidas correções — aos diáconos. Também êles foram chamados a colaborar com o Colégio episcopal , mas apenas no plano do ministério e não no do sacerdócio. Aliás , a Igreja — sempre através do Colégio — poderia estabelecer novas e.cambiantes formas de participação na sua tarefa, a serem construídas sobre a base do sacramento da ordem. A função deste sacramento é, portanto, agregar alguém, como membro ou como colaborador, ao Corpo episcopal. 4) O exercício dos podêres conferidos na ordenação, de acordo com a própria natureza da Igreja e da missão, encomendada não a indivíduos isolados mas a um corpo, exige a comunhão eclesial. Mas essa comunhão não pode ser concebida como mero elemento jurídico externo e sim como expressão de uma vida íntima de união na fé , na esperança e na caridade. Ora , assim como a união intencional admite diversos graus , é também possível uma comunhão eclesial limitada e gradual, que dê sentido à ação do ministro, mesmo quando externamente êle se encontre fora ou à margem da comunidade. Aí estaria a explicação da validade do ministério dos orientais separados (inclusive no caso da crisma). 5) Poderia ser irritado ou tornado nulo, o poder já concedido pela ordenação ê pela comunhão com o Colégio? Não se vê como negar essa possibilidade, considerando que o próprio Colégio episcopal é capaz de retirar radicalmente a comunhão com indivíduos ou grupos determinados. Mas , nessa perspectiva, não se pode manter a distinção tradicional entre ordem e jurisdição, porque tôda ação ministerial, mesmo a celebração eucarística, deve realizarse nesse quadro da comunhão eclesial. A natureza sacramentai da Igreja, como conjunto, leva, ao meu modo de ver, a esta conclusão. É verdade, porém, que tradicionalmente se vem afirmando que a Eucaristia é válida em todo caso, sempre que o ministro fôr ordenado e tiver a intenção de celebrar. Mas , isso é conseqüência de uma necessidade intrínseca, nascida da própria ordenação, ou do fato de o Colégio episcopal não ter querido negar nunca a comunhão mínim a , imprescindível para que essa Eucaristia seja uma realidade eclesial? 6) Finalmente, a terminologia atual pode induzir a erro. Principalmente porque reserva o nome de sacerdote para os presbíteros. Os sacerdotes do Novo Testamento são, fundamentalmente, os membros plenos do Colégio episcopal, porque a êles foi encomendada diretamente a tarefa de perpetuar a ação sacerdotal de Cristo. Os presbíteros são, como o Vaticano II os chama, sacerdotes "em grau subordinado" (34), cuja ação fora ou contra a comunhão do Colégio episcopal perderia todo o seu significado eclesial. (34) CONC . OECUM , VAT . II , Decr. de Presbyterorum ministério et vita, Presbyterorum ordinis , n. 2 . 193 Bispo s e Presbíteros: Aspectos sacramentais e organizativos do ministério eclesial Jesu s Hortal , S . J . Thi s articl e mtend s t o dra w th e consequence s ou t o f t h e teaching s o f Vaticãn I I Counci l abou t th e sacramen - talit y o f th e episcopacy . Fro m th e fac t tha t th e tradltíon a l theor y abou t th e distinctio n betwee n orde r powe r a n d jurisdictio n powe r canno t an y longe r b e interprete d a s a basi c an d adequat e divisio n òf th e cburc h ministry , i t look s fo r a sur e bas e fo r th e realit y -wel l knox ^ a s traditiona l o f th e thre e form s I n whic h th e hol y order s a r e conferred : episcopacy , priesthoo d an ^ de^co^ship . A rapi d historica l visio n examine s th e diffèrent theorie s buit t b y canonist s an d theblog^ians , i n orde r t o expláin t h e realit y live d b y th e Church . Base d o n th e counci l texts , i t trie s t o understan d the , sacre d minístry a s a continuatio n o f th e uniqu e missio n transmitte d to th e apostle s b y Christ , thrdug h a n insertio n i h th e episcopa l coUege . , Communio n — no t "jurisdiction " seem s t q b e th e basi c concep t fo r th e Characte r receive d it i ordination . Finally , ther e ar e expresse d a serie s óf hypothese s base d o n |h e previou s analysi s abou t th e distinctio n betwee n bishop s an d priests , abou t th e variou s saçred powers , abou t a possibl e dlvisio n o f th e Sacraínent o f Hòly Órder, abou t th e diffèrent grade s o f tlíe sacreá ministry , abou t t h e possibl e "irritation " o f th e poWér t o sanctify , an d abou t th e convenienc e o f modifyin g th e presen t termino - logy . Na realidade eclesial concreta em que vivemos , nos encontramos com três tipos plenamente diferenciados de ministérios, dentro do que costumamos chamar de "sacramento da ordem": bispos, presbí- teros e diáconos. Ainda que as três, denominações apareçam já na Escritura, a sua distinção clara é testemunhada a partir do século II. Isso vale principalmente para as Igrejas da Ásia Menor, onde a hierarquia tripartita é considerada por Santo Inácio de Antioquia como j organização natural e comum das cornunidades cristãs. Mas se a distinção é conhecida,já naqueles tempos primitivos, a reflexão teológica que.lh e pretendeu dar um fundamento foi elaborada tardiamente e com vacilações. Construiuse., primeiramente, a teoria da distinção de potestades ou do dú- plice poder; de ordem e de jurisdi- ção. O poder de ordem seria plenamente divino, transmissível 183 diretamente pelo sacramento, dirigido à santificação interna dos fiéis , e, uma vez conferido, subtraí- do, quanto à validade, ao domínio da Igreja. O poder de jurisdição, pelo contrário, teria muito de humano, transmitir-se-ia por delega- ção pontifícia e até (pelo menos parcialmente) sem necessidade da base sacramentai, estaria dirigido ao governo externo da sociedade eclesial, e poderia ser invalidado, em todo ou em parte pela autoridade competente. Elaborada pelos canonistas dos séculos XI-XII , esta distinção penetrou profundamente na Escolástica, devido, em grande parte, à autoridade de S. Tomás , que a adotou, com a célebre terminologia de "potestas in Corpus Christi verum " (poder de ordem) e "potestas in Corpus Christi mysticum" (poder de jurisdição) (1). Mas este modo de ver as coisas tem um inconveniente fundamental: a separação quase total dos dois elementos que correm sempre unidos na Igreja: o divino e o humano (2). Ora , a fórmula do Calcedonense — "inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter" (3) percorre toda a realidade derivada da Encarnação. Pretender separar os elementos divinos e humanos é tanto como destruir a ordem inaugurada pelo Homem-Deus. Na prática, aliás, a distinção entre ordem e jurisdição não era tão fácil como podia parecer à primeira vista. Afirmava-se — e o mesmo S. Tomás é testemunha disso — que os bispos e os (1) . Cf. S. Th. Il-llae, q. 184, a. 6, ad 1 ; III , q. 67, a. 2, ad 2 ; 111, q. 82, a. 1, ad 4. (2) Cf. CONCIUU M OECUMENICU M VATICA - N UM II, Const. dogm. de Ecciesla, Lumen Génlium , n. 8. (3) DS 302. 184 presbíteros diferiam apenas no poder de jurisdição e não no de ordem (4). As dificuldades, porém, que se derivavam dessa distinção não podiam ser ignoradas. Sobretudo nos casos da administração dos sacramentos da crisma e da ordem eram particularmente perturbadoras. A confirmação, com maiores ou menores restrições, foi administrada por presbíteros durante toda a História da Igreja. As ordenações, pelo menos em alguns casos (5), foram também conferidas por simples sacerdotes. Onde estava, pois, a distinção entre bispos e padres? No poder de ordem? Por que, então, os dois únicos sacramentos citados sempre como prova podjam ser administrados, vàlidamente, pelo menos em certos casos, por presbíteros? Se faltava a base sacramentai, não se v ê como podia ser suprida por uma simples delegação humana. Se, pelo contrário, com S. Tomás, se pensava no poder de jurisdição, como base da distinção entre presbíteros e bispos, devia explicar-se porque a Igreja considerava como (4) "A d quartum dicendum quod episcopus accipit potestaten ut agat in persona Cliristi supra corpus eius mvsticum: idest super Ecclesiam: quam quidem potestatem non accipit sacerdos in sua consecratione, licet possit eam habere ex episcopi commissione. Et ideo ea quae non pertinent ad disposi - tionem cornoris mvstici, non reservantur eoiscopo" (S. Th. 111, q. 82, a. I, ad 4). Cf. também; In IV Sen», d. 7, q. 3, a. 1 co. 2, ad 3; d. 24, q. 3, a. 2, col. 2-3; S. Th. ll-llae q. 184, a. 6, ad 1 ; III q. 65, a. 3, ad 2 ; q. 67, a. 2; q. 82, a. 1, ad 4 e a. 3 , ad 3. Não deve esquecer-se, porém, que o mesmo S. Tomás parece inclinar-se, nas suas últimas obras , por uma distinção entre bispos e nresbíteros baseada não apenas na diversa "jurisdição" . Cf. De perf. vitae spir., c. 24, n. 715. (5) Cf. BONIFAT . IX, Bulla Sacra* raliglonis, DS 1145; MARTIN. V . Bulla Gerantas ad vos , DS 1290; INNOCENT . VIII , Bulla Exposcit tua * d*votionis , DS 1435. O recurso fácil à negação da autenticidade destes d» , cumentos , que costumava empregar-se nos nossos manuais de Teologia, não é mais possível depoi s que foram descobertos o i originais conservados no Arquivo Vaticano. inválidas — e não apenas como ilícitas — as confirmações e ordenações realizadas por sacerdotes não autorizados. Para fugir a essas dificuldades foram elaboradas diversas teorias. Pensou-se, em primeiro lugar, numa irritação eclesiástica do poder sacramentai. Mas , por que essa irritação era possível nos casos da crisma e da ordem e não no da eucaristia? De fato, a Igreja considerou sempre como válida — embora ilícita — a celebração eucarística dos presbíteros que se encontram fora da comunhão eclesial, enquanto que ordenações e crismas, realizadas por padres incensurados mas não autorizados, eram dadas como inválidas. Falou-se, então, de um poder delegado de ordem. Os presbíteros não possuiriam, em virtude da própria ordenação, a faculdade de administrar os dois sacramentos citados, mas a Igreja, através dos bispos ou do papa, poderia delegar-lhes esse poder. A teoria ia , porém, diretamente contra a base da distinção entre ordem e jurisdi- ção. O poder de ordem era , como dizíamos, sacramentai, conferido diretamente por Deus, dirigido à santificação dos indivíduos e, por isso, subtraído radicalmente ao domínio da sociedade eclesial. Mas poder delegado de ordem significa algo social, regulável à vontade da autoridade humana, não conferido diretamente por Deus. Aliás , se, mediante uma simples delegação, os presbíteros podiam obter todas as faculdades dos bispos, para que servia a sagração episcopal? A única saída possível parecia a negação da distinção de graus dentro do sacramento da ordem. O presbiterato seria a ordenação propriamente dita. Bispos e padres seriam completamente iguais no plano da ordem, diferindo apenas no plano da jurisdição. A eucaristia não poderia ser nunca invalidada porque a consagração não atua diretamente sobre os súditos da Igreja. As ordenações e a crism a , pelo contrário, exigem necessariamente um sujeito que, por definição, deve ser súdito da Igreja. Ora , ela poderia assiná-lo ou não a tal sacerdote concreto, conferindo ou negando a validade desses sacramentos. O resultado, porém, desta teoria foi uma enorme casuística sobre designação de súditos, subordinação de uns ministros a outros, liceidade, iliceidade ou iterabilidade dos sacramentos. No tempo do Concilio de Trento, a questão da distinção entre bispos e presbíteros se apresentava tão complicada que os padres conciliares não se atreveram a resolvê-la, contentando-se apenas com afirmar a superioridade dos bispos sobre os presbíteros, mas sem fornecer a razão intrínseca dela (6). A distinção entre ordem e jurisdição sofreu os primeiros embates quando, nos fins do século XVIII , alguns teólogos e canonistas católicos começaram a aceitar a doutrina protestante dos tempos do lluminismo sobre a divisão tripartita do poder eclesial: santificação, magistério e regime (7). Sem dúvida , essa teoria apresentava grandes vantagens do ponto de vista pedagógico e até parecia ter um fundamento bíblico (6) CONC . TRID. Sess. XXIll , cap. 4 (DS T768) e can. 7 (DS 1777). (7) Sobre a origem da divisão tripartita, cf. J . FUCHS , Magisterium, Ministarium, Regimen. V o m Ursprufig einer «MilMiologítchaii Trilogia, Bonn, 1941 ; ID., Waiheuikrameiitale Grundiagung liirchlieher Rachtsgewait, in Scholasfilc 16 (1941) 496-520. 1 8 5 claro: Mt 28 , 19-20 (8). Mas , do ponto de vista da Teologia dogmá- tica e da Sistemática jurídica, oferecia igualmente não pequenos iriíçonvenientes. Qual era, afinal, a -natureza e o modo de transmissão do poder de magistério? Para muitos parecia ser uma espécie de potestade intermédia, carismática mais do que sacramentai, e dirigida tanto à santificação quanto ao governo dos fiéis. Para fugir a essa indefinição do poder de magisté- rio, a maior parte dos canonistas da segunda metade do século XI X e da primeira do X X acabaram rejeitando a tríplice divisão e voltaram à bipartição entre ordem e jurisdição (9). O" magistério seria apenas um exercício da jurisdição eclesiástica. Justificavam-se assim as licenças que ainda hoje são necessárias para a pregação. Voltavase, porém,'às dificuldades dos sé- culos anteriores, , No momento em cjue começa o Concilio Ecumênico Vaticano II , a distinção -radical entre poder de ordem e poder de jurisdição parece ser um obstáculo para o prgresso' da Teotogia do Episcopado. Com efeito, essa distinção tinha entrado nos documentos rebentes dO' Magistério eclesiástico ordiná rio. Em Pio XI I é'clara a afirmação da transmissão da ' jurisdição por intermédio dó Papa e não direta mente pelo sacramento (10). Os Padres conciliares pretendem solucionar o dilema" mediante a compreer?são'de tôda a realidade ecle- (8) Esse fundamento bíblico não parece ser tão evidente como alguns autores afirmam: Cf. M. VIDAL , íTiiene fundamento biMico Ia ' div&ión trÍDartila de Ia Teologia Pastoral? , em Pentecostés 8 (1070) 3-17. (9) Cf. , p. ex. WERNZ-VIDAL , lus Canonieum, I I , p. 62 ss.; A. OTTAVIANI , Intlítuttones luri s Publici Ecciesiaslici, ed. 4.^, Romae, , 1958, 1. p. 186 ss.; J . FERRANTE , Suinnia luris Constifutionalis Eeclesiae, Romae 1964, pp. 196 ss. 186 sial sob o prisma da sacramentalidade da sua ação. Falar-se-á de "mistério", de "sacramento", de "natureza encarnatória da Igreja", de "caráter teândrico", etc. No fundo, está presente a realidade de uma dupla estrutura eclesial: visível e invisível, jurídica e carismática, humana e divina. Não é que essa dupla estrutura fosse desconhecida anteriormente, mas a união íntima, inseparável, entre os dois elementos não era suficientemente acentuada (11). À luz desta nova compreensão da Igreja, a distinção radical entre ordem e jurisdição não é mais .possível. No "poder de ordem" deve estar presente também um elemento organizativo, social; e »o "poder de jurisdição" não pocíe faltar o elemento sacramentai. Numa linguagem às vezes obscura, que procura evitar as palavras "ordem" e "jurisdição" e até mesmo o termo (10) "(Episcopi) non plane sui iuris sunt, sed sub debita Romani Pontificis auctoritate • positi, quamvts ordinária iurisdictionís potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontífice Summo impertita" ; Ene. Mvstici Corporis , em AA S 35 (1943) 212; "iuris - dictionís autem potestas, quae Supremo Pontifici iure ipso divino confertur, Episcopis ex eodem provenit iure, at nonnísí. per Petri Sucessorem" : Ene. A d Sínarum Gentes efn AA S 47 (1955) 9; "hoc posito, efficitur ut Episcopi nec nominati nec confirmati a Sede Apostólicanuli a fruantur potestate magisterlí et iurisdictionís, cum iurísdictio Episcopi s per unüm Romanum Pontificem obtingat" : Ene. A d Apoitolorum Pincipis , em AA S 50 (1958) 610. O s grifos são meus . (11) Cf. W. BERTRAMS, De constilulione Écclasiae simui charismalica e l inslilulionali, em Periódica 57 (1968) 302 ss. Quase em todos os escritos deste autor iiá úm aceno a essa dupla estrutura. Por isso, não parece haver dúvida quanto à sua contribuição para a redação final do capítulo III e da "Not a explicativa prévia da Const. dogm. lume n Oentium. ' Cf , entre outros, bs' seguintes estudos do citada P. BERTRAMS: De relalione inter Episcopatum et Primatum, Principia philosophica et theologica quibus relatio iuridica fundatur inter officium episcopaje e» primatiale, Romae, 1963;^ De quaestione circa originem potestis iurisdic- . .«ionis Eaiscoperum in Contilio Tridantino non resoluta, em Periódica 52 ,(1963) 45? - 476;'Paps t und Bischâfskollegium ais Trãger der kirchiichen Hirtengewait, Paderborn, 1965. "poder", o Capítulo III da "Lumen Gentium" e a sua "Nota explicativa prévia " nos falam da participa- ção ontológica nos múnus sagrados através da sagração episcopal. Pensava-se assim poder explicar facilmente as relações entre os membros do Colégio episcopal e o Romano pontífice. Na realidade, porém, atingia-se também a questão da diferença entre bispos e presbíteros. Não há dúvida que o Concilio realizou um grande avanço, mas ainda deixou alguns pontos obscuros e não poucas ambigüidades, principalmente em relação à essa última questão. Procuremos, portanto, tirar as conseqüências da doutrina conciliar. A base para a compreensão do sacerdócio cristão, neste como em qualquer outro aspecto, é a vida e a obra de Cristo. Dêle deriva todo poder, porque a Êle foi entregue pelo Pai (12). É, portanto, no Cristo onde poderemos encontrar o modelo para a interpretação do poder eclesiástico. E o que encontramos aí? Cristo é envjado pelo Pai (13). Mas, simultâne^ente , é ungido pelo Espírito Santo (14). Do mesmo modo, Êle envia ôs Apóstolos (15) e lhes concede'ou promete para o futuro a unção do Espírito Santo (16). Nestes textos, aparece claro que missão e consagração, embora separaveis, è até mesmo conferidas em ocasiões diversas, estão sempre em íntima relação. Cristo, que iá desde o início recebeu a sua missão, não começa a sua "pregação do Reino", quer dizer a rea- (12) Cf. M l 28 18. (13) Jo 20, 21 . Aliás , em todo o Evangelho de S. João é um tema constante a missão do Filho, que é enviado ao mundo pelo Pai. (14) Cf. Lc. 4, 18s. e os relatos do batismo de Jesus . (15) Jo 20, 21 ; Mt 23 , 19-20; Mc 16, 15-18. (16) Lc 24, 49 ; Jo 14, 16-17; 20,22; At 7, 5.8. iização estrita da sua missão, senSo depois da unção visível pelo Espirito, no momento do batismo. Por sua vez , os Apóstolos recebem a ordem de não se empenharem diretamente na missão até não terem recebido a consagração interior do Paráciito (17). É claro que a missão, a ordem externa pela qual alguém é enviado, representa um elemento organizativo. Na compreensão humana, é a autoridade quem dá o mandato, quem envia. E, no caso dos Apóstolos, essa autoridade é o pró- prio Cristo, que manifesta claramente a sua vontade. Por sua vez , a santificação ou consagração é um elemento fundamentalmente interno e invisível. Mas aqui, ao igual que em tôda a ordem derivada do Encarnação, os elementos divinos e humanos, internos e externos , não aparecem separados, desunidos. A missão é externa, mas a autoridade que a confere é divina. A un- ção do Espírito é interna, mas é realizada mediante um rito externo (18), e se destina a completar a missão recebida. Porém, a tarefa a realizar não está dividida; é única como único é o Espírito que a deve dirigir. Há, em principio, uma única missão, e há um único grande missionário: o Colégio apostólico, depositário do mandato de Cristo e transmissor do único Espirito (19). Daí se derivam os dois grandes princípios que o Vaticano II enunciou no capítulo III da tumen Gentium: a colegialidade e a'sacra - mentalidade do Episcopado. Não (17) Lc 24 , 49; A t 1, 4. (18) Cf. Jo 20, 22 ; At 6,6; 9, 17; 13, 2-3. (19) ".. . quos Apóstolos (cf. Lc 6,13) ad modum çòllegii sçu coefus stabilis instifuit.. . Eos ad filios Israel primum et ad omnes gentes misit (cf. Rom 1, 161" : Const. dogm. de Ecciesia lume n Gentium, n. 19. r 8 7 há, não pode haver na Igreja um ministério individual, indeperidente da comunhão eclesial. Quem se coloca voluntariamente contra a ordem estabelecida por Cristo, como participará da sua missão e do seu Espírito? É na comunhão do Colégio que todos os ministérios encontram a sua unidade. E é na imposição das mãos pelos membros do Colégio, seguindo o exemplo dos Apóstolos, que o Espírito nos é dado para a edificação do Corpo de Cristo. Essa comunhão, de origem sacramentai, mas de conseqüências sociológicas e organizativas, é o ponto de encontro do visível e do invisível, do divino e do humano, no ministério eclesial (20). De acordo com os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, o Colégio apostólico começa a realizar a sua missão unido como um todo, como um conjunto. A dé-> da unidade da tarefa a realizar parece ocupar naqueles momentos o primeiro plano. Mas a mesma dinâmica da vida da Igreja deveria, mais tarde, levar necessariamente ao reconhecimento da multiplicidade implícita nessa unidade. Surge assim, em primeiro lugar, o problema da limitação das forças dos Doze, que os leva a impor as mãos aos sete varões que deverão encarregar-se da assistência aos indigentes (21). Apresenta-se depois a necessidade de espalhar a boa nova além dos limites restritos de Jerusalém e, conseqüentemente, a desagregação dos Doze, que passam a viver dispersos, sem, contudo, romperem a sua unidade na comunhão. Há, enfim — com o (20) O caráter social dos sacramenots (portanto, também do sacramento da ordem) é frisado no n.o 7 da lumen Gentium. (21) At 6, 1-7. 188 decorrer dos anos — o avizinhar-se da morte e o crescimento da consciência de que o ministério não poderá desaparecer com a passagem do Apóstolo. Seus colaboradores deverão continuar a sua tarefa (22). Nesse contexto histórico, a Igreja primitiva viveu uma realidade antes de refletir sobre ela. Essa realidade pode-se resumir em três frases: unidade da missão encomendada por Cristo; sacramentalidade da inserção no Colégio apostólico, através da imposição das mãos; multiplicidade de ministé- rios, explicitada de acordo com as circunstâncias e necessidades das comunidades locais. A unidade nos fala da comunhão eclesial; a sacramentalidade nos mostra a união entre o visível e o invisível na sucessão apostólica; a multiplicidade, enfim , nos indica um certo poder da Igreja sobre os sacramentos. Nas primeiras comunidades cristãs, não só a diversidade de nomes (apóstolos, colaboradores, enviados , evangelistas, profetas, bispos, presbíteros, guias, diretores, pastores, presidentes. . .) , mas também a falta de diferenciação clara das diversas funções, nos está indicando a multiplicidade potencial do ministério eclesial (23). Num tempo relativamente breve, essa multiplicidade acaba enquadrando-se no (22) Cf. , por exemplo, 2, Tim 4, 5-8 e as passagens finais das Epístolas do cativeiro. A Const. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium ensina o mesmo no seu número 20: (Apostou) "non solum.. . vários adíutores in mi - nistério habuerunt, sed ut missio ipsis concredita post eorum mortem continuaretur, cooperatoribus suis immediatis , quasi per modum testamenti, demandaverunt munus perficiendi et confirmandi opus ab ipsis inceptum" . (23) Entre os múltiplos estudos sabre este ponto, podemos destacar: MANUE L GUERI^A GO - MEZ, I a Colegialidad en Ia conttitueiin jerárquica y en el gobiarno da la> primerat comunidades cristianas, na obra coletiva El Colégio Episcopal, Madrid, 1964. tríplice esquema, hoje tão conhecido para nós: episcopado, presbiterato e diaconato. Tão acostumados estamos a esse esquema, que nem sequer nos apresentamos a questão da sua reformabilidade. Contemplando, po- • rém, a evolução histórica a que temos feito referência, manifestase-nos um primeiro problema. Nas comunidades cristãs primitivas, o único ministério apostólico se desdobrou, sob o impulso das circunstâncias e necessidades pastorais, até chegar a cristalizar nos três graus da chamada "hierarquia de ordem". Conserva a Igreja, ainda hoje, a capacidade de desenvolver em formas novas as virtualidades do sacramento da ordem? Quer dizer, poderia ela, no nosso tempo, estabelecer novos modos de participação no sacerdócio ministerial que foi confiado ao Colégio apostólico? Dificilmente se poderá negar essa possibilidade se se considera que o exclusivismo da nossa organização atujl não parece ser um dado dos primeiros tempos do Cristianismo, mas apenas um fruto da era pós-apostólica. A s declara- ções do Concilio de Trento, que afirmam uma hierarquia de ordem, estabelecida por instituição divina (24), não constituem nenhuma dificuldade, pois, de modo algum, afirmam que os diversos graus procedam imediatamente de Cristo, nem que todas as virtualidades do sacramento da ordem fiquem esgotadas na trilogia "bispos , presbíteros e ministros". Não é nenhuma novidade a teoria da instituição apenas genérica do sacramento da ordem por Cristo. A literatura canônica e teológica a (24) CONC . TRID. jess . XXIll : Decr. de sacram. ordinis , especialmente o cap. 4 e o cânon 6: DS 17Ó8, 1776. este respeito é grande (25). Dividem-se, porém, os autores quando se trata de determinar se após a fixação dos três graus conhecidos é ainda possível uma ordenação diferente do ministério eclesial. E a verdade é que não há nenhum argumento convincente. Se, como parece, a distinção clara entre bispos, presbíteros e diáconos é apenas pós-apostólica, não se pode dizer que pertença ao núcleo da revelação, que ficou encerrada com a morte do último Apóstolo. O Colégio apostólico, primeiramente, e o Colégio episcopal depois, foram chamando homens que, em diversos graus e de diversos modos deveriam colaborar na missão única, ou continuá-la. Essa participação não parece ser, na consciência dos primeiros séculos cristãos, uma entrega parcelada de podêres que só através de etapas sucessivas possam ser alcançados. O ministério nos aparece dividido não em degraus que devam ser escalados progressivamente, mas em modos de participação, em tarefas especializadas, em missões a cumprir dentro da grande missão. Os exemplos de ordenações "pe r saltus" não são raros, nem levantaram maiores problemas teológicos (26). Em tôda ordenação de diácono, presbítero ou bispo há, fundamentalmente, uma inserção nessa grande missão do Colégio; há — valha a expressão — uma "incardinação" não nesta ou naquela diocese, mas no Colégio episcopal, depositário e transmissor (25) Pode consultar-se uma lista bastante completa no trabalho de ANTÔNI O MOSTAZ A RODRIGUEZ , Poderes episcopales y pretbi - terales, em La Función pastoral de los ©bis - pos , XI Semana espanola de Derecho canónico, Salamanca 1967. (26j É típico, a este respeito, o caso dos papas. Cf. MICHE L ANDRIEU , La urrièr e eeclesiastiqua des papes du moyen tge , em Rev. des Sciences rei. 27 (1947) 90-120. 189 do mandato de Cristo. Por isso, a Lumen Gentium pôde afirmar que "todos os sacerdotes. . . estão unidos com o Corpo dos Bispos e, segundo sua vocação e graça, devem servir ao bem de tôda a Igreja" (27). Em tôda ordenação há, portanto, já uma missão. Ordenação e missão aparecem tão intimamente unidas nos primeiros séculos que nem se cogita na sua pogsível separação. Daí que os clérigos sejam sempre ordenados relativamente, quer dizer destinados já a um ministério particular: a uma diocese, a um "título" ou a uma diaconia concretos e determinados (28). A participação de, pelo menos, três bispos na sagra- ção episcopal, que nos é apresentada em Nicéia como lei universal e tradicional (29), dá , por sua vez , o sentido da universalidade, da participação na missão única do Colégio através do rito sacro do sacramento da ordem. Quando, a partir da Alta Idade Média, começam a generalizar-se na Igreja as ordenações absolutas, sem referência explícita a um ofí- cio determinado, o pensamento teológico procura uma justificação (27) Consf. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. (28) Essa disciplina foi rigorosamente observada durante os, quatro primeiros séculos. Aos poucos , caiu em desuso; mas para a Igreja Romana airida era lei, nos fins do século IX, e a sua inobservância deu lugar aos conhecidos episódios relacionados com a elevação de Formoso (891-896) ao Pontifi - , cado. Tão forte era a união entre o ordenado e ofício a que se destinava que c próprio Concilio Ecumênico de Nicéia consi - dera como absolutamente nula qualquer trasladação a outra diocese, título ou diaconia. Cf. CONC . NICAEN . 1, can. 15: ".. . si qui s vero,. . tale quid agere temptaverit.. . hoc factum prorsus in irritum deducatur et restituatur eeclesiae, cui fuit episcopus , presbyter aut diaconus órdinatus" : em Conci - líorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc, p. 12. (29) Cf. CONC . NICAEN . I, can. 4, em Concí - liorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc), Friburgi 1962, pp. 6-7. i9Ó teórica para o fato d a aparente separação radical e adequada das duas realidades que virão a receber o nome de ordem e jurisdição. Surgirá assim a teoria a que fazíamos referência no começo deste artigo. A ordenação conferiria somente o poder de ordem, sacramentai, de santificação; poder que deveria ser completado em todos os casos nos quais o seu exercício atinge diretamente os indivíduos (os "súditos", como costumava dizer-se). Por isso, a confissão "sem jurisdição" seria nula, mas a celebração da Eucaristia — que atua diretamente sobre a realidade divina do Corpo de Cristo e só indiretamente sobre os fiéis — seria sempre válida. A jjjrisdição, distinta e separável do poder de ordem, se transmitiria e seria, até certo ponto, independente da ordenação sacerdotal. Esta teoria parecia mais cômoda enquanto permitia explicar a diferença entre bispos e presbíteros, sem aumentar o nú- mero dos sacramentos e nem sequer recorrer à concepção da diversidade de graus no sacramento da ordem. A verdadeira, a única ordenação sacerdotal, seria ó presbiterato. Bispos e presbíteros diferenciar-se-iam apenas no poder de jurisdição (30). J á temos falado, anteriormente, das dificuldades que essa teoria apresenta. Vejamos ainda uma outra. Na realidade, a distinção radical entre ordem e jurisdição e a negação da multiplicidade contida no sacramento da ordem, em lugar de explicar, obscureciâ a distinção entre bispos e presbíteros. Perante um bispo titular sem (30) Entre os autores mais recentes partidários dessa teoria, pode destacar-se J . BEVÉR, Nature et position du iacerdoce, em Nouv. Rev. Théol. 86 (1954) 356-373; 469-480. nenhuma função especial numa diocese, deveríamos dizer que se encontra "degradado" à condição de presbítero? E, por sua vez , um presbítero que, como no caso dos prelados "nuliius", dos administradores apostólicos, dos vigários capitulares ou dos prefeitos apostólicos, governasse de fato uma diocese ou um território afim, poderia dizer-se que tinha sido "elevado" à categoria de bispo? Pôr causa das dificuldades apontadas, o Concilio Vaticano II abandonou a velha terminologia e fala não de "ordem" e "jurisdição", mas do tríplice "múnus " de ensinar, santificár e governar, cuja participação ontológica é conferida aos bispos na sagração episcopal. Os três múnus têm, portanto, uma base sacramentai, uma estrutura interna anterior à sua manifestação externa, à sua atuação no contexto social da Igreja. Mas se isso é verdade para os bispos, deve sê-lo igualmente para os presbíteros, que também recebem o sacramento da ordem, embora em forma diferente. Os presbíteros não são chamados "participantes do sacerdócio dos bispos", mas do único sacerdócio de Cristo (31). Daí que, também para êles , ps podêres de ensinar, santificár e governar tenham o seu apoio, a sua base ontológica, na ordenação recebida. A mudança de terminologia no Concilio é evidente. Trata-se, poréni, também de uma mudança de doutrina? Ou melhor, de uma volta a uma doutrina esquecida: a da sacramentalidade radical do poder eclesial? Assim parece ser. Contudo, nem todas as dificuldades fo- (31) ".. . (Presbyteri). consecranfur, ut veri sa- . cerdotes Novi Testamenti Muneri s unici Me-, diatoris Christi (1 Tim 2,5) participes in suo ' . gradu ministérii" : Const. dogm, de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. ram resolvidas. Os "múnus", afirma o Concilio, são conferidos na ordenação sagrada; mas devem ser exercidos na "comunhão hierárquica" (32). Não está aqui ainda escondida a distinção entre ordem e jurisdição? Pelo menos uma reminiscência dela é clara. De fato, a relação da comissão sobre o modo 39 afirma que a restrição da necessidade da comunhão para o exercício dos múnus episcopais se refere unicamente aos de ensinar e reger, não ao de santificár. Èm outras palavras , o múnus de santificár (antigo "poder de ordem") já estaria expedito para a ação pélp fato da simples sagração episcopal, enquanto os múnus de ensinar e governar (antigo "poder de jurisdição") deveriam ser completados pela "comunhão hierárquica" (33). Se fôssemos tirar as conseqüências lógicas dessa explicação dada na aula conciliar, teríamos que concluir que o poder de santificár é sempre vàlidamente exercido; ó que não acontece com os de ensinar e governar. E não era èssá a doutrina "pré-conciliar" das duas potestades? Colocada, porém, a premissa da unidade do ministério em Cristd, tem sentido um poder sacramentai exercido totalmente fora da comunhão eclesial? A necessidade dessa comunhão não me parece que: se possa justificar apenas pela exigência da determinação dos súdir tos sobre os quais o ministério deva ser exercido. Pelo contrário, a comunhão hierárquica é uma con- (32) C{. Const. dogm. de Ecciesia-^luiniM -.âmr tium, n. 21 . (33) (Textus approbatus) "affirmàt cohsècfationô conferri, cum munere sanctificandl,^- ^çtlam munera regendi ac.docendi ; curn hac qui - dem restrictione, quod haec ultim a extra communionem exercteri non possunt" : Responsió ad modurti 39, âp. J . Aí. RAMIREZ, De Epiacopatu u t sacramentp deqúe epii ? coporum collegio, Salmanticae 1966, p. 55 , Í91 seqüência da estrutura social de todos os sacramentos, incluído o da Eucaristia. Êles são ações "da Igreja", realizadas "na Igreja". O caráter indelével do sacramento da ordem é, sem dúvida , um dado certo da tradição cristã, mas é igualmente certo que a ordenação é uma realidade destinada a ser exercida numa comunidade local, dentro da comunidade universal que é a Igreja. Colocar-se fora ou contra esta privaria de sentido a atuação do poder de santificár. A Eucaristia, sinal e causa eficaz da unidade dos irmãos em Cristo, teria algum sentido se fosse celebrada por alguém que rompeu por inteiro essa unidade? É evidente que um raciocínio que logicamente leva à admissão da irritabilidade do poder de santificár causa pelo menos perplexidade. Mas não me parece que as dificuldades que daí se derivam sejam insalváveis. As reflexões expostas até aqui constituem a base para a formula- ção de algumas hipóteses sobre o ministério presbiteral e a sua rela- ção com o episcopado. Não me atrevo a dizer que elas tenham sido perfeitamente provadas , mas me parece que constituem a explicação mais coerente dos ensinamentos do Concilio e dos fatos que a História da Igreja nos transmitiu. Eis, pois, as minhas conclusões: 1) A diferença entre bispo e presbítero não pode descansar unicamente numa jurisdição extrasacramental, que era desconhecida na primitiva Igreja e que pugnaria com a própria economia da salva- ção, onde os elementos interno e externo vão sempre unidos. Essa diferença tem a sua base no pró- prio sacramento da ordem. O presbítero, pela ordenação, passa a participar da missão única do Co- 192 légio apostólico; não como titular desse Colégio, mas como o seu auxiliar e subordinado. O bispo, pelo contrário, é membro pleno, continuador do ministério apostó- lico, presencializador na comunidade local de tôda a obra de Cristo e co-responsável na comunidade universal da tarefa primitivamente encomendada aos Doze. 2) Os podêres do presbítero são variáveis e, de fato, variaram ao longo da História, porque o Colégio episcopal pode escolher os seus auxiliares com finalidades diversas , de acordo com as circunstâncias e necessidades da Igreja. A tradição eclesiástica reservou o nome de presbítero para aqueles que foram chamados a colaborar diretamente no q/^erecimento do único sacrifício def Cristo. Daí o nome de sacerdotes pelo qual também são conhecidos. Quanto à administração de outros sacramentos (sobretudo crisma e ordem) o Colégio pode chamar para colaboração maior ou menor. E, precisamente porque o Colégio dos bispos quer conceder estes e não outros podêres, concede-os, de fato, porque êle é o titular da missão e o encarregado de arbitrar os meios necessários para o cumprimento dela. Não se esque- ça: a missão do Colégio é originá- ria, enquanto a dos presbíteros é derivada. 3) O que se afirma dos presbíteros pode ser aplicado — corri as devidas correções — aos diáconos. Também êles foram chamados a colaborar com o Colégio episcopal , mas apenas no plano do ministério e não no do sacerdócio. Aliás , a Igreja — sempre através do Colégio — poderia estabelecer novas e.cambiantes formas de participação na sua tarefa, a serem construídas sobre a base do sacramento da ordem. A função deste sacramento é, portanto, agregar alguém, como membro ou como colaborador, ao Corpo episcopal. 4) O exercício dos podêres conferidos na ordenação, de acordo com a própria natureza da Igreja e da missão, encomendada não a indivíduos isolados mas a um corpo, exige a comunhão eclesial. Mas essa comunhão não pode ser concebida como mero elemento jurídico externo e sim como expressão de uma vida íntima de união na fé , na esperança e na caridade. Ora , assim como a união intencional admite diversos graus , é também possível uma comunhão eclesial limitada e gradual, que dê sentido à ação do ministro, mesmo quando externamente êle se encontre fora ou à margem da comunidade. Aí estaria a explicação da validade do ministério dos orientais separados (inclusive no caso da crisma). 5) Poderia ser irritado ou tornado nulo, o poder já concedido pela ordenação ê pela comunhão com o Colégio? Não se vê como negar essa possibilidade, considerando que o próprio Colégio episcopal é capaz de retirar radicalmente a comunhão com indivíduos ou grupos determinados. Mas , nessa perspectiva, não se pode manter a distinção tradicional entre ordem e jurisdição, porque tôda ação ministerial, mesmo a celebração eucarística, deve realizarse nesse quadro da comunhão eclesial. A natureza sacramentai da Igreja, como conjunto, leva, ao meu modo de ver, a esta conclusão. É verdade, porém, que tradicionalmente se vem afirmando que a Eucaristia é válida em todo caso, sempre que o ministro fôr ordenado e tiver a intenção de celebrar. Mas , isso é conseqüência de uma necessidade intrínseca, nascida da própria ordenação, ou do fato de o Colégio episcopal não ter querido negar nunca a comunhão mínim a , imprescindível para que essa Eucaristia seja uma realidade eclesial? 6) Finalmente, a terminologia atual pode induzir a erro. Principalmente porque reserva o nome de sacerdote para os presbíteros. Os sacerdotes do Novo Testamento são, fundamentalmente, os membros plenos do Colégio episcopal, porque a êles foi encomendada diretamente a tarefa de perpetuar a ação sacerdotal de Cristo. Os presbíteros são, como o Vaticano II os chama, sacerdotes "em grau subordinado" (34), cuja ação fora ou contra a comunhão do Colégio episcopal perderia todo o seu significado eclesial. (34) CONC . OECUM , VAT . II , Decr. de Presbyterorum ministério et vita, Presbyterorum ordinis , n. 2 . 193 Bispo s e Presbíteros: Aspectos sacramentais e organizativos do ministério eclesial Jesu s Hortal , S . J . Thi s articl e mtend s t o dra w th e consequence s ou t o f t h e teaching s o f Vaticãn I I Counci l abou t th e sacramen - talit y o f th e episcopacy . Fro m th e fac t tha t th e tradltíon a l theor y abou t th e distinctio n betwee n orde r powe r a n d jurisdictio n powe r canno t an y longe r b e interprete d a s a basi c an d adequat e divisio n òf th e cburc h ministry , i t look s fo r a sur e bas e fo r th e realit y -wel l knox ^ a s traditiona l o f th e thre e form s I n whic h th e hol y order s a r e conferred : episcopacy , priesthoo d an ^ de^co^ship . A rapi d historica l visio n examine s th e diffèrent theorie s buit t b y canonist s an d theblog^ians , i n orde r t o expláin t h e realit y live d b y th e Church . Base d o n th e counci l texts , i t trie s t o understan d the , sacre d minístry a s a continuatio n o f th e uniqu e missio n transmitte d to th e apostle s b y Christ , thrdug h a n insertio n i h th e episcopa l coUege . , Communio n — no t "jurisdiction " seem s t q b e th e basi c concep t fo r th e Characte r receive d it i ordination . Finally , ther e ar e expresse d a serie s óf hypothese s base d o n |h e previou s analysi s abou t th e distinctio n betwee n bishop s an d priests , abou t th e variou s saçred powers , abou t a possibl e dlvisio n o f th e Sacraínent o f Hòly Órder, abou t th e diffèrent grade s o f tlíe sacreá ministry , abou t t h e possibl e "irritation " o f th e poWér t o sanctify , an d abou t th e convenienc e o f modifyin g th e presen t termino - logy . Na realidade eclesial concreta em que vivemos , nos encontramos com três tipos plenamente diferenciados de ministérios, dentro do que costumamos chamar de "sacramento da ordem": bispos, presbí- teros e diáconos. Ainda que as três, denominações apareçam já na Escritura, a sua distinção clara é testemunhada a partir do século II. Isso vale principalmente para as Igrejas da Ásia Menor, onde a hierarquia tripartita é considerada por Santo Inácio de Antioquia como j organização natural e comum das cornunidades cristãs. Mas se a distinção é conhecida,já naqueles tempos primitivos, a reflexão teológica que.lh e pretendeu dar um fundamento foi elaborada tardiamente e com vacilações. Construiuse., primeiramente, a teoria da distinção de potestades ou do dú- plice poder; de ordem e de jurisdi- ção. O poder de ordem seria plenamente divino, transmissível 183 diretamente pelo sacramento, dirigido à santificação interna dos fiéis , e, uma vez conferido, subtraí- do, quanto à validade, ao domínio da Igreja. O poder de jurisdição, pelo contrário, teria muito de humano, transmitir-se-ia por delega- ção pontifícia e até (pelo menos parcialmente) sem necessidade da base sacramentai, estaria dirigido ao governo externo da sociedade eclesial, e poderia ser invalidado, em todo ou em parte pela autoridade competente. Elaborada pelos canonistas dos séculos XI-XII , esta distinção penetrou profundamente na Escolástica, devido, em grande parte, à autoridade de S. Tomás , que a adotou, com a célebre terminologia de "potestas in Corpus Christi verum " (poder de ordem) e "potestas in Corpus Christi mysticum" (poder de jurisdição) (1). Mas este modo de ver as coisas tem um inconveniente fundamental: a separação quase total dos dois elementos que correm sempre unidos na Igreja: o divino e o humano (2). Ora , a fórmula do Calcedonense — "inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter" (3) percorre toda a realidade derivada da Encarnação. Pretender separar os elementos divinos e humanos é tanto como destruir a ordem inaugurada pelo Homem-Deus. Na prática, aliás, a distinção entre ordem e jurisdição não era tão fácil como podia parecer à primeira vista. Afirmava-se — e o mesmo S. Tomás é testemunha disso — que os bispos e os (1) . Cf. S. Th. Il-llae, q. 184, a. 6, ad 1 ; III , q. 67, a. 2, ad 2 ; 111, q. 82, a. 1, ad 4. (2) Cf. CONCIUU M OECUMENICU M VATICA - N UM II, Const. dogm. de Ecciesla, Lumen Génlium , n. 8. (3) DS 302. 184 presbíteros diferiam apenas no poder de jurisdição e não no de ordem (4). As dificuldades, porém, que se derivavam dessa distinção não podiam ser ignoradas. Sobretudo nos casos da administração dos sacramentos da crisma e da ordem eram particularmente perturbadoras. A confirmação, com maiores ou menores restrições, foi administrada por presbíteros durante toda a História da Igreja. As ordenações, pelo menos em alguns casos (5), foram também conferidas por simples sacerdotes. Onde estava, pois, a distinção entre bispos e padres? No poder de ordem? Por que, então, os dois únicos sacramentos citados sempre como prova podjam ser administrados, vàlidamente, pelo menos em certos casos, por presbíteros? Se faltava a base sacramentai, não se v ê como podia ser suprida por uma simples delegação humana. Se, pelo contrário, com S. Tomás, se pensava no poder de jurisdição, como base da distinção entre presbíteros e bispos, devia explicar-se porque a Igreja considerava como (4) "A d quartum dicendum quod episcopus accipit potestaten ut agat in persona Cliristi supra corpus eius mvsticum: idest super Ecclesiam: quam quidem potestatem non accipit sacerdos in sua consecratione, licet possit eam habere ex episcopi commissione. Et ideo ea quae non pertinent ad disposi - tionem cornoris mvstici, non reservantur eoiscopo" (S. Th. 111, q. 82, a. I, ad 4). Cf. também; In IV Sen», d. 7, q. 3, a. 1 co. 2, ad 3; d. 24, q. 3, a. 2, col. 2-3; S. Th. ll-llae q. 184, a. 6, ad 1 ; III q. 65, a. 3, ad 2 ; q. 67, a. 2; q. 82, a. 1, ad 4 e a. 3 , ad 3. Não deve esquecer-se, porém, que o mesmo S. Tomás parece inclinar-se, nas suas últimas obras , por uma distinção entre bispos e nresbíteros baseada não apenas na diversa "jurisdição" . Cf. De perf. vitae spir., c. 24, n. 715. (5) Cf. BONIFAT . IX, Bulla Sacra* raliglonis, DS 1145; MARTIN. V . Bulla Gerantas ad vos , DS 1290; INNOCENT . VIII , Bulla Exposcit tua * d*votionis , DS 1435. O recurso fácil à negação da autenticidade destes d» , cumentos , que costumava empregar-se nos nossos manuais de Teologia, não é mais possível depoi s que foram descobertos o i originais conservados no Arquivo Vaticano. inválidas — e não apenas como ilícitas — as confirmações e ordenações realizadas por sacerdotes não autorizados. Para fugir a essas dificuldades foram elaboradas diversas teorias. Pensou-se, em primeiro lugar, numa irritação eclesiástica do poder sacramentai. Mas , por que essa irritação era possível nos casos da crisma e da ordem e não no da eucaristia? De fato, a Igreja considerou sempre como válida — embora ilícita — a celebração eucarística dos presbíteros que se encontram fora da comunhão eclesial, enquanto que ordenações e crismas, realizadas por padres incensurados mas não autorizados, eram dadas como inválidas. Falou-se, então, de um poder delegado de ordem. Os presbíteros não possuiriam, em virtude da própria ordenação, a faculdade de administrar os dois sacramentos citados, mas a Igreja, através dos bispos ou do papa, poderia delegar-lhes esse poder. A teoria ia , porém, diretamente contra a base da distinção entre ordem e jurisdi- ção. O poder de ordem era , como dizíamos, sacramentai, conferido diretamente por Deus, dirigido à santificação dos indivíduos e, por isso, subtraído radicalmente ao domínio da sociedade eclesial. Mas poder delegado de ordem significa algo social, regulável à vontade da autoridade humana, não conferido diretamente por Deus. Aliás , se, mediante uma simples delegação, os presbíteros podiam obter todas as faculdades dos bispos, para que servia a sagração episcopal? A única saída possível parecia a negação da distinção de graus dentro do sacramento da ordem. O presbiterato seria a ordenação propriamente dita. Bispos e padres seriam completamente iguais no plano da ordem, diferindo apenas no plano da jurisdição. A eucaristia não poderia ser nunca invalidada porque a consagração não atua diretamente sobre os súditos da Igreja. As ordenações e a crism a , pelo contrário, exigem necessariamente um sujeito que, por definição, deve ser súdito da Igreja. Ora , ela poderia assiná-lo ou não a tal sacerdote concreto, conferindo ou negando a validade desses sacramentos. O resultado, porém, desta teoria foi uma enorme casuística sobre designação de súditos, subordinação de uns ministros a outros, liceidade, iliceidade ou iterabilidade dos sacramentos. No tempo do Concilio de Trento, a questão da distinção entre bispos e presbíteros se apresentava tão complicada que os padres conciliares não se atreveram a resolvê-la, contentando-se apenas com afirmar a superioridade dos bispos sobre os presbíteros, mas sem fornecer a razão intrínseca dela (6). A distinção entre ordem e jurisdição sofreu os primeiros embates quando, nos fins do século XVIII , alguns teólogos e canonistas católicos começaram a aceitar a doutrina protestante dos tempos do lluminismo sobre a divisão tripartita do poder eclesial: santificação, magistério e regime (7). Sem dúvida , essa teoria apresentava grandes vantagens do ponto de vista pedagógico e até parecia ter um fundamento bíblico (6) CONC . TRID. Sess. XXIll , cap. 4 (DS T768) e can. 7 (DS 1777). (7) Sobre a origem da divisão tripartita, cf. J . FUCHS , Magisterium, Ministarium, Regimen. V o m Ursprufig einer «MilMiologítchaii Trilogia, Bonn, 1941 ; ID., Waiheuikrameiitale Grundiagung liirchlieher Rachtsgewait, in Scholasfilc 16 (1941) 496-520. 1 8 5 claro: Mt 28 , 19-20 (8). Mas , do ponto de vista da Teologia dogmá- tica e da Sistemática jurídica, oferecia igualmente não pequenos iriíçonvenientes. Qual era, afinal, a -natureza e o modo de transmissão do poder de magistério? Para muitos parecia ser uma espécie de potestade intermédia, carismática mais do que sacramentai, e dirigida tanto à santificação quanto ao governo dos fiéis. Para fugir a essa indefinição do poder de magisté- rio, a maior parte dos canonistas da segunda metade do século XI X e da primeira do X X acabaram rejeitando a tríplice divisão e voltaram à bipartição entre ordem e jurisdição (9). O" magistério seria apenas um exercício da jurisdição eclesiástica. Justificavam-se assim as licenças que ainda hoje são necessárias para a pregação. Voltavase, porém,'às dificuldades dos sé- culos anteriores, , No momento em cjue começa o Concilio Ecumênico Vaticano II , a distinção -radical entre poder de ordem e poder de jurisdição parece ser um obstáculo para o prgresso' da Teotogia do Episcopado. Com efeito, essa distinção tinha entrado nos documentos rebentes dO' Magistério eclesiástico ordiná rio. Em Pio XI I é'clara a afirmação da transmissão da ' jurisdição por intermédio dó Papa e não direta mente pelo sacramento (10). Os Padres conciliares pretendem solucionar o dilema" mediante a compreer?são'de tôda a realidade ecle- (8) Esse fundamento bíblico não parece ser tão evidente como alguns autores afirmam: Cf. M. VIDAL , íTiiene fundamento biMico Ia ' div&ión trÍDartila de Ia Teologia Pastoral? , em Pentecostés 8 (1070) 3-17. (9) Cf. , p. ex. WERNZ-VIDAL , lus Canonieum, I I , p. 62 ss.; A. OTTAVIANI , Intlítuttones luri s Publici Ecciesiaslici, ed. 4.^, Romae, , 1958, 1. p. 186 ss.; J . FERRANTE , Suinnia luris Constifutionalis Eeclesiae, Romae 1964, pp. 196 ss. 186 sial sob o prisma da sacramentalidade da sua ação. Falar-se-á de "mistério", de "sacramento", de "natureza encarnatória da Igreja", de "caráter teândrico", etc. No fundo, está presente a realidade de uma dupla estrutura eclesial: visível e invisível, jurídica e carismática, humana e divina. Não é que essa dupla estrutura fosse desconhecida anteriormente, mas a união íntima, inseparável, entre os dois elementos não era suficientemente acentuada (11). À luz desta nova compreensão da Igreja, a distinção radical entre ordem e jurisdição não é mais .possível. No "poder de ordem" deve estar presente também um elemento organizativo, social; e »o "poder de jurisdição" não pocíe faltar o elemento sacramentai. Numa linguagem às vezes obscura, que procura evitar as palavras "ordem" e "jurisdição" e até mesmo o termo (10) "(Episcopi) non plane sui iuris sunt, sed sub debita Romani Pontificis auctoritate • positi, quamvts ordinária iurisdictionís potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontífice Summo impertita" ; Ene. Mvstici Corporis , em AA S 35 (1943) 212; "iuris - dictionís autem potestas, quae Supremo Pontifici iure ipso divino confertur, Episcopis ex eodem provenit iure, at nonnísí. per Petri Sucessorem" : Ene. A d Sínarum Gentes efn AA S 47 (1955) 9; "hoc posito, efficitur ut Episcopi nec nominati nec confirmati a Sede Apostólicanuli a fruantur potestate magisterlí et iurisdictionís, cum iurísdictio Episcopi s per unüm Romanum Pontificem obtingat" : Ene. A d Apoitolorum Pincipis , em AA S 50 (1958) 610. O s grifos são meus . (11) Cf. W. BERTRAMS, De constilulione Écclasiae simui charismalica e l inslilulionali, em Periódica 57 (1968) 302 ss. Quase em todos os escritos deste autor iiá úm aceno a essa dupla estrutura. Por isso, não parece haver dúvida quanto à sua contribuição para a redação final do capítulo III e da "Not a explicativa prévia da Const. dogm. lume n Oentium. ' Cf , entre outros, bs' seguintes estudos do citada P. BERTRAMS: De relalione inter Episcopatum et Primatum, Principia philosophica et theologica quibus relatio iuridica fundatur inter officium episcopaje e» primatiale, Romae, 1963;^ De quaestione circa originem potestis iurisdic- . .«ionis Eaiscoperum in Contilio Tridantino non resoluta, em Periódica 52 ,(1963) 45? - 476;'Paps t und Bischâfskollegium ais Trãger der kirchiichen Hirtengewait, Paderborn, 1965. "poder", o Capítulo III da "Lumen Gentium" e a sua "Nota explicativa prévia " nos falam da participa- ção ontológica nos múnus sagrados através da sagração episcopal. Pensava-se assim poder explicar facilmente as relações entre os membros do Colégio episcopal e o Romano pontífice. Na realidade, porém, atingia-se também a questão da diferença entre bispos e presbíteros. Não há dúvida que o Concilio realizou um grande avanço, mas ainda deixou alguns pontos obscuros e não poucas ambigüidades, principalmente em relação à essa última questão. Procuremos, portanto, tirar as conseqüências da doutrina conciliar. A base para a compreensão do sacerdócio cristão, neste como em qualquer outro aspecto, é a vida e a obra de Cristo. Dêle deriva todo poder, porque a Êle foi entregue pelo Pai (12). É, portanto, no Cristo onde poderemos encontrar o modelo para a interpretação do poder eclesiástico. E o que encontramos aí? Cristo é envjado pelo Pai (13). Mas, simultâne^ente , é ungido pelo Espírito Santo (14). Do mesmo modo, Êle envia ôs Apóstolos (15) e lhes concede'ou promete para o futuro a unção do Espírito Santo (16). Nestes textos, aparece claro que missão e consagração, embora separaveis, è até mesmo conferidas em ocasiões diversas, estão sempre em íntima relação. Cristo, que iá desde o início recebeu a sua missão, não começa a sua "pregação do Reino", quer dizer a rea- (12) Cf. M l 28 18. (13) Jo 20, 21 . Aliás , em todo o Evangelho de S. João é um tema constante a missão do Filho, que é enviado ao mundo pelo Pai. (14) Cf. Lc. 4, 18s. e os relatos do batismo de Jesus . (15) Jo 20, 21 ; Mt 23 , 19-20; Mc 16, 15-18. (16) Lc 24, 49 ; Jo 14, 16-17; 20,22; At 7, 5.8. iização estrita da sua missão, senSo depois da unção visível pelo Espirito, no momento do batismo. Por sua vez , os Apóstolos recebem a ordem de não se empenharem diretamente na missão até não terem recebido a consagração interior do Paráciito (17). É claro que a missão, a ordem externa pela qual alguém é enviado, representa um elemento organizativo. Na compreensão humana, é a autoridade quem dá o mandato, quem envia. E, no caso dos Apóstolos, essa autoridade é o pró- prio Cristo, que manifesta claramente a sua vontade. Por sua vez , a santificação ou consagração é um elemento fundamentalmente interno e invisível. Mas aqui, ao igual que em tôda a ordem derivada do Encarnação, os elementos divinos e humanos, internos e externos , não aparecem separados, desunidos. A missão é externa, mas a autoridade que a confere é divina. A un- ção do Espírito é interna, mas é realizada mediante um rito externo (18), e se destina a completar a missão recebida. Porém, a tarefa a realizar não está dividida; é única como único é o Espírito que a deve dirigir. Há, em principio, uma única missão, e há um único grande missionário: o Colégio apostólico, depositário do mandato de Cristo e transmissor do único Espirito (19). Daí se derivam os dois grandes princípios que o Vaticano II enunciou no capítulo III da tumen Gentium: a colegialidade e a'sacra - mentalidade do Episcopado. Não (17) Lc 24 , 49; A t 1, 4. (18) Cf. Jo 20, 22 ; At 6,6; 9, 17; 13, 2-3. (19) ".. . quos Apóstolos (cf. Lc 6,13) ad modum çòllegii sçu coefus stabilis instifuit.. . Eos ad filios Israel primum et ad omnes gentes misit (cf. Rom 1, 161" : Const. dogm. de Ecciesia lume n Gentium, n. 19. r 8 7 há, não pode haver na Igreja um ministério individual, indeperidente da comunhão eclesial. Quem se coloca voluntariamente contra a ordem estabelecida por Cristo, como participará da sua missão e do seu Espírito? É na comunhão do Colégio que todos os ministérios encontram a sua unidade. E é na imposição das mãos pelos membros do Colégio, seguindo o exemplo dos Apóstolos, que o Espírito nos é dado para a edificação do Corpo de Cristo. Essa comunhão, de origem sacramentai, mas de conseqüências sociológicas e organizativas, é o ponto de encontro do visível e do invisível, do divino e do humano, no ministério eclesial (20). De acordo com os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, o Colégio apostólico começa a realizar a sua missão unido como um todo, como um conjunto. A dé-> da unidade da tarefa a realizar parece ocupar naqueles momentos o primeiro plano. Mas a mesma dinâmica da vida da Igreja deveria, mais tarde, levar necessariamente ao reconhecimento da multiplicidade implícita nessa unidade. Surge assim, em primeiro lugar, o problema da limitação das forças dos Doze, que os leva a impor as mãos aos sete varões que deverão encarregar-se da assistência aos indigentes (21). Apresenta-se depois a necessidade de espalhar a boa nova além dos limites restritos de Jerusalém e, conseqüentemente, a desagregação dos Doze, que passam a viver dispersos, sem, contudo, romperem a sua unidade na comunhão. Há, enfim — com o (20) O caráter social dos sacramenots (portanto, também do sacramento da ordem) é frisado no n.o 7 da lumen Gentium. (21) At 6, 1-7. 188 decorrer dos anos — o avizinhar-se da morte e o crescimento da consciência de que o ministério não poderá desaparecer com a passagem do Apóstolo. Seus colaboradores deverão continuar a sua tarefa (22). Nesse contexto histórico, a Igreja primitiva viveu uma realidade antes de refletir sobre ela. Essa realidade pode-se resumir em três frases: unidade da missão encomendada por Cristo; sacramentalidade da inserção no Colégio apostólico, através da imposição das mãos; multiplicidade de ministé- rios, explicitada de acordo com as circunstâncias e necessidades das comunidades locais. A unidade nos fala da comunhão eclesial; a sacramentalidade nos mostra a união entre o visível e o invisível na sucessão apostólica; a multiplicidade, enfim , nos indica um certo poder da Igreja sobre os sacramentos. Nas primeiras comunidades cristãs, não só a diversidade de nomes (apóstolos, colaboradores, enviados , evangelistas, profetas, bispos, presbíteros, guias, diretores, pastores, presidentes. . .) , mas também a falta de diferenciação clara das diversas funções, nos está indicando a multiplicidade potencial do ministério eclesial (23). Num tempo relativamente breve, essa multiplicidade acaba enquadrando-se no (22) Cf. , por exemplo, 2, Tim 4, 5-8 e as passagens finais das Epístolas do cativeiro. A Const. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium ensina o mesmo no seu número 20: (Apostou) "non solum.. . vários adíutores in mi - nistério habuerunt, sed ut missio ipsis concredita post eorum mortem continuaretur, cooperatoribus suis immediatis , quasi per modum testamenti, demandaverunt munus perficiendi et confirmandi opus ab ipsis inceptum" . (23) Entre os múltiplos estudos sabre este ponto, podemos destacar: MANUE L GUERI^A GO - MEZ, I a Colegialidad en Ia conttitueiin jerárquica y en el gobiarno da la> primerat comunidades cristianas, na obra coletiva El Colégio Episcopal, Madrid, 1964. tríplice esquema, hoje tão conhecido para nós: episcopado, presbiterato e diaconato. Tão acostumados estamos a esse esquema, que nem sequer nos apresentamos a questão da sua reformabilidade. Contemplando, po- • rém, a evolução histórica a que temos feito referência, manifestase-nos um primeiro problema. Nas comunidades cristãs primitivas, o único ministério apostólico se desdobrou, sob o impulso das circunstâncias e necessidades pastorais, até chegar a cristalizar nos três graus da chamada "hierarquia de ordem". Conserva a Igreja, ainda hoje, a capacidade de desenvolver em formas novas as virtualidades do sacramento da ordem? Quer dizer, poderia ela, no nosso tempo, estabelecer novos modos de participação no sacerdócio ministerial que foi confiado ao Colégio apostólico? Dificilmente se poderá negar essa possibilidade se se considera que o exclusivismo da nossa organização atujl não parece ser um dado dos primeiros tempos do Cristianismo, mas apenas um fruto da era pós-apostólica. A s declara- ções do Concilio de Trento, que afirmam uma hierarquia de ordem, estabelecida por instituição divina (24), não constituem nenhuma dificuldade, pois, de modo algum, afirmam que os diversos graus procedam imediatamente de Cristo, nem que todas as virtualidades do sacramento da ordem fiquem esgotadas na trilogia "bispos , presbíteros e ministros". Não é nenhuma novidade a teoria da instituição apenas genérica do sacramento da ordem por Cristo. A literatura canônica e teológica a (24) CONC . TRID. jess . XXIll : Decr. de sacram. ordinis , especialmente o cap. 4 e o cânon 6: DS 17Ó8, 1776. este respeito é grande (25). Dividem-se, porém, os autores quando se trata de determinar se após a fixação dos três graus conhecidos é ainda possível uma ordenação diferente do ministério eclesial. E a verdade é que não há nenhum argumento convincente. Se, como parece, a distinção clara entre bispos, presbíteros e diáconos é apenas pós-apostólica, não se pode dizer que pertença ao núcleo da revelação, que ficou encerrada com a morte do último Apóstolo. O Colégio apostólico, primeiramente, e o Colégio episcopal depois, foram chamando homens que, em diversos graus e de diversos modos deveriam colaborar na missão única, ou continuá-la. Essa participação não parece ser, na consciência dos primeiros séculos cristãos, uma entrega parcelada de podêres que só através de etapas sucessivas possam ser alcançados. O ministério nos aparece dividido não em degraus que devam ser escalados progressivamente, mas em modos de participação, em tarefas especializadas, em missões a cumprir dentro da grande missão. Os exemplos de ordenações "pe r saltus" não são raros, nem levantaram maiores problemas teológicos (26). Em tôda ordenação de diácono, presbítero ou bispo há, fundamentalmente, uma inserção nessa grande missão do Colégio; há — valha a expressão — uma "incardinação" não nesta ou naquela diocese, mas no Colégio episcopal, depositário e transmissor (25) Pode consultar-se uma lista bastante completa no trabalho de ANTÔNI O MOSTAZ A RODRIGUEZ , Poderes episcopales y pretbi - terales, em La Función pastoral de los ©bis - pos , XI Semana espanola de Derecho canónico, Salamanca 1967. (26j É típico, a este respeito, o caso dos papas. Cf. MICHE L ANDRIEU , La urrièr e eeclesiastiqua des papes du moyen tge , em Rev. des Sciences rei. 27 (1947) 90-120. 189 do mandato de Cristo. Por isso, a Lumen Gentium pôde afirmar que "todos os sacerdotes. . . estão unidos com o Corpo dos Bispos e, segundo sua vocação e graça, devem servir ao bem de tôda a Igreja" (27). Em tôda ordenação há, portanto, já uma missão. Ordenação e missão aparecem tão intimamente unidas nos primeiros séculos que nem se cogita na sua pogsível separação. Daí que os clérigos sejam sempre ordenados relativamente, quer dizer destinados já a um ministério particular: a uma diocese, a um "título" ou a uma diaconia concretos e determinados (28). A participação de, pelo menos, três bispos na sagra- ção episcopal, que nos é apresentada em Nicéia como lei universal e tradicional (29), dá , por sua vez , o sentido da universalidade, da participação na missão única do Colégio através do rito sacro do sacramento da ordem. Quando, a partir da Alta Idade Média, começam a generalizar-se na Igreja as ordenações absolutas, sem referência explícita a um ofí- cio determinado, o pensamento teológico procura uma justificação (27) Consf. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. (28) Essa disciplina foi rigorosamente observada durante os, quatro primeiros séculos. Aos poucos , caiu em desuso; mas para a Igreja Romana airida era lei, nos fins do século IX, e a sua inobservância deu lugar aos conhecidos episódios relacionados com a elevação de Formoso (891-896) ao Pontifi - , cado. Tão forte era a união entre o ordenado e ofício a que se destinava que c próprio Concilio Ecumênico de Nicéia consi - dera como absolutamente nula qualquer trasladação a outra diocese, título ou diaconia. Cf. CONC . NICAEN . 1, can. 15: ".. . si qui s vero,. . tale quid agere temptaverit.. . hoc factum prorsus in irritum deducatur et restituatur eeclesiae, cui fuit episcopus , presbyter aut diaconus órdinatus" : em Conci - líorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc, p. 12. (29) Cf. CONC . NICAEN . I, can. 4, em Concí - liorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc), Friburgi 1962, pp. 6-7. i9Ó teórica para o fato d a aparente separação radical e adequada das duas realidades que virão a receber o nome de ordem e jurisdição. Surgirá assim a teoria a que fazíamos referência no começo deste artigo. A ordenação conferiria somente o poder de ordem, sacramentai, de santificação; poder que deveria ser completado em todos os casos nos quais o seu exercício atinge diretamente os indivíduos (os "súditos", como costumava dizer-se). Por isso, a confissão "sem jurisdição" seria nula, mas a celebração da Eucaristia — que atua diretamente sobre a realidade divina do Corpo de Cristo e só indiretamente sobre os fiéis — seria sempre válida. A jjjrisdição, distinta e separável do poder de ordem, se transmitiria e seria, até certo ponto, independente da ordenação sacerdotal. Esta teoria parecia mais cômoda enquanto permitia explicar a diferença entre bispos e presbíteros, sem aumentar o nú- mero dos sacramentos e nem sequer recorrer à concepção da diversidade de graus no sacramento da ordem. A verdadeira, a única ordenação sacerdotal, seria ó presbiterato. Bispos e presbíteros diferenciar-se-iam apenas no poder de jurisdição (30). J á temos falado, anteriormente, das dificuldades que essa teoria apresenta. Vejamos ainda uma outra. Na realidade, a distinção radical entre ordem e jurisdição e a negação da multiplicidade contida no sacramento da ordem, em lugar de explicar, obscureciâ a distinção entre bispos e presbíteros. Perante um bispo titular sem (30) Entre os autores mais recentes partidários dessa teoria, pode destacar-se J . BEVÉR, Nature et position du iacerdoce, em Nouv. Rev. Théol. 86 (1954) 356-373; 469-480. nenhuma função especial numa diocese, deveríamos dizer que se encontra "degradado" à condição de presbítero? E, por sua vez , um presbítero que, como no caso dos prelados "nuliius", dos administradores apostólicos, dos vigários capitulares ou dos prefeitos apostólicos, governasse de fato uma diocese ou um território afim, poderia dizer-se que tinha sido "elevado" à categoria de bispo? Pôr causa das dificuldades apontadas, o Concilio Vaticano II abandonou a velha terminologia e fala não de "ordem" e "jurisdição", mas do tríplice "múnus " de ensinar, santificár e governar, cuja participação ontológica é conferida aos bispos na sagração episcopal. Os três múnus têm, portanto, uma base sacramentai, uma estrutura interna anterior à sua manifestação externa, à sua atuação no contexto social da Igreja. Mas se isso é verdade para os bispos, deve sê-lo igualmente para os presbíteros, que também recebem o sacramento da ordem, embora em forma diferente. Os presbíteros não são chamados "participantes do sacerdócio dos bispos", mas do único sacerdócio de Cristo (31). Daí que, também para êles , ps podêres de ensinar, santificár e governar tenham o seu apoio, a sua base ontológica, na ordenação recebida. A mudança de terminologia no Concilio é evidente. Trata-se, poréni, também de uma mudança de doutrina? Ou melhor, de uma volta a uma doutrina esquecida: a da sacramentalidade radical do poder eclesial? Assim parece ser. Contudo, nem todas as dificuldades fo- (31) ".. . (Presbyteri). consecranfur, ut veri sa- . cerdotes Novi Testamenti Muneri s unici Me-, diatoris Christi (1 Tim 2,5) participes in suo ' . gradu ministérii" : Const. dogm, de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. ram resolvidas. Os "múnus", afirma o Concilio, são conferidos na ordenação sagrada; mas devem ser exercidos na "comunhão hierárquica" (32). Não está aqui ainda escondida a distinção entre ordem e jurisdição? Pelo menos uma reminiscência dela é clara. De fato, a relação da comissão sobre o modo 39 afirma que a restrição da necessidade da comunhão para o exercício dos múnus episcopais se refere unicamente aos de ensinar e reger, não ao de santificár. Èm outras palavras , o múnus de santificár (antigo "poder de ordem") já estaria expedito para a ação pélp fato da simples sagração episcopal, enquanto os múnus de ensinar e governar (antigo "poder de jurisdição") deveriam ser completados pela "comunhão hierárquica" (33). Se fôssemos tirar as conseqüências lógicas dessa explicação dada na aula conciliar, teríamos que concluir que o poder de santificár é sempre vàlidamente exercido; ó que não acontece com os de ensinar e governar. E não era èssá a doutrina "pré-conciliar" das duas potestades? Colocada, porém, a premissa da unidade do ministério em Cristd, tem sentido um poder sacramentai exercido totalmente fora da comunhão eclesial? A necessidade dessa comunhão não me parece que: se possa justificar apenas pela exigência da determinação dos súdir tos sobre os quais o ministério deva ser exercido. Pelo contrário, a comunhão hierárquica é uma con- (32) C{. Const. dogm. de Ecciesia-^luiniM -.âmr tium, n. 21 . (33) (Textus approbatus) "affirmàt cohsècfationô conferri, cum munere sanctificandl,^- ^çtlam munera regendi ac.docendi ; curn hac qui - dem restrictione, quod haec ultim a extra communionem exercteri non possunt" : Responsió ad modurti 39, âp. J . Aí. RAMIREZ, De Epiacopatu u t sacramentp deqúe epii ? coporum collegio, Salmanticae 1966, p. 55 , Í91 seqüência da estrutura social de todos os sacramentos, incluído o da Eucaristia. Êles são ações "da Igreja", realizadas "na Igreja". O caráter indelével do sacramento da ordem é, sem dúvida , um dado certo da tradição cristã, mas é igualmente certo que a ordenação é uma realidade destinada a ser exercida numa comunidade local, dentro da comunidade universal que é a Igreja. Colocar-se fora ou contra esta privaria de sentido a atuação do poder de santificár. A Eucaristia, sinal e causa eficaz da unidade dos irmãos em Cristo, teria algum sentido se fosse celebrada por alguém que rompeu por inteiro essa unidade? É evidente que um raciocínio que logicamente leva à admissão da irritabilidade do poder de santificár causa pelo menos perplexidade. Mas não me parece que as dificuldades que daí se derivam sejam insalváveis. As reflexões expostas até aqui constituem a base para a formula- ção de algumas hipóteses sobre o ministério presbiteral e a sua rela- ção com o episcopado. Não me atrevo a dizer que elas tenham sido perfeitamente provadas , mas me parece que constituem a explicação mais coerente dos ensinamentos do Concilio e dos fatos que a História da Igreja nos transmitiu. Eis, pois, as minhas conclusões: 1) A diferença entre bispo e presbítero não pode descansar unicamente numa jurisdição extrasacramental, que era desconhecida na primitiva Igreja e que pugnaria com a própria economia da salva- ção, onde os elementos interno e externo vão sempre unidos. Essa diferença tem a sua base no pró- prio sacramento da ordem. O presbítero, pela ordenação, passa a participar da missão única do Co- 192 légio apostólico; não como titular desse Colégio, mas como o seu auxiliar e subordinado. O bispo, pelo contrário, é membro pleno, continuador do ministério apostó- lico, presencializador na comunidade local de tôda a obra de Cristo e co-responsável na comunidade universal da tarefa primitivamente encomendada aos Doze. 2) Os podêres do presbítero são variáveis e, de fato, variaram ao longo da História, porque o Colégio episcopal pode escolher os seus auxiliares com finalidades diversas , de acordo com as circunstâncias e necessidades da Igreja. A tradição eclesiástica reservou o nome de presbítero para aqueles que foram chamados a colaborar diretamente no q/^erecimento do único sacrifício def Cristo. Daí o nome de sacerdotes pelo qual também são conhecidos. Quanto à administração de outros sacramentos (sobretudo crisma e ordem) o Colégio pode chamar para colaboração maior ou menor. E, precisamente porque o Colégio dos bispos quer conceder estes e não outros podêres, concede-os, de fato, porque êle é o titular da missão e o encarregado de arbitrar os meios necessários para o cumprimento dela. Não se esque- ça: a missão do Colégio é originá- ria, enquanto a dos presbíteros é derivada. 3) O que se afirma dos presbíteros pode ser aplicado — corri as devidas correções — aos diáconos. Também êles foram chamados a colaborar com o Colégio episcopal , mas apenas no plano do ministério e não no do sacerdócio. Aliás , a Igreja — sempre através do Colégio — poderia estabelecer novas e.cambiantes formas de participação na sua tarefa, a serem construídas sobre a base do sacramento da ordem. A função deste sacramento é, portanto, agregar alguém, como membro ou como colaborador, ao Corpo episcopal. 4) O exercício dos podêres conferidos na ordenação, de acordo com a própria natureza da Igreja e da missão, encomendada não a indivíduos isolados mas a um corpo, exige a comunhão eclesial. Mas essa comunhão não pode ser concebida como mero elemento jurídico externo e sim como expressão de uma vida íntima de união na fé , na esperança e na caridade. Ora , assim como a união intencional admite diversos graus , é também possível uma comunhão eclesial limitada e gradual, que dê sentido à ação do ministro, mesmo quando externamente êle se encontre fora ou à margem da comunidade. Aí estaria a explicação da validade do ministério dos orientais separados (inclusive no caso da crisma). 5) Poderia ser irritado ou tornado nulo, o poder já concedido pela ordenação ê pela comunhão com o Colégio? Não se vê como negar essa possibilidade, considerando que o próprio Colégio episcopal é capaz de retirar radicalmente a comunhão com indivíduos ou grupos determinados. Mas , nessa perspectiva, não se pode manter a distinção tradicional entre ordem e jurisdição, porque tôda ação ministerial, mesmo a celebração eucarística, deve realizarse nesse quadro da comunhão eclesial. A natureza sacramentai da Igreja, como conjunto, leva, ao meu modo de ver, a esta conclusão. É verdade, porém, que tradicionalmente se vem afirmando que a Eucaristia é válida em todo caso, sempre que o ministro fôr ordenado e tiver a intenção de celebrar. Mas , isso é conseqüência de uma necessidade intrínseca, nascida da própria ordenação, ou do fato de o Colégio episcopal não ter querido negar nunca a comunhão mínim a , imprescindível para que essa Eucaristia seja uma realidade eclesial? 6) Finalmente, a terminologia atual pode induzir a erro. Principalmente porque reserva o nome de sacerdote para os presbíteros. Os sacerdotes do Novo Testamento são, fundamentalmente, os membros plenos do Colégio episcopal, porque a êles foi encomendada diretamente a tarefa de perpetuar a ação sacerdotal de Cristo. Os presbíteros são, como o Vaticano II os chama, sacerdotes "em grau subordinado" (34), cuja ação fora ou contra a comunhão do Colégio episcopal perderia todo o seu significado eclesial. (34) CONC . OECUM , VAT . II , Decr. de Presbyterorum ministério et vita, Presbyterorum ordinis , n. 2 . 193 Bispo s e Presbíteros: Aspectos sacramentais e organizativos do ministério eclesial Jesu s Hortal , S . J . Thi s articl e mtend s t o dra w th e consequence s ou t o f t h e teaching s o f Vaticãn I I Counci l abou t th e sacramen - talit y o f th e episcopacy . Fro m th e fac t tha t th e tradltíon a l theor y abou t th e distinctio n betwee n orde r powe r a n d jurisdictio n powe r canno t an y longe r b e interprete d a s a basi c an d adequat e divisio n òf th e cburc h ministry , i t look s fo r a sur e bas e fo r th e realit y -wel l knox ^ a s traditiona l o f th e thre e form s I n whic h th e hol y order s a r e conferred : episcopacy , priesthoo d an ^ de^co^ship . A rapi d historica l visio n examine s th e diffèrent theorie s buit t b y canonist s an d theblog^ians , i n orde r t o expláin t h e realit y live d b y th e Church . Base d o n th e counci l texts , i t trie s t o understan d the , sacre d minístry a s a continuatio n o f th e uniqu e missio n transmitte d to th e apostle s b y Christ , thrdug h a n insertio n i h th e episcopa l coUege . , Communio n — no t "jurisdiction " seem s t q b e th e basi c concep t fo r th e Characte r receive d it i ordination . Finally , ther e ar e expresse d a serie s óf hypothese s base d o n |h e previou s analysi s abou t th e distinctio n betwee n bishop s an d priests , abou t th e variou s saçred powers , abou t a possibl e dlvisio n o f th e Sacraínent o f Hòly Órder, abou t th e diffèrent grade s o f tlíe sacreá ministry , abou t t h e possibl e "irritation " o f th e poWér t o sanctify , an d abou t th e convenienc e o f modifyin g th e presen t termino - logy . Na realidade eclesial concreta em que vivemos , nos encontramos com três tipos plenamente diferenciados de ministérios, dentro do que costumamos chamar de "sacramento da ordem": bispos, presbí- teros e diáconos. Ainda que as três, denominações apareçam já na Escritura, a sua distinção clara é testemunhada a partir do século II. Isso vale principalmente para as Igrejas da Ásia Menor, onde a hierarquia tripartita é considerada por Santo Inácio de Antioquia como j organização natural e comum das cornunidades cristãs. Mas se a distinção é conhecida,já naqueles tempos primitivos, a reflexão teológica que.lh e pretendeu dar um fundamento foi elaborada tardiamente e com vacilações. Construiuse., primeiramente, a teoria da distinção de potestades ou do dú- plice poder; de ordem e de jurisdi- ção. O poder de ordem seria plenamente divino, transmissível 183 diretamente pelo sacramento, dirigido à santificação interna dos fiéis , e, uma vez conferido, subtraí- do, quanto à validade, ao domínio da Igreja. O poder de jurisdição, pelo contrário, teria muito de humano, transmitir-se-ia por delega- ção pontifícia e até (pelo menos parcialmente) sem necessidade da base sacramentai, estaria dirigido ao governo externo da sociedade eclesial, e poderia ser invalidado, em todo ou em parte pela autoridade competente. Elaborada pelos canonistas dos séculos XI-XII , esta distinção penetrou profundamente na Escolástica, devido, em grande parte, à autoridade de S. Tomás , que a adotou, com a célebre terminologia de "potestas in Corpus Christi verum " (poder de ordem) e "potestas in Corpus Christi mysticum" (poder de jurisdição) (1). Mas este modo de ver as coisas tem um inconveniente fundamental: a separação quase total dos dois elementos que correm sempre unidos na Igreja: o divino e o humano (2). Ora , a fórmula do Calcedonense — "inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter" (3) percorre toda a realidade derivada da Encarnação. Pretender separar os elementos divinos e humanos é tanto como destruir a ordem inaugurada pelo Homem-Deus. Na prática, aliás, a distinção entre ordem e jurisdição não era tão fácil como podia parecer à primeira vista. Afirmava-se — e o mesmo S. Tomás é testemunha disso — que os bispos e os (1) . Cf. S. Th. Il-llae, q. 184, a. 6, ad 1 ; III , q. 67, a. 2, ad 2 ; 111, q. 82, a. 1, ad 4. (2) Cf. CONCIUU M OECUMENICU M VATICA - N UM II, Const. dogm. de Ecciesla, Lumen Génlium , n. 8. (3) DS 302. 184 presbíteros diferiam apenas no poder de jurisdição e não no de ordem (4). As dificuldades, porém, que se derivavam dessa distinção não podiam ser ignoradas. Sobretudo nos casos da administração dos sacramentos da crisma e da ordem eram particularmente perturbadoras. A confirmação, com maiores ou menores restrições, foi administrada por presbíteros durante toda a História da Igreja. As ordenações, pelo menos em alguns casos (5), foram também conferidas por simples sacerdotes. Onde estava, pois, a distinção entre bispos e padres? No poder de ordem? Por que, então, os dois únicos sacramentos citados sempre como prova podjam ser administrados, vàlidamente, pelo menos em certos casos, por presbíteros? Se faltava a base sacramentai, não se v ê como podia ser suprida por uma simples delegação humana. Se, pelo contrário, com S. Tomás, se pensava no poder de jurisdição, como base da distinção entre presbíteros e bispos, devia explicar-se porque a Igreja considerava como (4) "A d quartum dicendum quod episcopus accipit potestaten ut agat in persona Cliristi supra corpus eius mvsticum: idest super Ecclesiam: quam quidem potestatem non accipit sacerdos in sua consecratione, licet possit eam habere ex episcopi commissione. Et ideo ea quae non pertinent ad disposi - tionem cornoris mvstici, non reservantur eoiscopo" (S. Th. 111, q. 82, a. I, ad 4). Cf. também; In IV Sen», d. 7, q. 3, a. 1 co. 2, ad 3; d. 24, q. 3, a. 2, col. 2-3; S. Th. ll-llae q. 184, a. 6, ad 1 ; III q. 65, a. 3, ad 2 ; q. 67, a. 2; q. 82, a. 1, ad 4 e a. 3 , ad 3. Não deve esquecer-se, porém, que o mesmo S. Tomás parece inclinar-se, nas suas últimas obras , por uma distinção entre bispos e nresbíteros baseada não apenas na diversa "jurisdição" . Cf. De perf. vitae spir., c. 24, n. 715. (5) Cf. BONIFAT . IX, Bulla Sacra* raliglonis, DS 1145; MARTIN. V . Bulla Gerantas ad vos , DS 1290; INNOCENT . VIII , Bulla Exposcit tua * d*votionis , DS 1435. O recurso fácil à negação da autenticidade destes d» , cumentos , que costumava empregar-se nos nossos manuais de Teologia, não é mais possível depoi s que foram descobertos o i originais conservados no Arquivo Vaticano. inválidas — e não apenas como ilícitas — as confirmações e ordenações realizadas por sacerdotes não autorizados. Para fugir a essas dificuldades foram elaboradas diversas teorias. Pensou-se, em primeiro lugar, numa irritação eclesiástica do poder sacramentai. Mas , por que essa irritação era possível nos casos da crisma e da ordem e não no da eucaristia? De fato, a Igreja considerou sempre como válida — embora ilícita — a celebração eucarística dos presbíteros que se encontram fora da comunhão eclesial, enquanto que ordenações e crismas, realizadas por padres incensurados mas não autorizados, eram dadas como inválidas. Falou-se, então, de um poder delegado de ordem. Os presbíteros não possuiriam, em virtude da própria ordenação, a faculdade de administrar os dois sacramentos citados, mas a Igreja, através dos bispos ou do papa, poderia delegar-lhes esse poder. A teoria ia , porém, diretamente contra a base da distinção entre ordem e jurisdi- ção. O poder de ordem era , como dizíamos, sacramentai, conferido diretamente por Deus, dirigido à santificação dos indivíduos e, por isso, subtraído radicalmente ao domínio da sociedade eclesial. Mas poder delegado de ordem significa algo social, regulável à vontade da autoridade humana, não conferido diretamente por Deus. Aliás , se, mediante uma simples delegação, os presbíteros podiam obter todas as faculdades dos bispos, para que servia a sagração episcopal? A única saída possível parecia a negação da distinção de graus dentro do sacramento da ordem. O presbiterato seria a ordenação propriamente dita. Bispos e padres seriam completamente iguais no plano da ordem, diferindo apenas no plano da jurisdição. A eucaristia não poderia ser nunca invalidada porque a consagração não atua diretamente sobre os súditos da Igreja. As ordenações e a crism a , pelo contrário, exigem necessariamente um sujeito que, por definição, deve ser súdito da Igreja. Ora , ela poderia assiná-lo ou não a tal sacerdote concreto, conferindo ou negando a validade desses sacramentos. O resultado, porém, desta teoria foi uma enorme casuística sobre designação de súditos, subordinação de uns ministros a outros, liceidade, iliceidade ou iterabilidade dos sacramentos. No tempo do Concilio de Trento, a questão da distinção entre bispos e presbíteros se apresentava tão complicada que os padres conciliares não se atreveram a resolvê-la, contentando-se apenas com afirmar a superioridade dos bispos sobre os presbíteros, mas sem fornecer a razão intrínseca dela (6). A distinção entre ordem e jurisdição sofreu os primeiros embates quando, nos fins do século XVIII , alguns teólogos e canonistas católicos começaram a aceitar a doutrina protestante dos tempos do lluminismo sobre a divisão tripartita do poder eclesial: santificação, magistério e regime (7). Sem dúvida , essa teoria apresentava grandes vantagens do ponto de vista pedagógico e até parecia ter um fundamento bíblico (6) CONC . TRID. Sess. XXIll , cap. 4 (DS T768) e can. 7 (DS 1777). (7) Sobre a origem da divisão tripartita, cf. J . FUCHS , Magisterium, Ministarium, Regimen. V o m Ursprufig einer «MilMiologítchaii Trilogia, Bonn, 1941 ; ID., Waiheuikrameiitale Grundiagung liirchlieher Rachtsgewait, in Scholasfilc 16 (1941) 496-520. 1 8 5 claro: Mt 28 , 19-20 (8). Mas , do ponto de vista da Teologia dogmá- tica e da Sistemática jurídica, oferecia igualmente não pequenos iriíçonvenientes. Qual era, afinal, a -natureza e o modo de transmissão do poder de magistério? Para muitos parecia ser uma espécie de potestade intermédia, carismática mais do que sacramentai, e dirigida tanto à santificação quanto ao governo dos fiéis. Para fugir a essa indefinição do poder de magisté- rio, a maior parte dos canonistas da segunda metade do século XI X e da primeira do X X acabaram rejeitando a tríplice divisão e voltaram à bipartição entre ordem e jurisdição (9). O" magistério seria apenas um exercício da jurisdição eclesiástica. Justificavam-se assim as licenças que ainda hoje são necessárias para a pregação. Voltavase, porém,'às dificuldades dos sé- culos anteriores, , No momento em cjue começa o Concilio Ecumênico Vaticano II , a distinção -radical entre poder de ordem e poder de jurisdição parece ser um obstáculo para o prgresso' da Teotogia do Episcopado. Com efeito, essa distinção tinha entrado nos documentos rebentes dO' Magistério eclesiástico ordiná rio. Em Pio XI I é'clara a afirmação da transmissão da ' jurisdição por intermédio dó Papa e não direta mente pelo sacramento (10). Os Padres conciliares pretendem solucionar o dilema" mediante a compreer?são'de tôda a realidade ecle- (8) Esse fundamento bíblico não parece ser tão evidente como alguns autores afirmam: Cf. M. VIDAL , íTiiene fundamento biMico Ia ' div&ión trÍDartila de Ia Teologia Pastoral? , em Pentecostés 8 (1070) 3-17. (9) Cf. , p. ex. WERNZ-VIDAL , lus Canonieum, I I , p. 62 ss.; A. OTTAVIANI , Intlítuttones luri s Publici Ecciesiaslici, ed. 4.^, Romae, , 1958, 1. p. 186 ss.; J . FERRANTE , Suinnia luris Constifutionalis Eeclesiae, Romae 1964, pp. 196 ss. 186 sial sob o prisma da sacramentalidade da sua ação. Falar-se-á de "mistério", de "sacramento", de "natureza encarnatória da Igreja", de "caráter teândrico", etc. No fundo, está presente a realidade de uma dupla estrutura eclesial: visível e invisível, jurídica e carismática, humana e divina. Não é que essa dupla estrutura fosse desconhecida anteriormente, mas a união íntima, inseparável, entre os dois elementos não era suficientemente acentuada (11). À luz desta nova compreensão da Igreja, a distinção radical entre ordem e jurisdição não é mais .possível. No "poder de ordem" deve estar presente também um elemento organizativo, social; e »o "poder de jurisdição" não pocíe faltar o elemento sacramentai. Numa linguagem às vezes obscura, que procura evitar as palavras "ordem" e "jurisdição" e até mesmo o termo (10) "(Episcopi) non plane sui iuris sunt, sed sub debita Romani Pontificis auctoritate • positi, quamvts ordinária iurisdictionís potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontífice Summo impertita" ; Ene. Mvstici Corporis , em AA S 35 (1943) 212; "iuris - dictionís autem potestas, quae Supremo Pontifici iure ipso divino confertur, Episcopis ex eodem provenit iure, at nonnísí. per Petri Sucessorem" : Ene. A d Sínarum Gentes efn AA S 47 (1955) 9; "hoc posito, efficitur ut Episcopi nec nominati nec confirmati a Sede Apostólicanuli a fruantur potestate magisterlí et iurisdictionís, cum iurísdictio Episcopi s per unüm Romanum Pontificem obtingat" : Ene. A d Apoitolorum Pincipis , em AA S 50 (1958) 610. O s grifos são meus . (11) Cf. W. BERTRAMS, De constilulione Écclasiae simui charismalica e l inslilulionali, em Periódica 57 (1968) 302 ss. Quase em todos os escritos deste autor iiá úm aceno a essa dupla estrutura. Por isso, não parece haver dúvida quanto à sua contribuição para a redação final do capítulo III e da "Not a explicativa prévia da Const. dogm. lume n Oentium. ' Cf , entre outros, bs' seguintes estudos do citada P. BERTRAMS: De relalione inter Episcopatum et Primatum, Principia philosophica et theologica quibus relatio iuridica fundatur inter officium episcopaje e» primatiale, Romae, 1963;^ De quaestione circa originem potestis iurisdic- . .«ionis Eaiscoperum in Contilio Tridantino non resoluta, em Periódica 52 ,(1963) 45? - 476;'Paps t und Bischâfskollegium ais Trãger der kirchiichen Hirtengewait, Paderborn, 1965. "poder", o Capítulo III da "Lumen Gentium" e a sua "Nota explicativa prévia " nos falam da participa- ção ontológica nos múnus sagrados através da sagração episcopal. Pensava-se assim poder explicar facilmente as relações entre os membros do Colégio episcopal e o Romano pontífice. Na realidade, porém, atingia-se também a questão da diferença entre bispos e presbíteros. Não há dúvida que o Concilio realizou um grande avanço, mas ainda deixou alguns pontos obscuros e não poucas ambigüidades, principalmente em relação à essa última questão. Procuremos, portanto, tirar as conseqüências da doutrina conciliar. A base para a compreensão do sacerdócio cristão, neste como em qualquer outro aspecto, é a vida e a obra de Cristo. Dêle deriva todo poder, porque a Êle foi entregue pelo Pai (12). É, portanto, no Cristo onde poderemos encontrar o modelo para a interpretação do poder eclesiástico. E o que encontramos aí? Cristo é envjado pelo Pai (13). Mas, simultâne^ente , é ungido pelo Espírito Santo (14). Do mesmo modo, Êle envia ôs Apóstolos (15) e lhes concede'ou promete para o futuro a unção do Espírito Santo (16). Nestes textos, aparece claro que missão e consagração, embora separaveis, è até mesmo conferidas em ocasiões diversas, estão sempre em íntima relação. Cristo, que iá desde o início recebeu a sua missão, não começa a sua "pregação do Reino", quer dizer a rea- (12) Cf. M l 28 18. (13) Jo 20, 21 . Aliás , em todo o Evangelho de S. João é um tema constante a missão do Filho, que é enviado ao mundo pelo Pai. (14) Cf. Lc. 4, 18s. e os relatos do batismo de Jesus . (15) Jo 20, 21 ; Mt 23 , 19-20; Mc 16, 15-18. (16) Lc 24, 49 ; Jo 14, 16-17; 20,22; At 7, 5.8. iização estrita da sua missão, senSo depois da unção visível pelo Espirito, no momento do batismo. Por sua vez , os Apóstolos recebem a ordem de não se empenharem diretamente na missão até não terem recebido a consagração interior do Paráciito (17). É claro que a missão, a ordem externa pela qual alguém é enviado, representa um elemento organizativo. Na compreensão humana, é a autoridade quem dá o mandato, quem envia. E, no caso dos Apóstolos, essa autoridade é o pró- prio Cristo, que manifesta claramente a sua vontade. Por sua vez , a santificação ou consagração é um elemento fundamentalmente interno e invisível. Mas aqui, ao igual que em tôda a ordem derivada do Encarnação, os elementos divinos e humanos, internos e externos , não aparecem separados, desunidos. A missão é externa, mas a autoridade que a confere é divina. A un- ção do Espírito é interna, mas é realizada mediante um rito externo (18), e se destina a completar a missão recebida. Porém, a tarefa a realizar não está dividida; é única como único é o Espírito que a deve dirigir. Há, em principio, uma única missão, e há um único grande missionário: o Colégio apostólico, depositário do mandato de Cristo e transmissor do único Espirito (19). Daí se derivam os dois grandes princípios que o Vaticano II enunciou no capítulo III da tumen Gentium: a colegialidade e a'sacra - mentalidade do Episcopado. Não (17) Lc 24 , 49; A t 1, 4. (18) Cf. Jo 20, 22 ; At 6,6; 9, 17; 13, 2-3. (19) ".. . quos Apóstolos (cf. Lc 6,13) ad modum çòllegii sçu coefus stabilis instifuit.. . Eos ad filios Israel primum et ad omnes gentes misit (cf. Rom 1, 161" : Const. dogm. de Ecciesia lume n Gentium, n. 19. r 8 7 há, não pode haver na Igreja um ministério individual, indeperidente da comunhão eclesial. Quem se coloca voluntariamente contra a ordem estabelecida por Cristo, como participará da sua missão e do seu Espírito? É na comunhão do Colégio que todos os ministérios encontram a sua unidade. E é na imposição das mãos pelos membros do Colégio, seguindo o exemplo dos Apóstolos, que o Espírito nos é dado para a edificação do Corpo de Cristo. Essa comunhão, de origem sacramentai, mas de conseqüências sociológicas e organizativas, é o ponto de encontro do visível e do invisível, do divino e do humano, no ministério eclesial (20). De acordo com os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, o Colégio apostólico começa a realizar a sua missão unido como um todo, como um conjunto. A dé-> da unidade da tarefa a realizar parece ocupar naqueles momentos o primeiro plano. Mas a mesma dinâmica da vida da Igreja deveria, mais tarde, levar necessariamente ao reconhecimento da multiplicidade implícita nessa unidade. Surge assim, em primeiro lugar, o problema da limitação das forças dos Doze, que os leva a impor as mãos aos sete varões que deverão encarregar-se da assistência aos indigentes (21). Apresenta-se depois a necessidade de espalhar a boa nova além dos limites restritos de Jerusalém e, conseqüentemente, a desagregação dos Doze, que passam a viver dispersos, sem, contudo, romperem a sua unidade na comunhão. Há, enfim — com o (20) O caráter social dos sacramenots (portanto, também do sacramento da ordem) é frisado no n.o 7 da lumen Gentium. (21) At 6, 1-7. 188 decorrer dos anos — o avizinhar-se da morte e o crescimento da consciência de que o ministério não poderá desaparecer com a passagem do Apóstolo. Seus colaboradores deverão continuar a sua tarefa (22). Nesse contexto histórico, a Igreja primitiva viveu uma realidade antes de refletir sobre ela. Essa realidade pode-se resumir em três frases: unidade da missão encomendada por Cristo; sacramentalidade da inserção no Colégio apostólico, através da imposição das mãos; multiplicidade de ministé- rios, explicitada de acordo com as circunstâncias e necessidades das comunidades locais. A unidade nos fala da comunhão eclesial; a sacramentalidade nos mostra a união entre o visível e o invisível na sucessão apostólica; a multiplicidade, enfim , nos indica um certo poder da Igreja sobre os sacramentos. Nas primeiras comunidades cristãs, não só a diversidade de nomes (apóstolos, colaboradores, enviados , evangelistas, profetas, bispos, presbíteros, guias, diretores, pastores, presidentes. . .) , mas também a falta de diferenciação clara das diversas funções, nos está indicando a multiplicidade potencial do ministério eclesial (23). Num tempo relativamente breve, essa multiplicidade acaba enquadrando-se no (22) Cf. , por exemplo, 2, Tim 4, 5-8 e as passagens finais das Epístolas do cativeiro. A Const. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium ensina o mesmo no seu número 20: (Apostou) "non solum.. . vários adíutores in mi - nistério habuerunt, sed ut missio ipsis concredita post eorum mortem continuaretur, cooperatoribus suis immediatis , quasi per modum testamenti, demandaverunt munus perficiendi et confirmandi opus ab ipsis inceptum" . (23) Entre os múltiplos estudos sabre este ponto, podemos destacar: MANUE L GUERI^A GO - MEZ, I a Colegialidad en Ia conttitueiin jerárquica y en el gobiarno da la> primerat comunidades cristianas, na obra coletiva El Colégio Episcopal, Madrid, 1964. tríplice esquema, hoje tão conhecido para nós: episcopado, presbiterato e diaconato. Tão acostumados estamos a esse esquema, que nem sequer nos apresentamos a questão da sua reformabilidade. Contemplando, po- • rém, a evolução histórica a que temos feito referência, manifestase-nos um primeiro problema. Nas comunidades cristãs primitivas, o único ministério apostólico se desdobrou, sob o impulso das circunstâncias e necessidades pastorais, até chegar a cristalizar nos três graus da chamada "hierarquia de ordem". Conserva a Igreja, ainda hoje, a capacidade de desenvolver em formas novas as virtualidades do sacramento da ordem? Quer dizer, poderia ela, no nosso tempo, estabelecer novos modos de participação no sacerdócio ministerial que foi confiado ao Colégio apostólico? Dificilmente se poderá negar essa possibilidade se se considera que o exclusivismo da nossa organização atujl não parece ser um dado dos primeiros tempos do Cristianismo, mas apenas um fruto da era pós-apostólica. A s declara- ções do Concilio de Trento, que afirmam uma hierarquia de ordem, estabelecida por instituição divina (24), não constituem nenhuma dificuldade, pois, de modo algum, afirmam que os diversos graus procedam imediatamente de Cristo, nem que todas as virtualidades do sacramento da ordem fiquem esgotadas na trilogia "bispos , presbíteros e ministros". Não é nenhuma novidade a teoria da instituição apenas genérica do sacramento da ordem por Cristo. A literatura canônica e teológica a (24) CONC . TRID. jess . XXIll : Decr. de sacram. ordinis , especialmente o cap. 4 e o cânon 6: DS 17Ó8, 1776. este respeito é grande (25). Dividem-se, porém, os autores quando se trata de determinar se após a fixação dos três graus conhecidos é ainda possível uma ordenação diferente do ministério eclesial. E a verdade é que não há nenhum argumento convincente. Se, como parece, a distinção clara entre bispos, presbíteros e diáconos é apenas pós-apostólica, não se pode dizer que pertença ao núcleo da revelação, que ficou encerrada com a morte do último Apóstolo. O Colégio apostólico, primeiramente, e o Colégio episcopal depois, foram chamando homens que, em diversos graus e de diversos modos deveriam colaborar na missão única, ou continuá-la. Essa participação não parece ser, na consciência dos primeiros séculos cristãos, uma entrega parcelada de podêres que só através de etapas sucessivas possam ser alcançados. O ministério nos aparece dividido não em degraus que devam ser escalados progressivamente, mas em modos de participação, em tarefas especializadas, em missões a cumprir dentro da grande missão. Os exemplos de ordenações "pe r saltus" não são raros, nem levantaram maiores problemas teológicos (26). Em tôda ordenação de diácono, presbítero ou bispo há, fundamentalmente, uma inserção nessa grande missão do Colégio; há — valha a expressão — uma "incardinação" não nesta ou naquela diocese, mas no Colégio episcopal, depositário e transmissor (25) Pode consultar-se uma lista bastante completa no trabalho de ANTÔNI O MOSTAZ A RODRIGUEZ , Poderes episcopales y pretbi - terales, em La Función pastoral de los ©bis - pos , XI Semana espanola de Derecho canónico, Salamanca 1967. (26j É típico, a este respeito, o caso dos papas. Cf. MICHE L ANDRIEU , La urrièr e eeclesiastiqua des papes du moyen tge , em Rev. des Sciences rei. 27 (1947) 90-120. 189 do mandato de Cristo. Por isso, a Lumen Gentium pôde afirmar que "todos os sacerdotes. . . estão unidos com o Corpo dos Bispos e, segundo sua vocação e graça, devem servir ao bem de tôda a Igreja" (27). Em tôda ordenação há, portanto, já uma missão. Ordenação e missão aparecem tão intimamente unidas nos primeiros séculos que nem se cogita na sua pogsível separação. Daí que os clérigos sejam sempre ordenados relativamente, quer dizer destinados já a um ministério particular: a uma diocese, a um "título" ou a uma diaconia concretos e determinados (28). A participação de, pelo menos, três bispos na sagra- ção episcopal, que nos é apresentada em Nicéia como lei universal e tradicional (29), dá , por sua vez , o sentido da universalidade, da participação na missão única do Colégio através do rito sacro do sacramento da ordem. Quando, a partir da Alta Idade Média, começam a generalizar-se na Igreja as ordenações absolutas, sem referência explícita a um ofí- cio determinado, o pensamento teológico procura uma justificação (27) Consf. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. (28) Essa disciplina foi rigorosamente observada durante os, quatro primeiros séculos. Aos poucos , caiu em desuso; mas para a Igreja Romana airida era lei, nos fins do século IX, e a sua inobservância deu lugar aos conhecidos episódios relacionados com a elevação de Formoso (891-896) ao Pontifi - , cado. Tão forte era a união entre o ordenado e ofício a que se destinava que c próprio Concilio Ecumênico de Nicéia consi - dera como absolutamente nula qualquer trasladação a outra diocese, título ou diaconia. Cf. CONC . NICAEN . 1, can. 15: ".. . si qui s vero,. . tale quid agere temptaverit.. . hoc factum prorsus in irritum deducatur et restituatur eeclesiae, cui fuit episcopus , presbyter aut diaconus órdinatus" : em Conci - líorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc, p. 12. (29) Cf. CONC . NICAEN . I, can. 4, em Concí - liorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc), Friburgi 1962, pp. 6-7. i9Ó teórica para o fato d a aparente separação radical e adequada das duas realidades que virão a receber o nome de ordem e jurisdição. Surgirá assim a teoria a que fazíamos referência no começo deste artigo. A ordenação conferiria somente o poder de ordem, sacramentai, de santificação; poder que deveria ser completado em todos os casos nos quais o seu exercício atinge diretamente os indivíduos (os "súditos", como costumava dizer-se). Por isso, a confissão "sem jurisdição" seria nula, mas a celebração da Eucaristia — que atua diretamente sobre a realidade divina do Corpo de Cristo e só indiretamente sobre os fiéis — seria sempre válida. A jjjrisdição, distinta e separável do poder de ordem, se transmitiria e seria, até certo ponto, independente da ordenação sacerdotal. Esta teoria parecia mais cômoda enquanto permitia explicar a diferença entre bispos e presbíteros, sem aumentar o nú- mero dos sacramentos e nem sequer recorrer à concepção da diversidade de graus no sacramento da ordem. A verdadeira, a única ordenação sacerdotal, seria ó presbiterato. Bispos e presbíteros diferenciar-se-iam apenas no poder de jurisdição (30). J á temos falado, anteriormente, das dificuldades que essa teoria apresenta. Vejamos ainda uma outra. Na realidade, a distinção radical entre ordem e jurisdição e a negação da multiplicidade contida no sacramento da ordem, em lugar de explicar, obscureciâ a distinção entre bispos e presbíteros. Perante um bispo titular sem (30) Entre os autores mais recentes partidários dessa teoria, pode destacar-se J . BEVÉR, Nature et position du iacerdoce, em Nouv. Rev. Théol. 86 (1954) 356-373; 469-480. nenhuma função especial numa diocese, deveríamos dizer que se encontra "degradado" à condição de presbítero? E, por sua vez , um presbítero que, como no caso dos prelados "nuliius", dos administradores apostólicos, dos vigários capitulares ou dos prefeitos apostólicos, governasse de fato uma diocese ou um território afim, poderia dizer-se que tinha sido "elevado" à categoria de bispo? Pôr causa das dificuldades apontadas, o Concilio Vaticano II abandonou a velha terminologia e fala não de "ordem" e "jurisdição", mas do tríplice "múnus " de ensinar, santificár e governar, cuja participação ontológica é conferida aos bispos na sagração episcopal. Os três múnus têm, portanto, uma base sacramentai, uma estrutura interna anterior à sua manifestação externa, à sua atuação no contexto social da Igreja. Mas se isso é verdade para os bispos, deve sê-lo igualmente para os presbíteros, que também recebem o sacramento da ordem, embora em forma diferente. Os presbíteros não são chamados "participantes do sacerdócio dos bispos", mas do único sacerdócio de Cristo (31). Daí que, também para êles , ps podêres de ensinar, santificár e governar tenham o seu apoio, a sua base ontológica, na ordenação recebida. A mudança de terminologia no Concilio é evidente. Trata-se, poréni, também de uma mudança de doutrina? Ou melhor, de uma volta a uma doutrina esquecida: a da sacramentalidade radical do poder eclesial? Assim parece ser. Contudo, nem todas as dificuldades fo- (31) ".. . (Presbyteri). consecranfur, ut veri sa- . cerdotes Novi Testamenti Muneri s unici Me-, diatoris Christi (1 Tim 2,5) participes in suo ' . gradu ministérii" : Const. dogm, de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. ram resolvidas. Os "múnus", afirma o Concilio, são conferidos na ordenação sagrada; mas devem ser exercidos na "comunhão hierárquica" (32). Não está aqui ainda escondida a distinção entre ordem e jurisdição? Pelo menos uma reminiscência dela é clara. De fato, a relação da comissão sobre o modo 39 afirma que a restrição da necessidade da comunhão para o exercício dos múnus episcopais se refere unicamente aos de ensinar e reger, não ao de santificár. Èm outras palavras , o múnus de santificár (antigo "poder de ordem") já estaria expedito para a ação pélp fato da simples sagração episcopal, enquanto os múnus de ensinar e governar (antigo "poder de jurisdição") deveriam ser completados pela "comunhão hierárquica" (33). Se fôssemos tirar as conseqüências lógicas dessa explicação dada na aula conciliar, teríamos que concluir que o poder de santificár é sempre vàlidamente exercido; ó que não acontece com os de ensinar e governar. E não era èssá a doutrina "pré-conciliar" das duas potestades? Colocada, porém, a premissa da unidade do ministério em Cristd, tem sentido um poder sacramentai exercido totalmente fora da comunhão eclesial? A necessidade dessa comunhão não me parece que: se possa justificar apenas pela exigência da determinação dos súdir tos sobre os quais o ministério deva ser exercido. Pelo contrário, a comunhão hierárquica é uma con- (32) C{. Const. dogm. de Ecciesia-^luiniM -.âmr tium, n. 21 . (33) (Textus approbatus) "affirmàt cohsècfationô conferri, cum munere sanctificandl,^- ^çtlam munera regendi ac.docendi ; curn hac qui - dem restrictione, quod haec ultim a extra communionem exercteri non possunt" : Responsió ad modurti 39, âp. J . Aí. RAMIREZ, De Epiacopatu u t sacramentp deqúe epii ? coporum collegio, Salmanticae 1966, p. 55 , Í91 seqüência da estrutura social de todos os sacramentos, incluído o da Eucaristia. Êles são ações "da Igreja", realizadas "na Igreja". O caráter indelével do sacramento da ordem é, sem dúvida , um dado certo da tradição cristã, mas é igualmente certo que a ordenação é uma realidade destinada a ser exercida numa comunidade local, dentro da comunidade universal que é a Igreja. Colocar-se fora ou contra esta privaria de sentido a atuação do poder de santificár. A Eucaristia, sinal e causa eficaz da unidade dos irmãos em Cristo, teria algum sentido se fosse celebrada por alguém que rompeu por inteiro essa unidade? É evidente que um raciocínio que logicamente leva à admissão da irritabilidade do poder de santificár causa pelo menos perplexidade. Mas não me parece que as dificuldades que daí se derivam sejam insalváveis. As reflexões expostas até aqui constituem a base para a formula- ção de algumas hipóteses sobre o ministério presbiteral e a sua rela- ção com o episcopado. Não me atrevo a dizer que elas tenham sido perfeitamente provadas , mas me parece que constituem a explicação mais coerente dos ensinamentos do Concilio e dos fatos que a História da Igreja nos transmitiu. Eis, pois, as minhas conclusões: 1) A diferença entre bispo e presbítero não pode descansar unicamente numa jurisdição extrasacramental, que era desconhecida na primitiva Igreja e que pugnaria com a própria economia da salva- ção, onde os elementos interno e externo vão sempre unidos. Essa diferença tem a sua base no pró- prio sacramento da ordem. O presbítero, pela ordenação, passa a participar da missão única do Co- 192 légio apostólico; não como titular desse Colégio, mas como o seu auxiliar e subordinado. O bispo, pelo contrário, é membro pleno, continuador do ministério apostó- lico, presencializador na comunidade local de tôda a obra de Cristo e co-responsável na comunidade universal da tarefa primitivamente encomendada aos Doze. 2) Os podêres do presbítero são variáveis e, de fato, variaram ao longo da História, porque o Colégio episcopal pode escolher os seus auxiliares com finalidades diversas , de acordo com as circunstâncias e necessidades da Igreja. A tradição eclesiástica reservou o nome de presbítero para aqueles que foram chamados a colaborar diretamente no q/^erecimento do único sacrifício def Cristo. Daí o nome de sacerdotes pelo qual também são conhecidos. Quanto à administração de outros sacramentos (sobretudo crisma e ordem) o Colégio pode chamar para colaboração maior ou menor. E, precisamente porque o Colégio dos bispos quer conceder estes e não outros podêres, concede-os, de fato, porque êle é o titular da missão e o encarregado de arbitrar os meios necessários para o cumprimento dela. Não se esque- ça: a missão do Colégio é originá- ria, enquanto a dos presbíteros é derivada. 3) O que se afirma dos presbíteros pode ser aplicado — corri as devidas correções — aos diáconos. Também êles foram chamados a colaborar com o Colégio episcopal , mas apenas no plano do ministério e não no do sacerdócio. Aliás , a Igreja — sempre através do Colégio — poderia estabelecer novas e.cambiantes formas de participação na sua tarefa, a serem construídas sobre a base do sacramento da ordem. A função deste sacramento é, portanto, agregar alguém, como membro ou como colaborador, ao Corpo episcopal. 4) O exercício dos podêres conferidos na ordenação, de acordo com a própria natureza da Igreja e da missão, encomendada não a indivíduos isolados mas a um corpo, exige a comunhão eclesial. Mas essa comunhão não pode ser concebida como mero elemento jurídico externo e sim como expressão de uma vida íntima de união na fé , na esperança e na caridade. Ora , assim como a união intencional admite diversos graus , é também possível uma comunhão eclesial limitada e gradual, que dê sentido à ação do ministro, mesmo quando externamente êle se encontre fora ou à margem da comunidade. Aí estaria a explicação da validade do ministério dos orientais separados (inclusive no caso da crisma). 5) Poderia ser irritado ou tornado nulo, o poder já concedido pela ordenação ê pela comunhão com o Colégio? Não se vê como negar essa possibilidade, considerando que o próprio Colégio episcopal é capaz de retirar radicalmente a comunhão com indivíduos ou grupos determinados. Mas , nessa perspectiva, não se pode manter a distinção tradicional entre ordem e jurisdição, porque tôda ação ministerial, mesmo a celebração eucarística, deve realizarse nesse quadro da comunhão eclesial. A natureza sacramentai da Igreja, como conjunto, leva, ao meu modo de ver, a esta conclusão. É verdade, porém, que tradicionalmente se vem afirmando que a Eucaristia é válida em todo caso, sempre que o ministro fôr ordenado e tiver a intenção de celebrar. Mas , isso é conseqüência de uma necessidade intrínseca, nascida da própria ordenação, ou do fato de o Colégio episcopal não ter querido negar nunca a comunhão mínim a , imprescindível para que essa Eucaristia seja uma realidade eclesial? 6) Finalmente, a terminologia atual pode induzir a erro. Principalmente porque reserva o nome de sacerdote para os presbíteros. Os sacerdotes do Novo Testamento são, fundamentalmente, os membros plenos do Colégio episcopal, porque a êles foi encomendada diretamente a tarefa de perpetuar a ação sacerdotal de Cristo. Os presbíteros são, como o Vaticano II os chama, sacerdotes "em grau subordinado" (34), cuja ação fora ou contra a comunhão do Colégio episcopal perderia todo o seu significado eclesial. (34) CONC . OECUM , VAT . II , Decr. de Presbyterorum ministério et vita, Presbyterorum ordinis , n. 2 . 193 Bispo s e Presbíteros: Aspectos sacramentais e organizativos do ministério eclesial Jesu s Hortal , S . J . Thi s articl e mtend s t o dra w th e consequence s ou t o f t h e teaching s o f Vaticãn I I Counci l abou t th e sacramen - talit y o f th e episcopacy . Fro m th e fac t tha t th e tradltíon a l theor y abou t th e distinctio n betwee n orde r powe r a n d jurisdictio n powe r canno t an y longe r b e interprete d a s a basi c an d adequat e divisio n òf th e cburc h ministry , i t look s fo r a sur e bas e fo r th e realit y -wel l knox ^ a s traditiona l o f th e thre e form s I n whic h th e hol y order s a r e conferred : episcopacy , priesthoo d an ^ de^co^ship . A rapi d historica l visio n examine s th e diffèrent theorie s buit t b y canonist s an d theblog^ians , i n orde r t o expláin t h e realit y live d b y th e Church . Base d o n th e counci l texts , i t trie s t o understan d the , sacre d minístry a s a continuatio n o f th e uniqu e missio n transmitte d to th e apostle s b y Christ , thrdug h a n insertio n i h th e episcopa l coUege . , Communio n — no t "jurisdiction " seem s t q b e th e basi c concep t fo r th e Characte r receive d it i ordination . Finally , ther e ar e expresse d a serie s óf hypothese s base d o n |h e previou s analysi s abou t th e distinctio n betwee n bishop s an d priests , abou t th e variou s saçred powers , abou t a possibl e dlvisio n o f th e Sacraínent o f Hòly Órder, abou t th e diffèrent grade s o f tlíe sacreá ministry , abou t t h e possibl e "irritation " o f th e poWér t o sanctify , an d abou t th e convenienc e o f modifyin g th e presen t termino - logy . Na realidade eclesial concreta em que vivemos , nos encontramos com três tipos plenamente diferenciados de ministérios, dentro do que costumamos chamar de "sacramento da ordem": bispos, presbí- teros e diáconos. Ainda que as três, denominações apareçam já na Escritura, a sua distinção clara é testemunhada a partir do século II. Isso vale principalmente para as Igrejas da Ásia Menor, onde a hierarquia tripartita é considerada por Santo Inácio de Antioquia como j organização natural e comum das cornunidades cristãs. Mas se a distinção é conhecida,já naqueles tempos primitivos, a reflexão teológica que.lh e pretendeu dar um fundamento foi elaborada tardiamente e com vacilações. Construiuse., primeiramente, a teoria da distinção de potestades ou do dú- plice poder; de ordem e de jurisdi- ção. O poder de ordem seria plenamente divino, transmissível 183 diretamente pelo sacramento, dirigido à santificação interna dos fiéis , e, uma vez conferido, subtraí- do, quanto à validade, ao domínio da Igreja. O poder de jurisdição, pelo contrário, teria muito de humano, transmitir-se-ia por delega- ção pontifícia e até (pelo menos parcialmente) sem necessidade da base sacramentai, estaria dirigido ao governo externo da sociedade eclesial, e poderia ser invalidado, em todo ou em parte pela autoridade competente. Elaborada pelos canonistas dos séculos XI-XII , esta distinção penetrou profundamente na Escolástica, devido, em grande parte, à autoridade de S. Tomás , que a adotou, com a célebre terminologia de "potestas in Corpus Christi verum " (poder de ordem) e "potestas in Corpus Christi mysticum" (poder de jurisdição) (1). Mas este modo de ver as coisas tem um inconveniente fundamental: a separação quase total dos dois elementos que correm sempre unidos na Igreja: o divino e o humano (2). Ora , a fórmula do Calcedonense — "inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter" (3) percorre toda a realidade derivada da Encarnação. Pretender separar os elementos divinos e humanos é tanto como destruir a ordem inaugurada pelo Homem-Deus. Na prática, aliás, a distinção entre ordem e jurisdição não era tão fácil como podia parecer à primeira vista. Afirmava-se — e o mesmo S. Tomás é testemunha disso — que os bispos e os (1) . Cf. S. Th. Il-llae, q. 184, a. 6, ad 1 ; III , q. 67, a. 2, ad 2 ; 111, q. 82, a. 1, ad 4. (2) Cf. CONCIUU M OECUMENICU M VATICA - N UM II, Const. dogm. de Ecciesla, Lumen Génlium , n. 8. (3) DS 302. 184 presbíteros diferiam apenas no poder de jurisdição e não no de ordem (4). As dificuldades, porém, que se derivavam dessa distinção não podiam ser ignoradas. Sobretudo nos casos da administração dos sacramentos da crisma e da ordem eram particularmente perturbadoras. A confirmação, com maiores ou menores restrições, foi administrada por presbíteros durante toda a História da Igreja. As ordenações, pelo menos em alguns casos (5), foram também conferidas por simples sacerdotes. Onde estava, pois, a distinção entre bispos e padres? No poder de ordem? Por que, então, os dois únicos sacramentos citados sempre como prova podjam ser administrados, vàlidamente, pelo menos em certos casos, por presbíteros? Se faltava a base sacramentai, não se v ê como podia ser suprida por uma simples delegação humana. Se, pelo contrário, com S. Tomás, se pensava no poder de jurisdição, como base da distinção entre presbíteros e bispos, devia explicar-se porque a Igreja considerava como (4) "A d quartum dicendum quod episcopus accipit potestaten ut agat in persona Cliristi supra corpus eius mvsticum: idest super Ecclesiam: quam quidem potestatem non accipit sacerdos in sua consecratione, licet possit eam habere ex episcopi commissione. Et ideo ea quae non pertinent ad disposi - tionem cornoris mvstici, non reservantur eoiscopo" (S. Th. 111, q. 82, a. I, ad 4). Cf. também; In IV Sen», d. 7, q. 3, a. 1 co. 2, ad 3; d. 24, q. 3, a. 2, col. 2-3; S. Th. ll-llae q. 184, a. 6, ad 1 ; III q. 65, a. 3, ad 2 ; q. 67, a. 2; q. 82, a. 1, ad 4 e a. 3 , ad 3. Não deve esquecer-se, porém, que o mesmo S. Tomás parece inclinar-se, nas suas últimas obras , por uma distinção entre bispos e nresbíteros baseada não apenas na diversa "jurisdição" . Cf. De perf. vitae spir., c. 24, n. 715. (5) Cf. BONIFAT . IX, Bulla Sacra* raliglonis, DS 1145; MARTIN. V . Bulla Gerantas ad vos , DS 1290; INNOCENT . VIII , Bulla Exposcit tua * d*votionis , DS 1435. O recurso fácil à negação da autenticidade destes d» , cumentos , que costumava empregar-se nos nossos manuais de Teologia, não é mais possível depoi s que foram descobertos o i originais conservados no Arquivo Vaticano. inválidas — e não apenas como ilícitas — as confirmações e ordenações realizadas por sacerdotes não autorizados. Para fugir a essas dificuldades foram elaboradas diversas teorias. Pensou-se, em primeiro lugar, numa irritação eclesiástica do poder sacramentai. Mas , por que essa irritação era possível nos casos da crisma e da ordem e não no da eucaristia? De fato, a Igreja considerou sempre como válida — embora ilícita — a celebração eucarística dos presbíteros que se encontram fora da comunhão eclesial, enquanto que ordenações e crismas, realizadas por padres incensurados mas não autorizados, eram dadas como inválidas. Falou-se, então, de um poder delegado de ordem. Os presbíteros não possuiriam, em virtude da própria ordenação, a faculdade de administrar os dois sacramentos citados, mas a Igreja, através dos bispos ou do papa, poderia delegar-lhes esse poder. A teoria ia , porém, diretamente contra a base da distinção entre ordem e jurisdi- ção. O poder de ordem era , como dizíamos, sacramentai, conferido diretamente por Deus, dirigido à santificação dos indivíduos e, por isso, subtraído radicalmente ao domínio da sociedade eclesial. Mas poder delegado de ordem significa algo social, regulável à vontade da autoridade humana, não conferido diretamente por Deus. Aliás , se, mediante uma simples delegação, os presbíteros podiam obter todas as faculdades dos bispos, para que servia a sagração episcopal? A única saída possível parecia a negação da distinção de graus dentro do sacramento da ordem. O presbiterato seria a ordenação propriamente dita. Bispos e padres seriam completamente iguais no plano da ordem, diferindo apenas no plano da jurisdição. A eucaristia não poderia ser nunca invalidada porque a consagração não atua diretamente sobre os súditos da Igreja. As ordenações e a crism a , pelo contrário, exigem necessariamente um sujeito que, por definição, deve ser súdito da Igreja. Ora , ela poderia assiná-lo ou não a tal sacerdote concreto, conferindo ou negando a validade desses sacramentos. O resultado, porém, desta teoria foi uma enorme casuística sobre designação de súditos, subordinação de uns ministros a outros, liceidade, iliceidade ou iterabilidade dos sacramentos. No tempo do Concilio de Trento, a questão da distinção entre bispos e presbíteros se apresentava tão complicada que os padres conciliares não se atreveram a resolvê-la, contentando-se apenas com afirmar a superioridade dos bispos sobre os presbíteros, mas sem fornecer a razão intrínseca dela (6). A distinção entre ordem e jurisdição sofreu os primeiros embates quando, nos fins do século XVIII , alguns teólogos e canonistas católicos começaram a aceitar a doutrina protestante dos tempos do lluminismo sobre a divisão tripartita do poder eclesial: santificação, magistério e regime (7). Sem dúvida , essa teoria apresentava grandes vantagens do ponto de vista pedagógico e até parecia ter um fundamento bíblico (6) CONC . TRID. Sess. XXIll , cap. 4 (DS T768) e can. 7 (DS 1777). (7) Sobre a origem da divisão tripartita, cf. J . FUCHS , Magisterium, Ministarium, Regimen. V o m Ursprufig einer «MilMiologítchaii Trilogia, Bonn, 1941 ; ID., Waiheuikrameiitale Grundiagung liirchlieher Rachtsgewait, in Scholasfilc 16 (1941) 496-520. 1 8 5 claro: Mt 28 , 19-20 (8). Mas , do ponto de vista da Teologia dogmá- tica e da Sistemática jurídica, oferecia igualmente não pequenos iriíçonvenientes. Qual era, afinal, a -natureza e o modo de transmissão do poder de magistério? Para muitos parecia ser uma espécie de potestade intermédia, carismática mais do que sacramentai, e dirigida tanto à santificação quanto ao governo dos fiéis. Para fugir a essa indefinição do poder de magisté- rio, a maior parte dos canonistas da segunda metade do século XI X e da primeira do X X acabaram rejeitando a tríplice divisão e voltaram à bipartição entre ordem e jurisdição (9). O" magistério seria apenas um exercício da jurisdição eclesiástica. Justificavam-se assim as licenças que ainda hoje são necessárias para a pregação. Voltavase, porém,'às dificuldades dos sé- culos anteriores, , No momento em cjue começa o Concilio Ecumênico Vaticano II , a distinção -radical entre poder de ordem e poder de jurisdição parece ser um obstáculo para o prgresso' da Teotogia do Episcopado. Com efeito, essa distinção tinha entrado nos documentos rebentes dO' Magistério eclesiástico ordiná rio. Em Pio XI I é'clara a afirmação da transmissão da ' jurisdição por intermédio dó Papa e não direta mente pelo sacramento (10). Os Padres conciliares pretendem solucionar o dilema" mediante a compreer?são'de tôda a realidade ecle- (8) Esse fundamento bíblico não parece ser tão evidente como alguns autores afirmam: Cf. M. VIDAL , íTiiene fundamento biMico Ia ' div&ión trÍDartila de Ia Teologia Pastoral? , em Pentecostés 8 (1070) 3-17. (9) Cf. , p. ex. WERNZ-VIDAL , lus Canonieum, I I , p. 62 ss.; A. OTTAVIANI , Intlítuttones luri s Publici Ecciesiaslici, ed. 4.^, Romae, , 1958, 1. p. 186 ss.; J . FERRANTE , Suinnia luris Constifutionalis Eeclesiae, Romae 1964, pp. 196 ss. 186 sial sob o prisma da sacramentalidade da sua ação. Falar-se-á de "mistério", de "sacramento", de "natureza encarnatória da Igreja", de "caráter teândrico", etc. No fundo, está presente a realidade de uma dupla estrutura eclesial: visível e invisível, jurídica e carismática, humana e divina. Não é que essa dupla estrutura fosse desconhecida anteriormente, mas a união íntima, inseparável, entre os dois elementos não era suficientemente acentuada (11). À luz desta nova compreensão da Igreja, a distinção radical entre ordem e jurisdição não é mais .possível. No "poder de ordem" deve estar presente também um elemento organizativo, social; e »o "poder de jurisdição" não pocíe faltar o elemento sacramentai. Numa linguagem às vezes obscura, que procura evitar as palavras "ordem" e "jurisdição" e até mesmo o termo (10) "(Episcopi) non plane sui iuris sunt, sed sub debita Romani Pontificis auctoritate • positi, quamvts ordinária iurisdictionís potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontífice Summo impertita" ; Ene. Mvstici Corporis , em AA S 35 (1943) 212; "iuris - dictionís autem potestas, quae Supremo Pontifici iure ipso divino confertur, Episcopis ex eodem provenit iure, at nonnísí. per Petri Sucessorem" : Ene. A d Sínarum Gentes efn AA S 47 (1955) 9; "hoc posito, efficitur ut Episcopi nec nominati nec confirmati a Sede Apostólicanuli a fruantur potestate magisterlí et iurisdictionís, cum iurísdictio Episcopi s per unüm Romanum Pontificem obtingat" : Ene. A d Apoitolorum Pincipis , em AA S 50 (1958) 610. O s grifos são meus . (11) Cf. W. BERTRAMS, De constilulione Écclasiae simui charismalica e l inslilulionali, em Periódica 57 (1968) 302 ss. Quase em todos os escritos deste autor iiá úm aceno a essa dupla estrutura. Por isso, não parece haver dúvida quanto à sua contribuição para a redação final do capítulo III e da "Not a explicativa prévia da Const. dogm. lume n Oentium. ' Cf , entre outros, bs' seguintes estudos do citada P. BERTRAMS: De relalione inter Episcopatum et Primatum, Principia philosophica et theologica quibus relatio iuridica fundatur inter officium episcopaje e» primatiale, Romae, 1963;^ De quaestione circa originem potestis iurisdic- . .«ionis Eaiscoperum in Contilio Tridantino non resoluta, em Periódica 52 ,(1963) 45? - 476;'Paps t und Bischâfskollegium ais Trãger der kirchiichen Hirtengewait, Paderborn, 1965. "poder", o Capítulo III da "Lumen Gentium" e a sua "Nota explicativa prévia " nos falam da participa- ção ontológica nos múnus sagrados através da sagração episcopal. Pensava-se assim poder explicar facilmente as relações entre os membros do Colégio episcopal e o Romano pontífice. Na realidade, porém, atingia-se também a questão da diferença entre bispos e presbíteros. Não há dúvida que o Concilio realizou um grande avanço, mas ainda deixou alguns pontos obscuros e não poucas ambigüidades, principalmente em relação à essa última questão. Procuremos, portanto, tirar as conseqüências da doutrina conciliar. A base para a compreensão do sacerdócio cristão, neste como em qualquer outro aspecto, é a vida e a obra de Cristo. Dêle deriva todo poder, porque a Êle foi entregue pelo Pai (12). É, portanto, no Cristo onde poderemos encontrar o modelo para a interpretação do poder eclesiástico. E o que encontramos aí? Cristo é envjado pelo Pai (13). Mas, simultâne^ente , é ungido pelo Espírito Santo (14). Do mesmo modo, Êle envia ôs Apóstolos (15) e lhes concede'ou promete para o futuro a unção do Espírito Santo (16). Nestes textos, aparece claro que missão e consagração, embora separaveis, è até mesmo conferidas em ocasiões diversas, estão sempre em íntima relação. Cristo, que iá desde o início recebeu a sua missão, não começa a sua "pregação do Reino", quer dizer a rea- (12) Cf. M l 28 18. (13) Jo 20, 21 . Aliás , em todo o Evangelho de S. João é um tema constante a missão do Filho, que é enviado ao mundo pelo Pai. (14) Cf. Lc. 4, 18s. e os relatos do batismo de Jesus . (15) Jo 20, 21 ; Mt 23 , 19-20; Mc 16, 15-18. (16) Lc 24, 49 ; Jo 14, 16-17; 20,22; At 7, 5.8. iização estrita da sua missão, senSo depois da unção visível pelo Espirito, no momento do batismo. Por sua vez , os Apóstolos recebem a ordem de não se empenharem diretamente na missão até não terem recebido a consagração interior do Paráciito (17). É claro que a missão, a ordem externa pela qual alguém é enviado, representa um elemento organizativo. Na compreensão humana, é a autoridade quem dá o mandato, quem envia. E, no caso dos Apóstolos, essa autoridade é o pró- prio Cristo, que manifesta claramente a sua vontade. Por sua vez , a santificação ou consagração é um elemento fundamentalmente interno e invisível. Mas aqui, ao igual que em tôda a ordem derivada do Encarnação, os elementos divinos e humanos, internos e externos , não aparecem separados, desunidos. A missão é externa, mas a autoridade que a confere é divina. A un- ção do Espírito é interna, mas é realizada mediante um rito externo (18), e se destina a completar a missão recebida. Porém, a tarefa a realizar não está dividida; é única como único é o Espírito que a deve dirigir. Há, em principio, uma única missão, e há um único grande missionário: o Colégio apostólico, depositário do mandato de Cristo e transmissor do único Espirito (19). Daí se derivam os dois grandes princípios que o Vaticano II enunciou no capítulo III da tumen Gentium: a colegialidade e a'sacra - mentalidade do Episcopado. Não (17) Lc 24 , 49; A t 1, 4. (18) Cf. Jo 20, 22 ; At 6,6; 9, 17; 13, 2-3. (19) ".. . quos Apóstolos (cf. Lc 6,13) ad modum çòllegii sçu coefus stabilis instifuit.. . Eos ad filios Israel primum et ad omnes gentes misit (cf. Rom 1, 161" : Const. dogm. de Ecciesia lume n Gentium, n. 19. r 8 7 há, não pode haver na Igreja um ministério individual, indeperidente da comunhão eclesial. Quem se coloca voluntariamente contra a ordem estabelecida por Cristo, como participará da sua missão e do seu Espírito? É na comunhão do Colégio que todos os ministérios encontram a sua unidade. E é na imposição das mãos pelos membros do Colégio, seguindo o exemplo dos Apóstolos, que o Espírito nos é dado para a edificação do Corpo de Cristo. Essa comunhão, de origem sacramentai, mas de conseqüências sociológicas e organizativas, é o ponto de encontro do visível e do invisível, do divino e do humano, no ministério eclesial (20). De acordo com os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, o Colégio apostólico começa a realizar a sua missão unido como um todo, como um conjunto. A dé-> da unidade da tarefa a realizar parece ocupar naqueles momentos o primeiro plano. Mas a mesma dinâmica da vida da Igreja deveria, mais tarde, levar necessariamente ao reconhecimento da multiplicidade implícita nessa unidade. Surge assim, em primeiro lugar, o problema da limitação das forças dos Doze, que os leva a impor as mãos aos sete varões que deverão encarregar-se da assistência aos indigentes (21). Apresenta-se depois a necessidade de espalhar a boa nova além dos limites restritos de Jerusalém e, conseqüentemente, a desagregação dos Doze, que passam a viver dispersos, sem, contudo, romperem a sua unidade na comunhão. Há, enfim — com o (20) O caráter social dos sacramenots (portanto, também do sacramento da ordem) é frisado no n.o 7 da lumen Gentium. (21) At 6, 1-7. 188 decorrer dos anos — o avizinhar-se da morte e o crescimento da consciência de que o ministério não poderá desaparecer com a passagem do Apóstolo. Seus colaboradores deverão continuar a sua tarefa (22). Nesse contexto histórico, a Igreja primitiva viveu uma realidade antes de refletir sobre ela. Essa realidade pode-se resumir em três frases: unidade da missão encomendada por Cristo; sacramentalidade da inserção no Colégio apostólico, através da imposição das mãos; multiplicidade de ministé- rios, explicitada de acordo com as circunstâncias e necessidades das comunidades locais. A unidade nos fala da comunhão eclesial; a sacramentalidade nos mostra a união entre o visível e o invisível na sucessão apostólica; a multiplicidade, enfim , nos indica um certo poder da Igreja sobre os sacramentos. Nas primeiras comunidades cristãs, não só a diversidade de nomes (apóstolos, colaboradores, enviados , evangelistas, profetas, bispos, presbíteros, guias, diretores, pastores, presidentes. . .) , mas também a falta de diferenciação clara das diversas funções, nos está indicando a multiplicidade potencial do ministério eclesial (23). Num tempo relativamente breve, essa multiplicidade acaba enquadrando-se no (22) Cf. , por exemplo, 2, Tim 4, 5-8 e as passagens finais das Epístolas do cativeiro. A Const. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium ensina o mesmo no seu número 20: (Apostou) "non solum.. . vários adíutores in mi - nistério habuerunt, sed ut missio ipsis concredita post eorum mortem continuaretur, cooperatoribus suis immediatis , quasi per modum testamenti, demandaverunt munus perficiendi et confirmandi opus ab ipsis inceptum" . (23) Entre os múltiplos estudos sabre este ponto, podemos destacar: MANUE L GUERI^A GO - MEZ, I a Colegialidad en Ia conttitueiin jerárquica y en el gobiarno da la> primerat comunidades cristianas, na obra coletiva El Colégio Episcopal, Madrid, 1964. tríplice esquema, hoje tão conhecido para nós: episcopado, presbiterato e diaconato. Tão acostumados estamos a esse esquema, que nem sequer nos apresentamos a questão da sua reformabilidade. Contemplando, po- • rém, a evolução histórica a que temos feito referência, manifestase-nos um primeiro problema. Nas comunidades cristãs primitivas, o único ministério apostólico se desdobrou, sob o impulso das circunstâncias e necessidades pastorais, até chegar a cristalizar nos três graus da chamada "hierarquia de ordem". Conserva a Igreja, ainda hoje, a capacidade de desenvolver em formas novas as virtualidades do sacramento da ordem? Quer dizer, poderia ela, no nosso tempo, estabelecer novos modos de participação no sacerdócio ministerial que foi confiado ao Colégio apostólico? Dificilmente se poderá negar essa possibilidade se se considera que o exclusivismo da nossa organização atujl não parece ser um dado dos primeiros tempos do Cristianismo, mas apenas um fruto da era pós-apostólica. A s declara- ções do Concilio de Trento, que afirmam uma hierarquia de ordem, estabelecida por instituição divina (24), não constituem nenhuma dificuldade, pois, de modo algum, afirmam que os diversos graus procedam imediatamente de Cristo, nem que todas as virtualidades do sacramento da ordem fiquem esgotadas na trilogia "bispos , presbíteros e ministros". Não é nenhuma novidade a teoria da instituição apenas genérica do sacramento da ordem por Cristo. A literatura canônica e teológica a (24) CONC . TRID. jess . XXIll : Decr. de sacram. ordinis , especialmente o cap. 4 e o cânon 6: DS 17Ó8, 1776. este respeito é grande (25). Dividem-se, porém, os autores quando se trata de determinar se após a fixação dos três graus conhecidos é ainda possível uma ordenação diferente do ministério eclesial. E a verdade é que não há nenhum argumento convincente. Se, como parece, a distinção clara entre bispos, presbíteros e diáconos é apenas pós-apostólica, não se pode dizer que pertença ao núcleo da revelação, que ficou encerrada com a morte do último Apóstolo. O Colégio apostólico, primeiramente, e o Colégio episcopal depois, foram chamando homens que, em diversos graus e de diversos modos deveriam colaborar na missão única, ou continuá-la. Essa participação não parece ser, na consciência dos primeiros séculos cristãos, uma entrega parcelada de podêres que só através de etapas sucessivas possam ser alcançados. O ministério nos aparece dividido não em degraus que devam ser escalados progressivamente, mas em modos de participação, em tarefas especializadas, em missões a cumprir dentro da grande missão. Os exemplos de ordenações "pe r saltus" não são raros, nem levantaram maiores problemas teológicos (26). Em tôda ordenação de diácono, presbítero ou bispo há, fundamentalmente, uma inserção nessa grande missão do Colégio; há — valha a expressão — uma "incardinação" não nesta ou naquela diocese, mas no Colégio episcopal, depositário e transmissor (25) Pode consultar-se uma lista bastante completa no trabalho de ANTÔNI O MOSTAZ A RODRIGUEZ , Poderes episcopales y pretbi - terales, em La Función pastoral de los ©bis - pos , XI Semana espanola de Derecho canónico, Salamanca 1967. (26j É típico, a este respeito, o caso dos papas. Cf. MICHE L ANDRIEU , La urrièr e eeclesiastiqua des papes du moyen tge , em Rev. des Sciences rei. 27 (1947) 90-120. 189 do mandato de Cristo. Por isso, a Lumen Gentium pôde afirmar que "todos os sacerdotes. . . estão unidos com o Corpo dos Bispos e, segundo sua vocação e graça, devem servir ao bem de tôda a Igreja" (27). Em tôda ordenação há, portanto, já uma missão. Ordenação e missão aparecem tão intimamente unidas nos primeiros séculos que nem se cogita na sua pogsível separação. Daí que os clérigos sejam sempre ordenados relativamente, quer dizer destinados já a um ministério particular: a uma diocese, a um "título" ou a uma diaconia concretos e determinados (28). A participação de, pelo menos, três bispos na sagra- ção episcopal, que nos é apresentada em Nicéia como lei universal e tradicional (29), dá , por sua vez , o sentido da universalidade, da participação na missão única do Colégio através do rito sacro do sacramento da ordem. Quando, a partir da Alta Idade Média, começam a generalizar-se na Igreja as ordenações absolutas, sem referência explícita a um ofí- cio determinado, o pensamento teológico procura uma justificação (27) Consf. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. (28) Essa disciplina foi rigorosamente observada durante os, quatro primeiros séculos. Aos poucos , caiu em desuso; mas para a Igreja Romana airida era lei, nos fins do século IX, e a sua inobservância deu lugar aos conhecidos episódios relacionados com a elevação de Formoso (891-896) ao Pontifi - , cado. Tão forte era a união entre o ordenado e ofício a que se destinava que c próprio Concilio Ecumênico de Nicéia consi - dera como absolutamente nula qualquer trasladação a outra diocese, título ou diaconia. Cf. CONC . NICAEN . 1, can. 15: ".. . si qui s vero,. . tale quid agere temptaverit.. . hoc factum prorsus in irritum deducatur et restituatur eeclesiae, cui fuit episcopus , presbyter aut diaconus órdinatus" : em Conci - líorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc, p. 12. (29) Cf. CONC . NICAEN . I, can. 4, em Concí - liorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc), Friburgi 1962, pp. 6-7. i9Ó teórica para o fato d a aparente separação radical e adequada das duas realidades que virão a receber o nome de ordem e jurisdição. Surgirá assim a teoria a que fazíamos referência no começo deste artigo. A ordenação conferiria somente o poder de ordem, sacramentai, de santificação; poder que deveria ser completado em todos os casos nos quais o seu exercício atinge diretamente os indivíduos (os "súditos", como costumava dizer-se). Por isso, a confissão "sem jurisdição" seria nula, mas a celebração da Eucaristia — que atua diretamente sobre a realidade divina do Corpo de Cristo e só indiretamente sobre os fiéis — seria sempre válida. A jjjrisdição, distinta e separável do poder de ordem, se transmitiria e seria, até certo ponto, independente da ordenação sacerdotal. Esta teoria parecia mais cômoda enquanto permitia explicar a diferença entre bispos e presbíteros, sem aumentar o nú- mero dos sacramentos e nem sequer recorrer à concepção da diversidade de graus no sacramento da ordem. A verdadeira, a única ordenação sacerdotal, seria ó presbiterato. Bispos e presbíteros diferenciar-se-iam apenas no poder de jurisdição (30). J á temos falado, anteriormente, das dificuldades que essa teoria apresenta. Vejamos ainda uma outra. Na realidade, a distinção radical entre ordem e jurisdição e a negação da multiplicidade contida no sacramento da ordem, em lugar de explicar, obscureciâ a distinção entre bispos e presbíteros. Perante um bispo titular sem (30) Entre os autores mais recentes partidários dessa teoria, pode destacar-se J . BEVÉR, Nature et position du iacerdoce, em Nouv. Rev. Théol. 86 (1954) 356-373; 469-480. nenhuma função especial numa diocese, deveríamos dizer que se encontra "degradado" à condição de presbítero? E, por sua vez , um presbítero que, como no caso dos prelados "nuliius", dos administradores apostólicos, dos vigários capitulares ou dos prefeitos apostólicos, governasse de fato uma diocese ou um território afim, poderia dizer-se que tinha sido "elevado" à categoria de bispo? Pôr causa das dificuldades apontadas, o Concilio Vaticano II abandonou a velha terminologia e fala não de "ordem" e "jurisdição", mas do tríplice "múnus " de ensinar, santificár e governar, cuja participação ontológica é conferida aos bispos na sagração episcopal. Os três múnus têm, portanto, uma base sacramentai, uma estrutura interna anterior à sua manifestação externa, à sua atuação no contexto social da Igreja. Mas se isso é verdade para os bispos, deve sê-lo igualmente para os presbíteros, que também recebem o sacramento da ordem, embora em forma diferente. Os presbíteros não são chamados "participantes do sacerdócio dos bispos", mas do único sacerdócio de Cristo (31). Daí que, também para êles , ps podêres de ensinar, santificár e governar tenham o seu apoio, a sua base ontológica, na ordenação recebida. A mudança de terminologia no Concilio é evidente. Trata-se, poréni, também de uma mudança de doutrina? Ou melhor, de uma volta a uma doutrina esquecida: a da sacramentalidade radical do poder eclesial? Assim parece ser. Contudo, nem todas as dificuldades fo- (31) ".. . (Presbyteri). consecranfur, ut veri sa- . cerdotes Novi Testamenti Muneri s unici Me-, diatoris Christi (1 Tim 2,5) participes in suo ' . gradu ministérii" : Const. dogm, de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. ram resolvidas. Os "múnus", afirma o Concilio, são conferidos na ordenação sagrada; mas devem ser exercidos na "comunhão hierárquica" (32). Não está aqui ainda escondida a distinção entre ordem e jurisdição? Pelo menos uma reminiscência dela é clara. De fato, a relação da comissão sobre o modo 39 afirma que a restrição da necessidade da comunhão para o exercício dos múnus episcopais se refere unicamente aos de ensinar e reger, não ao de santificár. Èm outras palavras , o múnus de santificár (antigo "poder de ordem") já estaria expedito para a ação pélp fato da simples sagração episcopal, enquanto os múnus de ensinar e governar (antigo "poder de jurisdição") deveriam ser completados pela "comunhão hierárquica" (33). Se fôssemos tirar as conseqüências lógicas dessa explicação dada na aula conciliar, teríamos que concluir que o poder de santificár é sempre vàlidamente exercido; ó que não acontece com os de ensinar e governar. E não era èssá a doutrina "pré-conciliar" das duas potestades? Colocada, porém, a premissa da unidade do ministério em Cristd, tem sentido um poder sacramentai exercido totalmente fora da comunhão eclesial? A necessidade dessa comunhão não me parece que: se possa justificar apenas pela exigência da determinação dos súdir tos sobre os quais o ministério deva ser exercido. Pelo contrário, a comunhão hierárquica é uma con- (32) C{. Const. dogm. de Ecciesia-^luiniM -.âmr tium, n. 21 . (33) (Textus approbatus) "affirmàt cohsècfationô conferri, cum munere sanctificandl,^- ^çtlam munera regendi ac.docendi ; curn hac qui - dem restrictione, quod haec ultim a extra communionem exercteri non possunt" : Responsió ad modurti 39, âp. J . Aí. RAMIREZ, De Epiacopatu u t sacramentp deqúe epii ? coporum collegio, Salmanticae 1966, p. 55 , Í91 seqüência da estrutura social de todos os sacramentos, incluído o da Eucaristia. Êles são ações "da Igreja", realizadas "na Igreja". O caráter indelével do sacramento da ordem é, sem dúvida , um dado certo da tradição cristã, mas é igualmente certo que a ordenação é uma realidade destinada a ser exercida numa comunidade local, dentro da comunidade universal que é a Igreja. Colocar-se fora ou contra esta privaria de sentido a atuação do poder de santificár. A Eucaristia, sinal e causa eficaz da unidade dos irmãos em Cristo, teria algum sentido se fosse celebrada por alguém que rompeu por inteiro essa unidade? É evidente que um raciocínio que logicamente leva à admissão da irritabilidade do poder de santificár causa pelo menos perplexidade. Mas não me parece que as dificuldades que daí se derivam sejam insalváveis. As reflexões expostas até aqui constituem a base para a formula- ção de algumas hipóteses sobre o ministério presbiteral e a sua rela- ção com o episcopado. Não me atrevo a dizer que elas tenham sido perfeitamente provadas , mas me parece que constituem a explicação mais coerente dos ensinamentos do Concilio e dos fatos que a História da Igreja nos transmitiu. Eis, pois, as minhas conclusões: 1) A diferença entre bispo e presbítero não pode descansar unicamente numa jurisdição extrasacramental, que era desconhecida na primitiva Igreja e que pugnaria com a própria economia da salva- ção, onde os elementos interno e externo vão sempre unidos. Essa diferença tem a sua base no pró- prio sacramento da ordem. O presbítero, pela ordenação, passa a participar da missão única do Co- 192 légio apostólico; não como titular desse Colégio, mas como o seu auxiliar e subordinado. O bispo, pelo contrário, é membro pleno, continuador do ministério apostó- lico, presencializador na comunidade local de tôda a obra de Cristo e co-responsável na comunidade universal da tarefa primitivamente encomendada aos Doze. 2) Os podêres do presbítero são variáveis e, de fato, variaram ao longo da História, porque o Colégio episcopal pode escolher os seus auxiliares com finalidades diversas , de acordo com as circunstâncias e necessidades da Igreja. A tradição eclesiástica reservou o nome de presbítero para aqueles que foram chamados a colaborar diretamente no q/^erecimento do único sacrifício def Cristo. Daí o nome de sacerdotes pelo qual também são conhecidos. Quanto à administração de outros sacramentos (sobretudo crisma e ordem) o Colégio pode chamar para colaboração maior ou menor. E, precisamente porque o Colégio dos bispos quer conceder estes e não outros podêres, concede-os, de fato, porque êle é o titular da missão e o encarregado de arbitrar os meios necessários para o cumprimento dela. Não se esque- ça: a missão do Colégio é originá- ria, enquanto a dos presbíteros é derivada. 3) O que se afirma dos presbíteros pode ser aplicado — corri as devidas correções — aos diáconos. Também êles foram chamados a colaborar com o Colégio episcopal , mas apenas no plano do ministério e não no do sacerdócio. Aliás , a Igreja — sempre através do Colégio — poderia estabelecer novas e.cambiantes formas de participação na sua tarefa, a serem construídas sobre a base do sacramento da ordem. A função deste sacramento é, portanto, agregar alguém, como membro ou como colaborador, ao Corpo episcopal. 4) O exercício dos podêres conferidos na ordenação, de acordo com a própria natureza da Igreja e da missão, encomendada não a indivíduos isolados mas a um corpo, exige a comunhão eclesial. Mas essa comunhão não pode ser concebida como mero elemento jurídico externo e sim como expressão de uma vida íntima de união na fé , na esperança e na caridade. Ora , assim como a união intencional admite diversos graus , é também possível uma comunhão eclesial limitada e gradual, que dê sentido à ação do ministro, mesmo quando externamente êle se encontre fora ou à margem da comunidade. Aí estaria a explicação da validade do ministério dos orientais separados (inclusive no caso da crisma). 5) Poderia ser irritado ou tornado nulo, o poder já concedido pela ordenação ê pela comunhão com o Colégio? Não se vê como negar essa possibilidade, considerando que o próprio Colégio episcopal é capaz de retirar radicalmente a comunhão com indivíduos ou grupos determinados. Mas , nessa perspectiva, não se pode manter a distinção tradicional entre ordem e jurisdição, porque tôda ação ministerial, mesmo a celebração eucarística, deve realizarse nesse quadro da comunhão eclesial. A natureza sacramentai da Igreja, como conjunto, leva, ao meu modo de ver, a esta conclusão. É verdade, porém, que tradicionalmente se vem afirmando que a Eucaristia é válida em todo caso, sempre que o ministro fôr ordenado e tiver a intenção de celebrar. Mas , isso é conseqüência de uma necessidade intrínseca, nascida da própria ordenação, ou do fato de o Colégio episcopal não ter querido negar nunca a comunhão mínim a , imprescindível para que essa Eucaristia seja uma realidade eclesial? 6) Finalmente, a terminologia atual pode induzir a erro. Principalmente porque reserva o nome de sacerdote para os presbíteros. Os sacerdotes do Novo Testamento são, fundamentalmente, os membros plenos do Colégio episcopal, porque a êles foi encomendada diretamente a tarefa de perpetuar a ação sacerdotal de Cristo. Os presbíteros são, como o Vaticano II os chama, sacerdotes "em grau subordinado" (34), cuja ação fora ou contra a comunhão do Colégio episcopal perderia todo o seu significado eclesial. (34) CONC . OECUM , VAT . II , Decr. de Presbyterorum ministério et vita, Presbyterorum ordinis , n. 2 . 193 Bispo s e Presbíteros: Aspectos sacramentais e organizativos do ministério eclesial Jesu s Hortal , S . J . Thi s articl e mtend s t o dra w th e consequence s ou t o f t h e teaching s o f Vaticãn I I Counci l abou t th e sacramen - talit y o f th e episcopacy . Fro m th e fac t tha t th e tradltíon a l theor y abou t th e distinctio n betwee n orde r powe r a n d jurisdictio n powe r canno t an y longe r b e interprete d a s a basi c an d adequat e divisio n òf th e cburc h ministry , i t look s fo r a sur e bas e fo r th e realit y -wel l knox ^ a s traditiona l o f th e thre e form s I n whic h th e hol y order s a r e conferred : episcopacy , priesthoo d an ^ de^co^ship . A rapi d historica l visio n examine s th e diffèrent theorie s buit t b y canonist s an d theblog^ians , i n orde r t o expláin t h e realit y live d b y th e Church . Base d o n th e counci l texts , i t trie s t o understan d the , sacre d minístry a s a continuatio n o f th e uniqu e missio n transmitte d to th e apostle s b y Christ , thrdug h a n insertio n i h th e episcopa l coUege . , Communio n — no t "jurisdiction " seem s t q b e th e basi c concep t fo r th e Characte r receive d it i ordination . Finally , ther e ar e expresse d a serie s óf hypothese s base d o n |h e previou s analysi s abou t th e distinctio n betwee n bishop s an d priests , abou t th e variou s saçred powers , abou t a possibl e dlvisio n o f th e Sacraínent o f Hòly Órder, abou t th e diffèrent grade s o f tlíe sacreá ministry , abou t t h e possibl e "irritation " o f th e poWér t o sanctify , an d abou t th e convenienc e o f modifyin g th e presen t termino - logy . Na realidade eclesial concreta em que vivemos , nos encontramos com três tipos plenamente diferenciados de ministérios, dentro do que costumamos chamar de "sacramento da ordem": bispos, presbí- teros e diáconos. Ainda que as três, denominações apareçam já na Escritura, a sua distinção clara é testemunhada a partir do século II. Isso vale principalmente para as Igrejas da Ásia Menor, onde a hierarquia tripartita é considerada por Santo Inácio de Antioquia como j organização natural e comum das cornunidades cristãs. Mas se a distinção é conhecida,já naqueles tempos primitivos, a reflexão teológica que.lh e pretendeu dar um fundamento foi elaborada tardiamente e com vacilações. Construiuse., primeiramente, a teoria da distinção de potestades ou do dú- plice poder; de ordem e de jurisdi- ção. O poder de ordem seria plenamente divino, transmissível 183 diretamente pelo sacramento, dirigido à santificação interna dos fiéis , e, uma vez conferido, subtraí- do, quanto à validade, ao domínio da Igreja. O poder de jurisdição, pelo contrário, teria muito de humano, transmitir-se-ia por delega- ção pontifícia e até (pelo menos parcialmente) sem necessidade da base sacramentai, estaria dirigido ao governo externo da sociedade eclesial, e poderia ser invalidado, em todo ou em parte pela autoridade competente. Elaborada pelos canonistas dos séculos XI-XII , esta distinção penetrou profundamente na Escolástica, devido, em grande parte, à autoridade de S. Tomás , que a adotou, com a célebre terminologia de "potestas in Corpus Christi verum " (poder de ordem) e "potestas in Corpus Christi mysticum" (poder de jurisdição) (1). Mas este modo de ver as coisas tem um inconveniente fundamental: a separação quase total dos dois elementos que correm sempre unidos na Igreja: o divino e o humano (2). Ora , a fórmula do Calcedonense — "inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter" (3) percorre toda a realidade derivada da Encarnação. Pretender separar os elementos divinos e humanos é tanto como destruir a ordem inaugurada pelo Homem-Deus. Na prática, aliás, a distinção entre ordem e jurisdição não era tão fácil como podia parecer à primeira vista. Afirmava-se — e o mesmo S. Tomás é testemunha disso — que os bispos e os (1) . Cf. S. Th. Il-llae, q. 184, a. 6, ad 1 ; III , q. 67, a. 2, ad 2 ; 111, q. 82, a. 1, ad 4. (2) Cf. CONCIUU M OECUMENICU M VATICA - N UM II, Const. dogm. de Ecciesla, Lumen Génlium , n. 8. (3) DS 302. 184 presbíteros diferiam apenas no poder de jurisdição e não no de ordem (4). As dificuldades, porém, que se derivavam dessa distinção não podiam ser ignoradas. Sobretudo nos casos da administração dos sacramentos da crisma e da ordem eram particularmente perturbadoras. A confirmação, com maiores ou menores restrições, foi administrada por presbíteros durante toda a História da Igreja. As ordenações, pelo menos em alguns casos (5), foram também conferidas por simples sacerdotes. Onde estava, pois, a distinção entre bispos e padres? No poder de ordem? Por que, então, os dois únicos sacramentos citados sempre como prova podjam ser administrados, vàlidamente, pelo menos em certos casos, por presbíteros? Se faltava a base sacramentai, não se v ê como podia ser suprida por uma simples delegação humana. Se, pelo contrário, com S. Tomás, se pensava no poder de jurisdição, como base da distinção entre presbíteros e bispos, devia explicar-se porque a Igreja considerava como (4) "A d quartum dicendum quod episcopus accipit potestaten ut agat in persona Cliristi supra corpus eius mvsticum: idest super Ecclesiam: quam quidem potestatem non accipit sacerdos in sua consecratione, licet possit eam habere ex episcopi commissione. Et ideo ea quae non pertinent ad disposi - tionem cornoris mvstici, non reservantur eoiscopo" (S. Th. 111, q. 82, a. I, ad 4). Cf. também; In IV Sen», d. 7, q. 3, a. 1 co. 2, ad 3; d. 24, q. 3, a. 2, col. 2-3; S. Th. ll-llae q. 184, a. 6, ad 1 ; III q. 65, a. 3, ad 2 ; q. 67, a. 2; q. 82, a. 1, ad 4 e a. 3 , ad 3. Não deve esquecer-se, porém, que o mesmo S. Tomás parece inclinar-se, nas suas últimas obras , por uma distinção entre bispos e nresbíteros baseada não apenas na diversa "jurisdição" . Cf. De perf. vitae spir., c. 24, n. 715. (5) Cf. BONIFAT . IX, Bulla Sacra* raliglonis, DS 1145; MARTIN. V . Bulla Gerantas ad vos , DS 1290; INNOCENT . VIII , Bulla Exposcit tua * d*votionis , DS 1435. O recurso fácil à negação da autenticidade destes d» , cumentos , que costumava empregar-se nos nossos manuais de Teologia, não é mais possível depoi s que foram descobertos o i originais conservados no Arquivo Vaticano. inválidas — e não apenas como ilícitas — as confirmações e ordenações realizadas por sacerdotes não autorizados. Para fugir a essas dificuldades foram elaboradas diversas teorias. Pensou-se, em primeiro lugar, numa irritação eclesiástica do poder sacramentai. Mas , por que essa irritação era possível nos casos da crisma e da ordem e não no da eucaristia? De fato, a Igreja considerou sempre como válida — embora ilícita — a celebração eucarística dos presbíteros que se encontram fora da comunhão eclesial, enquanto que ordenações e crismas, realizadas por padres incensurados mas não autorizados, eram dadas como inválidas. Falou-se, então, de um poder delegado de ordem. Os presbíteros não possuiriam, em virtude da própria ordenação, a faculdade de administrar os dois sacramentos citados, mas a Igreja, através dos bispos ou do papa, poderia delegar-lhes esse poder. A teoria ia , porém, diretamente contra a base da distinção entre ordem e jurisdi- ção. O poder de ordem era , como dizíamos, sacramentai, conferido diretamente por Deus, dirigido à santificação dos indivíduos e, por isso, subtraído radicalmente ao domínio da sociedade eclesial. Mas poder delegado de ordem significa algo social, regulável à vontade da autoridade humana, não conferido diretamente por Deus. Aliás , se, mediante uma simples delegação, os presbíteros podiam obter todas as faculdades dos bispos, para que servia a sagração episcopal? A única saída possível parecia a negação da distinção de graus dentro do sacramento da ordem. O presbiterato seria a ordenação propriamente dita. Bispos e padres seriam completamente iguais no plano da ordem, diferindo apenas no plano da jurisdição. A eucaristia não poderia ser nunca invalidada porque a consagração não atua diretamente sobre os súditos da Igreja. As ordenações e a crism a , pelo contrário, exigem necessariamente um sujeito que, por definição, deve ser súdito da Igreja. Ora , ela poderia assiná-lo ou não a tal sacerdote concreto, conferindo ou negando a validade desses sacramentos. O resultado, porém, desta teoria foi uma enorme casuística sobre designação de súditos, subordinação de uns ministros a outros, liceidade, iliceidade ou iterabilidade dos sacramentos. No tempo do Concilio de Trento, a questão da distinção entre bispos e presbíteros se apresentava tão complicada que os padres conciliares não se atreveram a resolvê-la, contentando-se apenas com afirmar a superioridade dos bispos sobre os presbíteros, mas sem fornecer a razão intrínseca dela (6). A distinção entre ordem e jurisdição sofreu os primeiros embates quando, nos fins do século XVIII , alguns teólogos e canonistas católicos começaram a aceitar a doutrina protestante dos tempos do lluminismo sobre a divisão tripartita do poder eclesial: santificação, magistério e regime (7). Sem dúvida , essa teoria apresentava grandes vantagens do ponto de vista pedagógico e até parecia ter um fundamento bíblico (6) CONC . TRID. Sess. XXIll , cap. 4 (DS T768) e can. 7 (DS 1777). (7) Sobre a origem da divisão tripartita, cf. J . FUCHS , Magisterium, Ministarium, Regimen. V o m Ursprufig einer «MilMiologítchaii Trilogia, Bonn, 1941 ; ID., Waiheuikrameiitale Grundiagung liirchlieher Rachtsgewait, in Scholasfilc 16 (1941) 496-520. 1 8 5 claro: Mt 28 , 19-20 (8). Mas , do ponto de vista da Teologia dogmá- tica e da Sistemática jurídica, oferecia igualmente não pequenos iriíçonvenientes. Qual era, afinal, a -natureza e o modo de transmissão do poder de magistério? Para muitos parecia ser uma espécie de potestade intermédia, carismática mais do que sacramentai, e dirigida tanto à santificação quanto ao governo dos fiéis. Para fugir a essa indefinição do poder de magisté- rio, a maior parte dos canonistas da segunda metade do século XI X e da primeira do X X acabaram rejeitando a tríplice divisão e voltaram à bipartição entre ordem e jurisdição (9). O" magistério seria apenas um exercício da jurisdição eclesiástica. Justificavam-se assim as licenças que ainda hoje são necessárias para a pregação. Voltavase, porém,'às dificuldades dos sé- culos anteriores, , No momento em cjue começa o Concilio Ecumênico Vaticano II , a distinção -radical entre poder de ordem e poder de jurisdição parece ser um obstáculo para o prgresso' da Teotogia do Episcopado. Com efeito, essa distinção tinha entrado nos documentos rebentes dO' Magistério eclesiástico ordiná rio. Em Pio XI I é'clara a afirmação da transmissão da ' jurisdição por intermédio dó Papa e não direta mente pelo sacramento (10). Os Padres conciliares pretendem solucionar o dilema" mediante a compreer?são'de tôda a realidade ecle- (8) Esse fundamento bíblico não parece ser tão evidente como alguns autores afirmam: Cf. M. VIDAL , íTiiene fundamento biMico Ia ' div&ión trÍDartila de Ia Teologia Pastoral? , em Pentecostés 8 (1070) 3-17. (9) Cf. , p. ex. WERNZ-VIDAL , lus Canonieum, I I , p. 62 ss.; A. OTTAVIANI , Intlítuttones luri s Publici Ecciesiaslici, ed. 4.^, Romae, , 1958, 1. p. 186 ss.; J . FERRANTE , Suinnia luris Constifutionalis Eeclesiae, Romae 1964, pp. 196 ss. 186 sial sob o prisma da sacramentalidade da sua ação. Falar-se-á de "mistério", de "sacramento", de "natureza encarnatória da Igreja", de "caráter teândrico", etc. No fundo, está presente a realidade de uma dupla estrutura eclesial: visível e invisível, jurídica e carismática, humana e divina. Não é que essa dupla estrutura fosse desconhecida anteriormente, mas a união íntima, inseparável, entre os dois elementos não era suficientemente acentuada (11). À luz desta nova compreensão da Igreja, a distinção radical entre ordem e jurisdição não é mais .possível. No "poder de ordem" deve estar presente também um elemento organizativo, social; e »o "poder de jurisdição" não pocíe faltar o elemento sacramentai. Numa linguagem às vezes obscura, que procura evitar as palavras "ordem" e "jurisdição" e até mesmo o termo (10) "(Episcopi) non plane sui iuris sunt, sed sub debita Romani Pontificis auctoritate • positi, quamvts ordinária iurisdictionís potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontífice Summo impertita" ; Ene. Mvstici Corporis , em AA S 35 (1943) 212; "iuris - dictionís autem potestas, quae Supremo Pontifici iure ipso divino confertur, Episcopis ex eodem provenit iure, at nonnísí. per Petri Sucessorem" : Ene. A d Sínarum Gentes efn AA S 47 (1955) 9; "hoc posito, efficitur ut Episcopi nec nominati nec confirmati a Sede Apostólicanuli a fruantur potestate magisterlí et iurisdictionís, cum iurísdictio Episcopi s per unüm Romanum Pontificem obtingat" : Ene. A d Apoitolorum Pincipis , em AA S 50 (1958) 610. O s grifos são meus . (11) Cf. W. BERTRAMS, De constilulione Écclasiae simui charismalica e l inslilulionali, em Periódica 57 (1968) 302 ss. Quase em todos os escritos deste autor iiá úm aceno a essa dupla estrutura. Por isso, não parece haver dúvida quanto à sua contribuição para a redação final do capítulo III e da "Not a explicativa prévia da Const. dogm. lume n Oentium. ' Cf , entre outros, bs' seguintes estudos do citada P. BERTRAMS: De relalione inter Episcopatum et Primatum, Principia philosophica et theologica quibus relatio iuridica fundatur inter officium episcopaje e» primatiale, Romae, 1963;^ De quaestione circa originem potestis iurisdic- . .«ionis Eaiscoperum in Contilio Tridantino non resoluta, em Periódica 52 ,(1963) 45? - 476;'Paps t und Bischâfskollegium ais Trãger der kirchiichen Hirtengewait, Paderborn, 1965. "poder", o Capítulo III da "Lumen Gentium" e a sua "Nota explicativa prévia " nos falam da participa- ção ontológica nos múnus sagrados através da sagração episcopal. Pensava-se assim poder explicar facilmente as relações entre os membros do Colégio episcopal e o Romano pontífice. Na realidade, porém, atingia-se também a questão da diferença entre bispos e presbíteros. Não há dúvida que o Concilio realizou um grande avanço, mas ainda deixou alguns pontos obscuros e não poucas ambigüidades, principalmente em relação à essa última questão. Procuremos, portanto, tirar as conseqüências da doutrina conciliar. A base para a compreensão do sacerdócio cristão, neste como em qualquer outro aspecto, é a vida e a obra de Cristo. Dêle deriva todo poder, porque a Êle foi entregue pelo Pai (12). É, portanto, no Cristo onde poderemos encontrar o modelo para a interpretação do poder eclesiástico. E o que encontramos aí? Cristo é envjado pelo Pai (13). Mas, simultâne^ente , é ungido pelo Espírito Santo (14). Do mesmo modo, Êle envia ôs Apóstolos (15) e lhes concede'ou promete para o futuro a unção do Espírito Santo (16). Nestes textos, aparece claro que missão e consagração, embora separaveis, è até mesmo conferidas em ocasiões diversas, estão sempre em íntima relação. Cristo, que iá desde o início recebeu a sua missão, não começa a sua "pregação do Reino", quer dizer a rea- (12) Cf. M l 28 18. (13) Jo 20, 21 . Aliás , em todo o Evangelho de S. João é um tema constante a missão do Filho, que é enviado ao mundo pelo Pai. (14) Cf. Lc. 4, 18s. e os relatos do batismo de Jesus . (15) Jo 20, 21 ; Mt 23 , 19-20; Mc 16, 15-18. (16) Lc 24, 49 ; Jo 14, 16-17; 20,22; At 7, 5.8. iização estrita da sua missão, senSo depois da unção visível pelo Espirito, no momento do batismo. Por sua vez , os Apóstolos recebem a ordem de não se empenharem diretamente na missão até não terem recebido a consagração interior do Paráciito (17). É claro que a missão, a ordem externa pela qual alguém é enviado, representa um elemento organizativo. Na compreensão humana, é a autoridade quem dá o mandato, quem envia. E, no caso dos Apóstolos, essa autoridade é o pró- prio Cristo, que manifesta claramente a sua vontade. Por sua vez , a santificação ou consagração é um elemento fundamentalmente interno e invisível. Mas aqui, ao igual que em tôda a ordem derivada do Encarnação, os elementos divinos e humanos, internos e externos , não aparecem separados, desunidos. A missão é externa, mas a autoridade que a confere é divina. A un- ção do Espírito é interna, mas é realizada mediante um rito externo (18), e se destina a completar a missão recebida. Porém, a tarefa a realizar não está dividida; é única como único é o Espírito que a deve dirigir. Há, em principio, uma única missão, e há um único grande missionário: o Colégio apostólico, depositário do mandato de Cristo e transmissor do único Espirito (19). Daí se derivam os dois grandes princípios que o Vaticano II enunciou no capítulo III da tumen Gentium: a colegialidade e a'sacra - mentalidade do Episcopado. Não (17) Lc 24 , 49; A t 1, 4. (18) Cf. Jo 20, 22 ; At 6,6; 9, 17; 13, 2-3. (19) ".. . quos Apóstolos (cf. Lc 6,13) ad modum çòllegii sçu coefus stabilis instifuit.. . Eos ad filios Israel primum et ad omnes gentes misit (cf. Rom 1, 161" : Const. dogm. de Ecciesia lume n Gentium, n. 19. r 8 7 há, não pode haver na Igreja um ministério individual, indeperidente da comunhão eclesial. Quem se coloca voluntariamente contra a ordem estabelecida por Cristo, como participará da sua missão e do seu Espírito? É na comunhão do Colégio que todos os ministérios encontram a sua unidade. E é na imposição das mãos pelos membros do Colégio, seguindo o exemplo dos Apóstolos, que o Espírito nos é dado para a edificação do Corpo de Cristo. Essa comunhão, de origem sacramentai, mas de conseqüências sociológicas e organizativas, é o ponto de encontro do visível e do invisível, do divino e do humano, no ministério eclesial (20). De acordo com os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, o Colégio apostólico começa a realizar a sua missão unido como um todo, como um conjunto. A dé-> da unidade da tarefa a realizar parece ocupar naqueles momentos o primeiro plano. Mas a mesma dinâmica da vida da Igreja deveria, mais tarde, levar necessariamente ao reconhecimento da multiplicidade implícita nessa unidade. Surge assim, em primeiro lugar, o problema da limitação das forças dos Doze, que os leva a impor as mãos aos sete varões que deverão encarregar-se da assistência aos indigentes (21). Apresenta-se depois a necessidade de espalhar a boa nova além dos limites restritos de Jerusalém e, conseqüentemente, a desagregação dos Doze, que passam a viver dispersos, sem, contudo, romperem a sua unidade na comunhão. Há, enfim — com o (20) O caráter social dos sacramenots (portanto, também do sacramento da ordem) é frisado no n.o 7 da lumen Gentium. (21) At 6, 1-7. 188 decorrer dos anos — o avizinhar-se da morte e o crescimento da consciência de que o ministério não poderá desaparecer com a passagem do Apóstolo. Seus colaboradores deverão continuar a sua tarefa (22). Nesse contexto histórico, a Igreja primitiva viveu uma realidade antes de refletir sobre ela. Essa realidade pode-se resumir em três frases: unidade da missão encomendada por Cristo; sacramentalidade da inserção no Colégio apostólico, através da imposição das mãos; multiplicidade de ministé- rios, explicitada de acordo com as circunstâncias e necessidades das comunidades locais. A unidade nos fala da comunhão eclesial; a sacramentalidade nos mostra a união entre o visível e o invisível na sucessão apostólica; a multiplicidade, enfim , nos indica um certo poder da Igreja sobre os sacramentos. Nas primeiras comunidades cristãs, não só a diversidade de nomes (apóstolos, colaboradores, enviados , evangelistas, profetas, bispos, presbíteros, guias, diretores, pastores, presidentes. . .) , mas também a falta de diferenciação clara das diversas funções, nos está indicando a multiplicidade potencial do ministério eclesial (23). Num tempo relativamente breve, essa multiplicidade acaba enquadrando-se no (22) Cf. , por exemplo, 2, Tim 4, 5-8 e as passagens finais das Epístolas do cativeiro. A Const. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium ensina o mesmo no seu número 20: (Apostou) "non solum.. . vários adíutores in mi - nistério habuerunt, sed ut missio ipsis concredita post eorum mortem continuaretur, cooperatoribus suis immediatis , quasi per modum testamenti, demandaverunt munus perficiendi et confirmandi opus ab ipsis inceptum" . (23) Entre os múltiplos estudos sabre este ponto, podemos destacar: MANUE L GUERI^A GO - MEZ, I a Colegialidad en Ia conttitueiin jerárquica y en el gobiarno da la> primerat comunidades cristianas, na obra coletiva El Colégio Episcopal, Madrid, 1964. tríplice esquema, hoje tão conhecido para nós: episcopado, presbiterato e diaconato. Tão acostumados estamos a esse esquema, que nem sequer nos apresentamos a questão da sua reformabilidade. Contemplando, po- • rém, a evolução histórica a que temos feito referência, manifestase-nos um primeiro problema. Nas comunidades cristãs primitivas, o único ministério apostólico se desdobrou, sob o impulso das circunstâncias e necessidades pastorais, até chegar a cristalizar nos três graus da chamada "hierarquia de ordem". Conserva a Igreja, ainda hoje, a capacidade de desenvolver em formas novas as virtualidades do sacramento da ordem? Quer dizer, poderia ela, no nosso tempo, estabelecer novos modos de participação no sacerdócio ministerial que foi confiado ao Colégio apostólico? Dificilmente se poderá negar essa possibilidade se se considera que o exclusivismo da nossa organização atujl não parece ser um dado dos primeiros tempos do Cristianismo, mas apenas um fruto da era pós-apostólica. A s declara- ções do Concilio de Trento, que afirmam uma hierarquia de ordem, estabelecida por instituição divina (24), não constituem nenhuma dificuldade, pois, de modo algum, afirmam que os diversos graus procedam imediatamente de Cristo, nem que todas as virtualidades do sacramento da ordem fiquem esgotadas na trilogia "bispos , presbíteros e ministros". Não é nenhuma novidade a teoria da instituição apenas genérica do sacramento da ordem por Cristo. A literatura canônica e teológica a (24) CONC . TRID. jess . XXIll : Decr. de sacram. ordinis , especialmente o cap. 4 e o cânon 6: DS 17Ó8, 1776. este respeito é grande (25). Dividem-se, porém, os autores quando se trata de determinar se após a fixação dos três graus conhecidos é ainda possível uma ordenação diferente do ministério eclesial. E a verdade é que não há nenhum argumento convincente. Se, como parece, a distinção clara entre bispos, presbíteros e diáconos é apenas pós-apostólica, não se pode dizer que pertença ao núcleo da revelação, que ficou encerrada com a morte do último Apóstolo. O Colégio apostólico, primeiramente, e o Colégio episcopal depois, foram chamando homens que, em diversos graus e de diversos modos deveriam colaborar na missão única, ou continuá-la. Essa participação não parece ser, na consciência dos primeiros séculos cristãos, uma entrega parcelada de podêres que só através de etapas sucessivas possam ser alcançados. O ministério nos aparece dividido não em degraus que devam ser escalados progressivamente, mas em modos de participação, em tarefas especializadas, em missões a cumprir dentro da grande missão. Os exemplos de ordenações "pe r saltus" não são raros, nem levantaram maiores problemas teológicos (26). Em tôda ordenação de diácono, presbítero ou bispo há, fundamentalmente, uma inserção nessa grande missão do Colégio; há — valha a expressão — uma "incardinação" não nesta ou naquela diocese, mas no Colégio episcopal, depositário e transmissor (25) Pode consultar-se uma lista bastante completa no trabalho de ANTÔNI O MOSTAZ A RODRIGUEZ , Poderes episcopales y pretbi - terales, em La Función pastoral de los ©bis - pos , XI Semana espanola de Derecho canónico, Salamanca 1967. (26j É típico, a este respeito, o caso dos papas. Cf. MICHE L ANDRIEU , La urrièr e eeclesiastiqua des papes du moyen tge , em Rev. des Sciences rei. 27 (1947) 90-120. 189 do mandato de Cristo. Por isso, a Lumen Gentium pôde afirmar que "todos os sacerdotes. . . estão unidos com o Corpo dos Bispos e, segundo sua vocação e graça, devem servir ao bem de tôda a Igreja" (27). Em tôda ordenação há, portanto, já uma missão. Ordenação e missão aparecem tão intimamente unidas nos primeiros séculos que nem se cogita na sua pogsível separação. Daí que os clérigos sejam sempre ordenados relativamente, quer dizer destinados já a um ministério particular: a uma diocese, a um "título" ou a uma diaconia concretos e determinados (28). A participação de, pelo menos, três bispos na sagra- ção episcopal, que nos é apresentada em Nicéia como lei universal e tradicional (29), dá , por sua vez , o sentido da universalidade, da participação na missão única do Colégio através do rito sacro do sacramento da ordem. Quando, a partir da Alta Idade Média, começam a generalizar-se na Igreja as ordenações absolutas, sem referência explícita a um ofí- cio determinado, o pensamento teológico procura uma justificação (27) Consf. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. (28) Essa disciplina foi rigorosamente observada durante os, quatro primeiros séculos. Aos poucos , caiu em desuso; mas para a Igreja Romana airida era lei, nos fins do século IX, e a sua inobservância deu lugar aos conhecidos episódios relacionados com a elevação de Formoso (891-896) ao Pontifi - , cado. Tão forte era a união entre o ordenado e ofício a que se destinava que c próprio Concilio Ecumênico de Nicéia consi - dera como absolutamente nula qualquer trasladação a outra diocese, título ou diaconia. Cf. CONC . NICAEN . 1, can. 15: ".. . si qui s vero,. . tale quid agere temptaverit.. . hoc factum prorsus in irritum deducatur et restituatur eeclesiae, cui fuit episcopus , presbyter aut diaconus órdinatus" : em Conci - líorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc, p. 12. (29) Cf. CONC . NICAEN . I, can. 4, em Concí - liorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc), Friburgi 1962, pp. 6-7. i9Ó teórica para o fato d a aparente separação radical e adequada das duas realidades que virão a receber o nome de ordem e jurisdição. Surgirá assim a teoria a que fazíamos referência no começo deste artigo. A ordenação conferiria somente o poder de ordem, sacramentai, de santificação; poder que deveria ser completado em todos os casos nos quais o seu exercício atinge diretamente os indivíduos (os "súditos", como costumava dizer-se). Por isso, a confissão "sem jurisdição" seria nula, mas a celebração da Eucaristia — que atua diretamente sobre a realidade divina do Corpo de Cristo e só indiretamente sobre os fiéis — seria sempre válida. A jjjrisdição, distinta e separável do poder de ordem, se transmitiria e seria, até certo ponto, independente da ordenação sacerdotal. Esta teoria parecia mais cômoda enquanto permitia explicar a diferença entre bispos e presbíteros, sem aumentar o nú- mero dos sacramentos e nem sequer recorrer à concepção da diversidade de graus no sacramento da ordem. A verdadeira, a única ordenação sacerdotal, seria ó presbiterato. Bispos e presbíteros diferenciar-se-iam apenas no poder de jurisdição (30). J á temos falado, anteriormente, das dificuldades que essa teoria apresenta. Vejamos ainda uma outra. Na realidade, a distinção radical entre ordem e jurisdição e a negação da multiplicidade contida no sacramento da ordem, em lugar de explicar, obscureciâ a distinção entre bispos e presbíteros. Perante um bispo titular sem (30) Entre os autores mais recentes partidários dessa teoria, pode destacar-se J . BEVÉR, Nature et position du iacerdoce, em Nouv. Rev. Théol. 86 (1954) 356-373; 469-480. nenhuma função especial numa diocese, deveríamos dizer que se encontra "degradado" à condição de presbítero? E, por sua vez , um presbítero que, como no caso dos prelados "nuliius", dos administradores apostólicos, dos vigários capitulares ou dos prefeitos apostólicos, governasse de fato uma diocese ou um território afim, poderia dizer-se que tinha sido "elevado" à categoria de bispo? Pôr causa das dificuldades apontadas, o Concilio Vaticano II abandonou a velha terminologia e fala não de "ordem" e "jurisdição", mas do tríplice "múnus " de ensinar, santificár e governar, cuja participação ontológica é conferida aos bispos na sagração episcopal. Os três múnus têm, portanto, uma base sacramentai, uma estrutura interna anterior à sua manifestação externa, à sua atuação no contexto social da Igreja. Mas se isso é verdade para os bispos, deve sê-lo igualmente para os presbíteros, que também recebem o sacramento da ordem, embora em forma diferente. Os presbíteros não são chamados "participantes do sacerdócio dos bispos", mas do único sacerdócio de Cristo (31). Daí que, também para êles , ps podêres de ensinar, santificár e governar tenham o seu apoio, a sua base ontológica, na ordenação recebida. A mudança de terminologia no Concilio é evidente. Trata-se, poréni, também de uma mudança de doutrina? Ou melhor, de uma volta a uma doutrina esquecida: a da sacramentalidade radical do poder eclesial? Assim parece ser. Contudo, nem todas as dificuldades fo- (31) ".. . (Presbyteri). consecranfur, ut veri sa- . cerdotes Novi Testamenti Muneri s unici Me-, diatoris Christi (1 Tim 2,5) participes in suo ' . gradu ministérii" : Const. dogm, de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. ram resolvidas. Os "múnus", afirma o Concilio, são conferidos na ordenação sagrada; mas devem ser exercidos na "comunhão hierárquica" (32). Não está aqui ainda escondida a distinção entre ordem e jurisdição? Pelo menos uma reminiscência dela é clara. De fato, a relação da comissão sobre o modo 39 afirma que a restrição da necessidade da comunhão para o exercício dos múnus episcopais se refere unicamente aos de ensinar e reger, não ao de santificár. Èm outras palavras , o múnus de santificár (antigo "poder de ordem") já estaria expedito para a ação pélp fato da simples sagração episcopal, enquanto os múnus de ensinar e governar (antigo "poder de jurisdição") deveriam ser completados pela "comunhão hierárquica" (33). Se fôssemos tirar as conseqüências lógicas dessa explicação dada na aula conciliar, teríamos que concluir que o poder de santificár é sempre vàlidamente exercido; ó que não acontece com os de ensinar e governar. E não era èssá a doutrina "pré-conciliar" das duas potestades? Colocada, porém, a premissa da unidade do ministério em Cristd, tem sentido um poder sacramentai exercido totalmente fora da comunhão eclesial? A necessidade dessa comunhão não me parece que: se possa justificar apenas pela exigência da determinação dos súdir tos sobre os quais o ministério deva ser exercido. Pelo contrário, a comunhão hierárquica é uma con- (32) C{. Const. dogm. de Ecciesia-^luiniM -.âmr tium, n. 21 . (33) (Textus approbatus) "affirmàt cohsècfationô conferri, cum munere sanctificandl,^- ^çtlam munera regendi ac.docendi ; curn hac qui - dem restrictione, quod haec ultim a extra communionem exercteri non possunt" : Responsió ad modurti 39, âp. J . Aí. RAMIREZ, De Epiacopatu u t sacramentp deqúe epii ? coporum collegio, Salmanticae 1966, p. 55 , Í91 seqüência da estrutura social de todos os sacramentos, incluído o da Eucaristia. Êles são ações "da Igreja", realizadas "na Igreja". O caráter indelével do sacramento da ordem é, sem dúvida , um dado certo da tradição cristã, mas é igualmente certo que a ordenação é uma realidade destinada a ser exercida numa comunidade local, dentro da comunidade universal que é a Igreja. Colocar-se fora ou contra esta privaria de sentido a atuação do poder de santificár. A Eucaristia, sinal e causa eficaz da unidade dos irmãos em Cristo, teria algum sentido se fosse celebrada por alguém que rompeu por inteiro essa unidade? É evidente que um raciocínio que logicamente leva à admissão da irritabilidade do poder de santificár causa pelo menos perplexidade. Mas não me parece que as dificuldades que daí se derivam sejam insalváveis. As reflexões expostas até aqui constituem a base para a formula- ção de algumas hipóteses sobre o ministério presbiteral e a sua rela- ção com o episcopado. Não me atrevo a dizer que elas tenham sido perfeitamente provadas , mas me parece que constituem a explicação mais coerente dos ensinamentos do Concilio e dos fatos que a História da Igreja nos transmitiu. Eis, pois, as minhas conclusões: 1) A diferença entre bispo e presbítero não pode descansar unicamente numa jurisdição extrasacramental, que era desconhecida na primitiva Igreja e que pugnaria com a própria economia da salva- ção, onde os elementos interno e externo vão sempre unidos. Essa diferença tem a sua base no pró- prio sacramento da ordem. O presbítero, pela ordenação, passa a participar da missão única do Co- 192 légio apostólico; não como titular desse Colégio, mas como o seu auxiliar e subordinado. O bispo, pelo contrário, é membro pleno, continuador do ministério apostó- lico, presencializador na comunidade local de tôda a obra de Cristo e co-responsável na comunidade universal da tarefa primitivamente encomendada aos Doze. 2) Os podêres do presbítero são variáveis e, de fato, variaram ao longo da História, porque o Colégio episcopal pode escolher os seus auxiliares com finalidades diversas , de acordo com as circunstâncias e necessidades da Igreja. A tradição eclesiástica reservou o nome de presbítero para aqueles que foram chamados a colaborar diretamente no q/^erecimento do único sacrifício def Cristo. Daí o nome de sacerdotes pelo qual também são conhecidos. Quanto à administração de outros sacramentos (sobretudo crisma e ordem) o Colégio pode chamar para colaboração maior ou menor. E, precisamente porque o Colégio dos bispos quer conceder estes e não outros podêres, concede-os, de fato, porque êle é o titular da missão e o encarregado de arbitrar os meios necessários para o cumprimento dela. Não se esque- ça: a missão do Colégio é originá- ria, enquanto a dos presbíteros é derivada. 3) O que se afirma dos presbíteros pode ser aplicado — corri as devidas correções — aos diáconos. Também êles foram chamados a colaborar com o Colégio episcopal , mas apenas no plano do ministério e não no do sacerdócio. Aliás , a Igreja — sempre através do Colégio — poderia estabelecer novas e.cambiantes formas de participação na sua tarefa, a serem construídas sobre a base do sacramento da ordem. A função deste sacramento é, portanto, agregar alguém, como membro ou como colaborador, ao Corpo episcopal. 4) O exercício dos podêres conferidos na ordenação, de acordo com a própria natureza da Igreja e da missão, encomendada não a indivíduos isolados mas a um corpo, exige a comunhão eclesial. Mas essa comunhão não pode ser concebida como mero elemento jurídico externo e sim como expressão de uma vida íntima de união na fé , na esperança e na caridade. Ora , assim como a união intencional admite diversos graus , é também possível uma comunhão eclesial limitada e gradual, que dê sentido à ação do ministro, mesmo quando externamente êle se encontre fora ou à margem da comunidade. Aí estaria a explicação da validade do ministério dos orientais separados (inclusive no caso da crisma). 5) Poderia ser irritado ou tornado nulo, o poder já concedido pela ordenação ê pela comunhão com o Colégio? Não se vê como negar essa possibilidade, considerando que o próprio Colégio episcopal é capaz de retirar radicalmente a comunhão com indivíduos ou grupos determinados. Mas , nessa perspectiva, não se pode manter a distinção tradicional entre ordem e jurisdição, porque tôda ação ministerial, mesmo a celebração eucarística, deve realizarse nesse quadro da comunhão eclesial. A natureza sacramentai da Igreja, como conjunto, leva, ao meu modo de ver, a esta conclusão. É verdade, porém, que tradicionalmente se vem afirmando que a Eucaristia é válida em todo caso, sempre que o ministro fôr ordenado e tiver a intenção de celebrar. Mas , isso é conseqüência de uma necessidade intrínseca, nascida da própria ordenação, ou do fato de o Colégio episcopal não ter querido negar nunca a comunhão mínim a , imprescindível para que essa Eucaristia seja uma realidade eclesial? 6) Finalmente, a terminologia atual pode induzir a erro. Principalmente porque reserva o nome de sacerdote para os presbíteros. Os sacerdotes do Novo Testamento são, fundamentalmente, os membros plenos do Colégio episcopal, porque a êles foi encomendada diretamente a tarefa de perpetuar a ação sacerdotal de Cristo. Os presbíteros são, como o Vaticano II os chama, sacerdotes "em grau subordinado" (34), cuja ação fora ou contra a comunhão do Colégio episcopal perderia todo o seu significado eclesial. (34) CONC . OECUM , VAT . II , Decr. de Presbyterorum ministério et vita, Presbyterorum ordinis , n. 2 . 193 Bispo s e Presbíteros: Aspectos sacramentais e organizativos do ministério eclesial Jesu s Hortal , S . J . Thi s articl e mtend s t o dra w th e consequence s ou t o f t h e teaching s o f Vaticãn I I Counci l abou t th e sacramen - talit y o f th e episcopacy . Fro m th e fac t tha t th e tradltíon a l theor y abou t th e distinctio n betwee n orde r powe r a n d jurisdictio n powe r canno t an y longe r b e interprete d a s a basi c an d adequat e divisio n òf th e cburc h ministry , i t look s fo r a sur e bas e fo r th e realit y -wel l knox ^ a s traditiona l o f th e thre e form s I n whic h th e hol y order s a r e conferred : episcopacy , priesthoo d an ^ de^co^ship . A rapi d historica l visio n examine s th e diffèrent theorie s buit t b y canonist s an d theblog^ians , i n orde r t o expláin t h e realit y live d b y th e Church . Base d o n th e counci l texts , i t trie s t o understan d the , sacre d minístry a s a continuatio n o f th e uniqu e missio n transmitte d to th e apostle s b y Christ , thrdug h a n insertio n i h th e episcopa l coUege . , Communio n — no t "jurisdiction " seem s t q b e th e basi c concep t fo r th e Characte r receive d it i ordination . Finally , ther e ar e expresse d a serie s óf hypothese s base d o n |h e previou s analysi s abou t th e distinctio n betwee n bishop s an d priests , abou t th e variou s saçred powers , abou t a possibl e dlvisio n o f th e Sacraínent o f Hòly Órder, abou t th e diffèrent grade s o f tlíe sacreá ministry , abou t t h e possibl e "irritation " o f th e poWér t o sanctify , an d abou t th e convenienc e o f modifyin g th e presen t termino - logy . Na realidade eclesial concreta em que vivemos , nos encontramos com três tipos plenamente diferenciados de ministérios, dentro do que costumamos chamar de "sacramento da ordem": bispos, presbí- teros e diáconos. Ainda que as três, denominações apareçam já na Escritura, a sua distinção clara é testemunhada a partir do século II. Isso vale principalmente para as Igrejas da Ásia Menor, onde a hierarquia tripartita é considerada por Santo Inácio de Antioquia como j organização natural e comum das cornunidades cristãs. Mas se a distinção é conhecida,já naqueles tempos primitivos, a reflexão teológica que.lh e pretendeu dar um fundamento foi elaborada tardiamente e com vacilações. Construiuse., primeiramente, a teoria da distinção de potestades ou do dú- plice poder; de ordem e de jurisdi- ção. O poder de ordem seria plenamente divino, transmissível 183 diretamente pelo sacramento, dirigido à santificação interna dos fiéis , e, uma vez conferido, subtraí- do, quanto à validade, ao domínio da Igreja. O poder de jurisdição, pelo contrário, teria muito de humano, transmitir-se-ia por delega- ção pontifícia e até (pelo menos parcialmente) sem necessidade da base sacramentai, estaria dirigido ao governo externo da sociedade eclesial, e poderia ser invalidado, em todo ou em parte pela autoridade competente. Elaborada pelos canonistas dos séculos XI-XII , esta distinção penetrou profundamente na Escolástica, devido, em grande parte, à autoridade de S. Tomás , que a adotou, com a célebre terminologia de "potestas in Corpus Christi verum " (poder de ordem) e "potestas in Corpus Christi mysticum" (poder de jurisdição) (1). Mas este modo de ver as coisas tem um inconveniente fundamental: a separação quase total dos dois elementos que correm sempre unidos na Igreja: o divino e o humano (2). Ora , a fórmula do Calcedonense — "inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter" (3) percorre toda a realidade derivada da Encarnação. Pretender separar os elementos divinos e humanos é tanto como destruir a ordem inaugurada pelo Homem-Deus. Na prática, aliás, a distinção entre ordem e jurisdição não era tão fácil como podia parecer à primeira vista. Afirmava-se — e o mesmo S. Tomás é testemunha disso — que os bispos e os (1) . Cf. S. Th. Il-llae, q. 184, a. 6, ad 1 ; III , q. 67, a. 2, ad 2 ; 111, q. 82, a. 1, ad 4. (2) Cf. CONCIUU M OECUMENICU M VATICA - N UM II, Const. dogm. de Ecciesla, Lumen Génlium , n. 8. (3) DS 302. 184 presbíteros diferiam apenas no poder de jurisdição e não no de ordem (4). As dificuldades, porém, que se derivavam dessa distinção não podiam ser ignoradas. Sobretudo nos casos da administração dos sacramentos da crisma e da ordem eram particularmente perturbadoras. A confirmação, com maiores ou menores restrições, foi administrada por presbíteros durante toda a História da Igreja. As ordenações, pelo menos em alguns casos (5), foram também conferidas por simples sacerdotes. Onde estava, pois, a distinção entre bispos e padres? No poder de ordem? Por que, então, os dois únicos sacramentos citados sempre como prova podjam ser administrados, vàlidamente, pelo menos em certos casos, por presbíteros? Se faltava a base sacramentai, não se v ê como podia ser suprida por uma simples delegação humana. Se, pelo contrário, com S. Tomás, se pensava no poder de jurisdição, como base da distinção entre presbíteros e bispos, devia explicar-se porque a Igreja considerava como (4) "A d quartum dicendum quod episcopus accipit potestaten ut agat in persona Cliristi supra corpus eius mvsticum: idest super Ecclesiam: quam quidem potestatem non accipit sacerdos in sua consecratione, licet possit eam habere ex episcopi commissione. Et ideo ea quae non pertinent ad disposi - tionem cornoris mvstici, non reservantur eoiscopo" (S. Th. 111, q. 82, a. I, ad 4). Cf. também; In IV Sen», d. 7, q. 3, a. 1 co. 2, ad 3; d. 24, q. 3, a. 2, col. 2-3; S. Th. ll-llae q. 184, a. 6, ad 1 ; III q. 65, a. 3, ad 2 ; q. 67, a. 2; q. 82, a. 1, ad 4 e a. 3 , ad 3. Não deve esquecer-se, porém, que o mesmo S. Tomás parece inclinar-se, nas suas últimas obras , por uma distinção entre bispos e nresbíteros baseada não apenas na diversa "jurisdição" . Cf. De perf. vitae spir., c. 24, n. 715. (5) Cf. BONIFAT . IX, Bulla Sacra* raliglonis, DS 1145; MARTIN. V . Bulla Gerantas ad vos , DS 1290; INNOCENT . VIII , Bulla Exposcit tua * d*votionis , DS 1435. O recurso fácil à negação da autenticidade destes d» , cumentos , que costumava empregar-se nos nossos manuais de Teologia, não é mais possível depoi s que foram descobertos o i originais conservados no Arquivo Vaticano. inválidas — e não apenas como ilícitas — as confirmações e ordenações realizadas por sacerdotes não autorizados. Para fugir a essas dificuldades foram elaboradas diversas teorias. Pensou-se, em primeiro lugar, numa irritação eclesiástica do poder sacramentai. Mas , por que essa irritação era possível nos casos da crisma e da ordem e não no da eucaristia? De fato, a Igreja considerou sempre como válida — embora ilícita — a celebração eucarística dos presbíteros que se encontram fora da comunhão eclesial, enquanto que ordenações e crismas, realizadas por padres incensurados mas não autorizados, eram dadas como inválidas. Falou-se, então, de um poder delegado de ordem. Os presbíteros não possuiriam, em virtude da própria ordenação, a faculdade de administrar os dois sacramentos citados, mas a Igreja, através dos bispos ou do papa, poderia delegar-lhes esse poder. A teoria ia , porém, diretamente contra a base da distinção entre ordem e jurisdi- ção. O poder de ordem era , como dizíamos, sacramentai, conferido diretamente por Deus, dirigido à santificação dos indivíduos e, por isso, subtraído radicalmente ao domínio da sociedade eclesial. Mas poder delegado de ordem significa algo social, regulável à vontade da autoridade humana, não conferido diretamente por Deus. Aliás , se, mediante uma simples delegação, os presbíteros podiam obter todas as faculdades dos bispos, para que servia a sagração episcopal? A única saída possível parecia a negação da distinção de graus dentro do sacramento da ordem. O presbiterato seria a ordenação propriamente dita. Bispos e padres seriam completamente iguais no plano da ordem, diferindo apenas no plano da jurisdição. A eucaristia não poderia ser nunca invalidada porque a consagração não atua diretamente sobre os súditos da Igreja. As ordenações e a crism a , pelo contrário, exigem necessariamente um sujeito que, por definição, deve ser súdito da Igreja. Ora , ela poderia assiná-lo ou não a tal sacerdote concreto, conferindo ou negando a validade desses sacramentos. O resultado, porém, desta teoria foi uma enorme casuística sobre designação de súditos, subordinação de uns ministros a outros, liceidade, iliceidade ou iterabilidade dos sacramentos. No tempo do Concilio de Trento, a questão da distinção entre bispos e presbíteros se apresentava tão complicada que os padres conciliares não se atreveram a resolvê-la, contentando-se apenas com afirmar a superioridade dos bispos sobre os presbíteros, mas sem fornecer a razão intrínseca dela (6). A distinção entre ordem e jurisdição sofreu os primeiros embates quando, nos fins do século XVIII , alguns teólogos e canonistas católicos começaram a aceitar a doutrina protestante dos tempos do lluminismo sobre a divisão tripartita do poder eclesial: santificação, magistério e regime (7). Sem dúvida , essa teoria apresentava grandes vantagens do ponto de vista pedagógico e até parecia ter um fundamento bíblico (6) CONC . TRID. Sess. XXIll , cap. 4 (DS T768) e can. 7 (DS 1777). (7) Sobre a origem da divisão tripartita, cf. J . FUCHS , Magisterium, Ministarium, Regimen. V o m Ursprufig einer «MilMiologítchaii Trilogia, Bonn, 1941 ; ID., Waiheuikrameiitale Grundiagung liirchlieher Rachtsgewait, in Scholasfilc 16 (1941) 496-520. 1 8 5 claro: Mt 28 , 19-20 (8). Mas , do ponto de vista da Teologia dogmá- tica e da Sistemática jurídica, oferecia igualmente não pequenos iriíçonvenientes. Qual era, afinal, a -natureza e o modo de transmissão do poder de magistério? Para muitos parecia ser uma espécie de potestade intermédia, carismática mais do que sacramentai, e dirigida tanto à santificação quanto ao governo dos fiéis. Para fugir a essa indefinição do poder de magisté- rio, a maior parte dos canonistas da segunda metade do século XI X e da primeira do X X acabaram rejeitando a tríplice divisão e voltaram à bipartição entre ordem e jurisdição (9). O" magistério seria apenas um exercício da jurisdição eclesiástica. Justificavam-se assim as licenças que ainda hoje são necessárias para a pregação. Voltavase, porém,'às dificuldades dos sé- culos anteriores, , No momento em cjue começa o Concilio Ecumênico Vaticano II , a distinção -radical entre poder de ordem e poder de jurisdição parece ser um obstáculo para o prgresso' da Teotogia do Episcopado. Com efeito, essa distinção tinha entrado nos documentos rebentes dO' Magistério eclesiástico ordiná rio. Em Pio XI I é'clara a afirmação da transmissão da ' jurisdição por intermédio dó Papa e não direta mente pelo sacramento (10). Os Padres conciliares pretendem solucionar o dilema" mediante a compreer?são'de tôda a realidade ecle- (8) Esse fundamento bíblico não parece ser tão evidente como alguns autores afirmam: Cf. M. VIDAL , íTiiene fundamento biMico Ia ' div&ión trÍDartila de Ia Teologia Pastoral? , em Pentecostés 8 (1070) 3-17. (9) Cf. , p. ex. WERNZ-VIDAL , lus Canonieum, I I , p. 62 ss.; A. OTTAVIANI , Intlítuttones luri s Publici Ecciesiaslici, ed. 4.^, Romae, , 1958, 1. p. 186 ss.; J . FERRANTE , Suinnia luris Constifutionalis Eeclesiae, Romae 1964, pp. 196 ss. 186 sial sob o prisma da sacramentalidade da sua ação. Falar-se-á de "mistério", de "sacramento", de "natureza encarnatória da Igreja", de "caráter teândrico", etc. No fundo, está presente a realidade de uma dupla estrutura eclesial: visível e invisível, jurídica e carismática, humana e divina. Não é que essa dupla estrutura fosse desconhecida anteriormente, mas a união íntima, inseparável, entre os dois elementos não era suficientemente acentuada (11). À luz desta nova compreensão da Igreja, a distinção radical entre ordem e jurisdição não é mais .possível. No "poder de ordem" deve estar presente também um elemento organizativo, social; e »o "poder de jurisdição" não pocíe faltar o elemento sacramentai. Numa linguagem às vezes obscura, que procura evitar as palavras "ordem" e "jurisdição" e até mesmo o termo (10) "(Episcopi) non plane sui iuris sunt, sed sub debita Romani Pontificis auctoritate • positi, quamvts ordinária iurisdictionís potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontífice Summo impertita" ; Ene. Mvstici Corporis , em AA S 35 (1943) 212; "iuris - dictionís autem potestas, quae Supremo Pontifici iure ipso divino confertur, Episcopis ex eodem provenit iure, at nonnísí. per Petri Sucessorem" : Ene. A d Sínarum Gentes efn AA S 47 (1955) 9; "hoc posito, efficitur ut Episcopi nec nominati nec confirmati a Sede Apostólicanuli a fruantur potestate magisterlí et iurisdictionís, cum iurísdictio Episcopi s per unüm Romanum Pontificem obtingat" : Ene. A d Apoitolorum Pincipis , em AA S 50 (1958) 610. O s grifos são meus . (11) Cf. W. BERTRAMS, De constilulione Écclasiae simui charismalica e l inslilulionali, em Periódica 57 (1968) 302 ss. Quase em todos os escritos deste autor iiá úm aceno a essa dupla estrutura. Por isso, não parece haver dúvida quanto à sua contribuição para a redação final do capítulo III e da "Not a explicativa prévia da Const. dogm. lume n Oentium. ' Cf , entre outros, bs' seguintes estudos do citada P. BERTRAMS: De relalione inter Episcopatum et Primatum, Principia philosophica et theologica quibus relatio iuridica fundatur inter officium episcopaje e» primatiale, Romae, 1963;^ De quaestione circa originem potestis iurisdic- . .«ionis Eaiscoperum in Contilio Tridantino non resoluta, em Periódica 52 ,(1963) 45? - 476;'Paps t und Bischâfskollegium ais Trãger der kirchiichen Hirtengewait, Paderborn, 1965. "poder", o Capítulo III da "Lumen Gentium" e a sua "Nota explicativa prévia " nos falam da participa- ção ontológica nos múnus sagrados através da sagração episcopal. Pensava-se assim poder explicar facilmente as relações entre os membros do Colégio episcopal e o Romano pontífice. Na realidade, porém, atingia-se também a questão da diferença entre bispos e presbíteros. Não há dúvida que o Concilio realizou um grande avanço, mas ainda deixou alguns pontos obscuros e não poucas ambigüidades, principalmente em relação à essa última questão. Procuremos, portanto, tirar as conseqüências da doutrina conciliar. A base para a compreensão do sacerdócio cristão, neste como em qualquer outro aspecto, é a vida e a obra de Cristo. Dêle deriva todo poder, porque a Êle foi entregue pelo Pai (12). É, portanto, no Cristo onde poderemos encontrar o modelo para a interpretação do poder eclesiástico. E o que encontramos aí? Cristo é envjado pelo Pai (13). Mas, simultâne^ente , é ungido pelo Espírito Santo (14). Do mesmo modo, Êle envia ôs Apóstolos (15) e lhes concede'ou promete para o futuro a unção do Espírito Santo (16). Nestes textos, aparece claro que missão e consagração, embora separaveis, è até mesmo conferidas em ocasiões diversas, estão sempre em íntima relação. Cristo, que iá desde o início recebeu a sua missão, não começa a sua "pregação do Reino", quer dizer a rea- (12) Cf. M l 28 18. (13) Jo 20, 21 . Aliás , em todo o Evangelho de S. João é um tema constante a missão do Filho, que é enviado ao mundo pelo Pai. (14) Cf. Lc. 4, 18s. e os relatos do batismo de Jesus . (15) Jo 20, 21 ; Mt 23 , 19-20; Mc 16, 15-18. (16) Lc 24, 49 ; Jo 14, 16-17; 20,22; At 7, 5.8. iização estrita da sua missão, senSo depois da unção visível pelo Espirito, no momento do batismo. Por sua vez , os Apóstolos recebem a ordem de não se empenharem diretamente na missão até não terem recebido a consagração interior do Paráciito (17). É claro que a missão, a ordem externa pela qual alguém é enviado, representa um elemento organizativo. Na compreensão humana, é a autoridade quem dá o mandato, quem envia. E, no caso dos Apóstolos, essa autoridade é o pró- prio Cristo, que manifesta claramente a sua vontade. Por sua vez , a santificação ou consagração é um elemento fundamentalmente interno e invisível. Mas aqui, ao igual que em tôda a ordem derivada do Encarnação, os elementos divinos e humanos, internos e externos , não aparecem separados, desunidos. A missão é externa, mas a autoridade que a confere é divina. A un- ção do Espírito é interna, mas é realizada mediante um rito externo (18), e se destina a completar a missão recebida. Porém, a tarefa a realizar não está dividida; é única como único é o Espírito que a deve dirigir. Há, em principio, uma única missão, e há um único grande missionário: o Colégio apostólico, depositário do mandato de Cristo e transmissor do único Espirito (19). Daí se derivam os dois grandes princípios que o Vaticano II enunciou no capítulo III da tumen Gentium: a colegialidade e a'sacra - mentalidade do Episcopado. Não (17) Lc 24 , 49; A t 1, 4. (18) Cf. Jo 20, 22 ; At 6,6; 9, 17; 13, 2-3. (19) ".. . quos Apóstolos (cf. Lc 6,13) ad modum çòllegii sçu coefus stabilis instifuit.. . Eos ad filios Israel primum et ad omnes gentes misit (cf. Rom 1, 161" : Const. dogm. de Ecciesia lume n Gentium, n. 19. r 8 7 há, não pode haver na Igreja um ministério individual, indeperidente da comunhão eclesial. Quem se coloca voluntariamente contra a ordem estabelecida por Cristo, como participará da sua missão e do seu Espírito? É na comunhão do Colégio que todos os ministérios encontram a sua unidade. E é na imposição das mãos pelos membros do Colégio, seguindo o exemplo dos Apóstolos, que o Espírito nos é dado para a edificação do Corpo de Cristo. Essa comunhão, de origem sacramentai, mas de conseqüências sociológicas e organizativas, é o ponto de encontro do visível e do invisível, do divino e do humano, no ministério eclesial (20). De acordo com os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, o Colégio apostólico começa a realizar a sua missão unido como um todo, como um conjunto. A dé-> da unidade da tarefa a realizar parece ocupar naqueles momentos o primeiro plano. Mas a mesma dinâmica da vida da Igreja deveria, mais tarde, levar necessariamente ao reconhecimento da multiplicidade implícita nessa unidade. Surge assim, em primeiro lugar, o problema da limitação das forças dos Doze, que os leva a impor as mãos aos sete varões que deverão encarregar-se da assistência aos indigentes (21). Apresenta-se depois a necessidade de espalhar a boa nova além dos limites restritos de Jerusalém e, conseqüentemente, a desagregação dos Doze, que passam a viver dispersos, sem, contudo, romperem a sua unidade na comunhão. Há, enfim — com o (20) O caráter social dos sacramenots (portanto, também do sacramento da ordem) é frisado no n.o 7 da lumen Gentium. (21) At 6, 1-7. 188 decorrer dos anos — o avizinhar-se da morte e o crescimento da consciência de que o ministério não poderá desaparecer com a passagem do Apóstolo. Seus colaboradores deverão continuar a sua tarefa (22). Nesse contexto histórico, a Igreja primitiva viveu uma realidade antes de refletir sobre ela. Essa realidade pode-se resumir em três frases: unidade da missão encomendada por Cristo; sacramentalidade da inserção no Colégio apostólico, através da imposição das mãos; multiplicidade de ministé- rios, explicitada de acordo com as circunstâncias e necessidades das comunidades locais. A unidade nos fala da comunhão eclesial; a sacramentalidade nos mostra a união entre o visível e o invisível na sucessão apostólica; a multiplicidade, enfim , nos indica um certo poder da Igreja sobre os sacramentos. Nas primeiras comunidades cristãs, não só a diversidade de nomes (apóstolos, colaboradores, enviados , evangelistas, profetas, bispos, presbíteros, guias, diretores, pastores, presidentes. . .) , mas também a falta de diferenciação clara das diversas funções, nos está indicando a multiplicidade potencial do ministério eclesial (23). Num tempo relativamente breve, essa multiplicidade acaba enquadrando-se no (22) Cf. , por exemplo, 2, Tim 4, 5-8 e as passagens finais das Epístolas do cativeiro. A Const. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium ensina o mesmo no seu número 20: (Apostou) "non solum.. . vários adíutores in mi - nistério habuerunt, sed ut missio ipsis concredita post eorum mortem continuaretur, cooperatoribus suis immediatis , quasi per modum testamenti, demandaverunt munus perficiendi et confirmandi opus ab ipsis inceptum" . (23) Entre os múltiplos estudos sabre este ponto, podemos destacar: MANUE L GUERI^A GO - MEZ, I a Colegialidad en Ia conttitueiin jerárquica y en el gobiarno da la> primerat comunidades cristianas, na obra coletiva El Colégio Episcopal, Madrid, 1964. tríplice esquema, hoje tão conhecido para nós: episcopado, presbiterato e diaconato. Tão acostumados estamos a esse esquema, que nem sequer nos apresentamos a questão da sua reformabilidade. Contemplando, po- • rém, a evolução histórica a que temos feito referência, manifestase-nos um primeiro problema. Nas comunidades cristãs primitivas, o único ministério apostólico se desdobrou, sob o impulso das circunstâncias e necessidades pastorais, até chegar a cristalizar nos três graus da chamada "hierarquia de ordem". Conserva a Igreja, ainda hoje, a capacidade de desenvolver em formas novas as virtualidades do sacramento da ordem? Quer dizer, poderia ela, no nosso tempo, estabelecer novos modos de participação no sacerdócio ministerial que foi confiado ao Colégio apostólico? Dificilmente se poderá negar essa possibilidade se se considera que o exclusivismo da nossa organização atujl não parece ser um dado dos primeiros tempos do Cristianismo, mas apenas um fruto da era pós-apostólica. A s declara- ções do Concilio de Trento, que afirmam uma hierarquia de ordem, estabelecida por instituição divina (24), não constituem nenhuma dificuldade, pois, de modo algum, afirmam que os diversos graus procedam imediatamente de Cristo, nem que todas as virtualidades do sacramento da ordem fiquem esgotadas na trilogia "bispos , presbíteros e ministros". Não é nenhuma novidade a teoria da instituição apenas genérica do sacramento da ordem por Cristo. A literatura canônica e teológica a (24) CONC . TRID. jess . XXIll : Decr. de sacram. ordinis , especialmente o cap. 4 e o cânon 6: DS 17Ó8, 1776. este respeito é grande (25). Dividem-se, porém, os autores quando se trata de determinar se após a fixação dos três graus conhecidos é ainda possível uma ordenação diferente do ministério eclesial. E a verdade é que não há nenhum argumento convincente. Se, como parece, a distinção clara entre bispos, presbíteros e diáconos é apenas pós-apostólica, não se pode dizer que pertença ao núcleo da revelação, que ficou encerrada com a morte do último Apóstolo. O Colégio apostólico, primeiramente, e o Colégio episcopal depois, foram chamando homens que, em diversos graus e de diversos modos deveriam colaborar na missão única, ou continuá-la. Essa participação não parece ser, na consciência dos primeiros séculos cristãos, uma entrega parcelada de podêres que só através de etapas sucessivas possam ser alcançados. O ministério nos aparece dividido não em degraus que devam ser escalados progressivamente, mas em modos de participação, em tarefas especializadas, em missões a cumprir dentro da grande missão. Os exemplos de ordenações "pe r saltus" não são raros, nem levantaram maiores problemas teológicos (26). Em tôda ordenação de diácono, presbítero ou bispo há, fundamentalmente, uma inserção nessa grande missão do Colégio; há — valha a expressão — uma "incardinação" não nesta ou naquela diocese, mas no Colégio episcopal, depositário e transmissor (25) Pode consultar-se uma lista bastante completa no trabalho de ANTÔNI O MOSTAZ A RODRIGUEZ , Poderes episcopales y pretbi - terales, em La Función pastoral de los ©bis - pos , XI Semana espanola de Derecho canónico, Salamanca 1967. (26j É típico, a este respeito, o caso dos papas. Cf. MICHE L ANDRIEU , La urrièr e eeclesiastiqua des papes du moyen tge , em Rev. des Sciences rei. 27 (1947) 90-120. 189 do mandato de Cristo. Por isso, a Lumen Gentium pôde afirmar que "todos os sacerdotes. . . estão unidos com o Corpo dos Bispos e, segundo sua vocação e graça, devem servir ao bem de tôda a Igreja" (27). Em tôda ordenação há, portanto, já uma missão. Ordenação e missão aparecem tão intimamente unidas nos primeiros séculos que nem se cogita na sua pogsível separação. Daí que os clérigos sejam sempre ordenados relativamente, quer dizer destinados já a um ministério particular: a uma diocese, a um "título" ou a uma diaconia concretos e determinados (28). A participação de, pelo menos, três bispos na sagra- ção episcopal, que nos é apresentada em Nicéia como lei universal e tradicional (29), dá , por sua vez , o sentido da universalidade, da participação na missão única do Colégio através do rito sacro do sacramento da ordem. Quando, a partir da Alta Idade Média, começam a generalizar-se na Igreja as ordenações absolutas, sem referência explícita a um ofí- cio determinado, o pensamento teológico procura uma justificação (27) Consf. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. (28) Essa disciplina foi rigorosamente observada durante os, quatro primeiros séculos. Aos poucos , caiu em desuso; mas para a Igreja Romana airida era lei, nos fins do século IX, e a sua inobservância deu lugar aos conhecidos episódios relacionados com a elevação de Formoso (891-896) ao Pontifi - , cado. Tão forte era a união entre o ordenado e ofício a que se destinava que c próprio Concilio Ecumênico de Nicéia consi - dera como absolutamente nula qualquer trasladação a outra diocese, título ou diaconia. Cf. CONC . NICAEN . 1, can. 15: ".. . si qui s vero,. . tale quid agere temptaverit.. . hoc factum prorsus in irritum deducatur et restituatur eeclesiae, cui fuit episcopus , presbyter aut diaconus órdinatus" : em Conci - líorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc, p. 12. (29) Cf. CONC . NICAEN . I, can. 4, em Concí - liorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc), Friburgi 1962, pp. 6-7. i9Ó teórica para o fato d a aparente separação radical e adequada das duas realidades que virão a receber o nome de ordem e jurisdição. Surgirá assim a teoria a que fazíamos referência no começo deste artigo. A ordenação conferiria somente o poder de ordem, sacramentai, de santificação; poder que deveria ser completado em todos os casos nos quais o seu exercício atinge diretamente os indivíduos (os "súditos", como costumava dizer-se). Por isso, a confissão "sem jurisdição" seria nula, mas a celebração da Eucaristia — que atua diretamente sobre a realidade divina do Corpo de Cristo e só indiretamente sobre os fiéis — seria sempre válida. A jjjrisdição, distinta e separável do poder de ordem, se transmitiria e seria, até certo ponto, independente da ordenação sacerdotal. Esta teoria parecia mais cômoda enquanto permitia explicar a diferença entre bispos e presbíteros, sem aumentar o nú- mero dos sacramentos e nem sequer recorrer à concepção da diversidade de graus no sacramento da ordem. A verdadeira, a única ordenação sacerdotal, seria ó presbiterato. Bispos e presbíteros diferenciar-se-iam apenas no poder de jurisdição (30). J á temos falado, anteriormente, das dificuldades que essa teoria apresenta. Vejamos ainda uma outra. Na realidade, a distinção radical entre ordem e jurisdição e a negação da multiplicidade contida no sacramento da ordem, em lugar de explicar, obscureciâ a distinção entre bispos e presbíteros. Perante um bispo titular sem (30) Entre os autores mais recentes partidários dessa teoria, pode destacar-se J . BEVÉR, Nature et position du iacerdoce, em Nouv. Rev. Théol. 86 (1954) 356-373; 469-480. nenhuma função especial numa diocese, deveríamos dizer que se encontra "degradado" à condição de presbítero? E, por sua vez , um presbítero que, como no caso dos prelados "nuliius", dos administradores apostólicos, dos vigários capitulares ou dos prefeitos apostólicos, governasse de fato uma diocese ou um território afim, poderia dizer-se que tinha sido "elevado" à categoria de bispo? Pôr causa das dificuldades apontadas, o Concilio Vaticano II abandonou a velha terminologia e fala não de "ordem" e "jurisdição", mas do tríplice "múnus " de ensinar, santificár e governar, cuja participação ontológica é conferida aos bispos na sagração episcopal. Os três múnus têm, portanto, uma base sacramentai, uma estrutura interna anterior à sua manifestação externa, à sua atuação no contexto social da Igreja. Mas se isso é verdade para os bispos, deve sê-lo igualmente para os presbíteros, que também recebem o sacramento da ordem, embora em forma diferente. Os presbíteros não são chamados "participantes do sacerdócio dos bispos", mas do único sacerdócio de Cristo (31). Daí que, também para êles , ps podêres de ensinar, santificár e governar tenham o seu apoio, a sua base ontológica, na ordenação recebida. A mudança de terminologia no Concilio é evidente. Trata-se, poréni, também de uma mudança de doutrina? Ou melhor, de uma volta a uma doutrina esquecida: a da sacramentalidade radical do poder eclesial? Assim parece ser. Contudo, nem todas as dificuldades fo- (31) ".. . (Presbyteri). consecranfur, ut veri sa- . cerdotes Novi Testamenti Muneri s unici Me-, diatoris Christi (1 Tim 2,5) participes in suo ' . gradu ministérii" : Const. dogm, de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. ram resolvidas. Os "múnus", afirma o Concilio, são conferidos na ordenação sagrada; mas devem ser exercidos na "comunhão hierárquica" (32). Não está aqui ainda escondida a distinção entre ordem e jurisdição? Pelo menos uma reminiscência dela é clara. De fato, a relação da comissão sobre o modo 39 afirma que a restrição da necessidade da comunhão para o exercício dos múnus episcopais se refere unicamente aos de ensinar e reger, não ao de santificár. Èm outras palavras , o múnus de santificár (antigo "poder de ordem") já estaria expedito para a ação pélp fato da simples sagração episcopal, enquanto os múnus de ensinar e governar (antigo "poder de jurisdição") deveriam ser completados pela "comunhão hierárquica" (33). Se fôssemos tirar as conseqüências lógicas dessa explicação dada na aula conciliar, teríamos que concluir que o poder de santificár é sempre vàlidamente exercido; ó que não acontece com os de ensinar e governar. E não era èssá a doutrina "pré-conciliar" das duas potestades? Colocada, porém, a premissa da unidade do ministério em Cristd, tem sentido um poder sacramentai exercido totalmente fora da comunhão eclesial? A necessidade dessa comunhão não me parece que: se possa justificar apenas pela exigência da determinação dos súdir tos sobre os quais o ministério deva ser exercido. Pelo contrário, a comunhão hierárquica é uma con- (32) C{. Const. dogm. de Ecciesia-^luiniM -.âmr tium, n. 21 . (33) (Textus approbatus) "affirmàt cohsècfationô conferri, cum munere sanctificandl,^- ^çtlam munera regendi ac.docendi ; curn hac qui - dem restrictione, quod haec ultim a extra communionem exercteri non possunt" : Responsió ad modurti 39, âp. J . Aí. RAMIREZ, De Epiacopatu u t sacramentp deqúe epii ? coporum collegio, Salmanticae 1966, p. 55 , Í91 seqüência da estrutura social de todos os sacramentos, incluído o da Eucaristia. Êles são ações "da Igreja", realizadas "na Igreja". O caráter indelével do sacramento da ordem é, sem dúvida , um dado certo da tradição cristã, mas é igualmente certo que a ordenação é uma realidade destinada a ser exercida numa comunidade local, dentro da comunidade universal que é a Igreja. Colocar-se fora ou contra esta privaria de sentido a atuação do poder de santificár. A Eucaristia, sinal e causa eficaz da unidade dos irmãos em Cristo, teria algum sentido se fosse celebrada por alguém que rompeu por inteiro essa unidade? É evidente que um raciocínio que logicamente leva à admissão da irritabilidade do poder de santificár causa pelo menos perplexidade. Mas não me parece que as dificuldades que daí se derivam sejam insalváveis. As reflexões expostas até aqui constituem a base para a formula- ção de algumas hipóteses sobre o ministério presbiteral e a sua rela- ção com o episcopado. Não me atrevo a dizer que elas tenham sido perfeitamente provadas , mas me parece que constituem a explicação mais coerente dos ensinamentos do Concilio e dos fatos que a História da Igreja nos transmitiu. Eis, pois, as minhas conclusões: 1) A diferença entre bispo e presbítero não pode descansar unicamente numa jurisdição extrasacramental, que era desconhecida na primitiva Igreja e que pugnaria com a própria economia da salva- ção, onde os elementos interno e externo vão sempre unidos. Essa diferença tem a sua base no pró- prio sacramento da ordem. O presbítero, pela ordenação, passa a participar da missão única do Co- 192 légio apostólico; não como titular desse Colégio, mas como o seu auxiliar e subordinado. O bispo, pelo contrário, é membro pleno, continuador do ministério apostó- lico, presencializador na comunidade local de tôda a obra de Cristo e co-responsável na comunidade universal da tarefa primitivamente encomendada aos Doze. 2) Os podêres do presbítero são variáveis e, de fato, variaram ao longo da História, porque o Colégio episcopal pode escolher os seus auxiliares com finalidades diversas , de acordo com as circunstâncias e necessidades da Igreja. A tradição eclesiástica reservou o nome de presbítero para aqueles que foram chamados a colaborar diretamente no q/^erecimento do único sacrifício def Cristo. Daí o nome de sacerdotes pelo qual também são conhecidos. Quanto à administração de outros sacramentos (sobretudo crisma e ordem) o Colégio pode chamar para colaboração maior ou menor. E, precisamente porque o Colégio dos bispos quer conceder estes e não outros podêres, concede-os, de fato, porque êle é o titular da missão e o encarregado de arbitrar os meios necessários para o cumprimento dela. Não se esque- ça: a missão do Colégio é originá- ria, enquanto a dos presbíteros é derivada. 3) O que se afirma dos presbíteros pode ser aplicado — corri as devidas correções — aos diáconos. Também êles foram chamados a colaborar com o Colégio episcopal , mas apenas no plano do ministério e não no do sacerdócio. Aliás , a Igreja — sempre através do Colégio — poderia estabelecer novas e.cambiantes formas de participação na sua tarefa, a serem construídas sobre a base do sacramento da ordem. A função deste sacramento é, portanto, agregar alguém, como membro ou como colaborador, ao Corpo episcopal. 4) O exercício dos podêres conferidos na ordenação, de acordo com a própria natureza da Igreja e da missão, encomendada não a indivíduos isolados mas a um corpo, exige a comunhão eclesial. Mas essa comunhão não pode ser concebida como mero elemento jurídico externo e sim como expressão de uma vida íntima de união na fé , na esperança e na caridade. Ora , assim como a união intencional admite diversos graus , é também possível uma comunhão eclesial limitada e gradual, que dê sentido à ação do ministro, mesmo quando externamente êle se encontre fora ou à margem da comunidade. Aí estaria a explicação da validade do ministério dos orientais separados (inclusive no caso da crisma). 5) Poderia ser irritado ou tornado nulo, o poder já concedido pela ordenação ê pela comunhão com o Colégio? Não se vê como negar essa possibilidade, considerando que o próprio Colégio episcopal é capaz de retirar radicalmente a comunhão com indivíduos ou grupos determinados. Mas , nessa perspectiva, não se pode manter a distinção tradicional entre ordem e jurisdição, porque tôda ação ministerial, mesmo a celebração eucarística, deve realizarse nesse quadro da comunhão eclesial. A natureza sacramentai da Igreja, como conjunto, leva, ao meu modo de ver, a esta conclusão. É verdade, porém, que tradicionalmente se vem afirmando que a Eucaristia é válida em todo caso, sempre que o ministro fôr ordenado e tiver a intenção de celebrar. Mas , isso é conseqüência de uma necessidade intrínseca, nascida da própria ordenação, ou do fato de o Colégio episcopal não ter querido negar nunca a comunhão mínim a , imprescindível para que essa Eucaristia seja uma realidade eclesial? 6) Finalmente, a terminologia atual pode induzir a erro. Principalmente porque reserva o nome de sacerdote para os presbíteros. Os sacerdotes do Novo Testamento são, fundamentalmente, os membros plenos do Colégio episcopal, porque a êles foi encomendada diretamente a tarefa de perpetuar a ação sacerdotal de Cristo. Os presbíteros são, como o Vaticano II os chama, sacerdotes "em grau subordinado" (34), cuja ação fora ou contra a comunhão do Colégio episcopal perderia todo o seu significado eclesial. (34) CONC . OECUM , VAT . II , Decr. de Presbyterorum ministério et vita, Presbyterorum ordinis , n. 2 . 193 Bispo s e Presbíteros: Aspectos sacramentais e organizativos do ministério eclesial Jesu s Hortal , S . J . Thi s articl e mtend s t o dra w th e consequence s ou t o f t h e teaching s o f Vaticãn I I Counci l abou t th e sacramen - talit y o f th e episcopacy . Fro m th e fac t tha t th e tradltíon a l theor y abou t th e distinctio n betwee n orde r powe r a n d jurisdictio n powe r canno t an y longe r b e interprete d a s a basi c an d adequat e divisio n òf th e cburc h ministry , i t look s fo r a sur e bas e fo r th e realit y -wel l knox ^ a s traditiona l o f th e thre e form s I n whic h th e hol y order s a r e conferred : episcopacy , priesthoo d an ^ de^co^ship . A rapi d historica l visio n examine s th e diffèrent theorie s buit t b y canonist s an d theblog^ians , i n orde r t o expláin t h e realit y live d b y th e Church . Base d o n th e counci l texts , i t trie s t o understan d the , sacre d minístry a s a continuatio n o f th e uniqu e missio n transmitte d to th e apostle s b y Christ , thrdug h a n insertio n i h th e episcopa l coUege . , Communio n — no t "jurisdiction " seem s t q b e th e basi c concep t fo r th e Characte r receive d it i ordination . Finally , ther e ar e expresse d a serie s óf hypothese s base d o n |h e previou s analysi s abou t th e distinctio n betwee n bishop s an d priests , abou t th e variou s saçred powers , abou t a possibl e dlvisio n o f th e Sacraínent o f Hòly Órder, abou t th e diffèrent grade s o f tlíe sacreá ministry , abou t t h e possibl e "irritation " o f th e poWér t o sanctify , an d abou t th e convenienc e o f modifyin g th e presen t termino - logy . Na realidade eclesial concreta em que vivemos , nos encontramos com três tipos plenamente diferenciados de ministérios, dentro do que costumamos chamar de "sacramento da ordem": bispos, presbí- teros e diáconos. Ainda que as três, denominações apareçam já na Escritura, a sua distinção clara é testemunhada a partir do século II. Isso vale principalmente para as Igrejas da Ásia Menor, onde a hierarquia tripartita é considerada por Santo Inácio de Antioquia como j organização natural e comum das cornunidades cristãs. Mas se a distinção é conhecida,já naqueles tempos primitivos, a reflexão teológica que.lh e pretendeu dar um fundamento foi elaborada tardiamente e com vacilações. Construiuse., primeiramente, a teoria da distinção de potestades ou do dú- plice poder; de ordem e de jurisdi- ção. O poder de ordem seria plenamente divino, transmissível 183 diretamente pelo sacramento, dirigido à santificação interna dos fiéis , e, uma vez conferido, subtraí- do, quanto à validade, ao domínio da Igreja. O poder de jurisdição, pelo contrário, teria muito de humano, transmitir-se-ia por delega- ção pontifícia e até (pelo menos parcialmente) sem necessidade da base sacramentai, estaria dirigido ao governo externo da sociedade eclesial, e poderia ser invalidado, em todo ou em parte pela autoridade competente. Elaborada pelos canonistas dos séculos XI-XII , esta distinção penetrou profundamente na Escolástica, devido, em grande parte, à autoridade de S. Tomás , que a adotou, com a célebre terminologia de "potestas in Corpus Christi verum " (poder de ordem) e "potestas in Corpus Christi mysticum" (poder de jurisdição) (1). Mas este modo de ver as coisas tem um inconveniente fundamental: a separação quase total dos dois elementos que correm sempre unidos na Igreja: o divino e o humano (2). Ora , a fórmula do Calcedonense — "inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter" (3) percorre toda a realidade derivada da Encarnação. Pretender separar os elementos divinos e humanos é tanto como destruir a ordem inaugurada pelo Homem-Deus. Na prática, aliás, a distinção entre ordem e jurisdição não era tão fácil como podia parecer à primeira vista. Afirmava-se — e o mesmo S. Tomás é testemunha disso — que os bispos e os (1) . Cf. S. Th. Il-llae, q. 184, a. 6, ad 1 ; III , q. 67, a. 2, ad 2 ; 111, q. 82, a. 1, ad 4. (2) Cf. CONCIUU M OECUMENICU M VATICA - N UM II, Const. dogm. de Ecciesla, Lumen Génlium , n. 8. (3) DS 302. 184 presbíteros diferiam apenas no poder de jurisdição e não no de ordem (4). As dificuldades, porém, que se derivavam dessa distinção não podiam ser ignoradas. Sobretudo nos casos da administração dos sacramentos da crisma e da ordem eram particularmente perturbadoras. A confirmação, com maiores ou menores restrições, foi administrada por presbíteros durante toda a História da Igreja. As ordenações, pelo menos em alguns casos (5), foram também conferidas por simples sacerdotes. Onde estava, pois, a distinção entre bispos e padres? No poder de ordem? Por que, então, os dois únicos sacramentos citados sempre como prova podjam ser administrados, vàlidamente, pelo menos em certos casos, por presbíteros? Se faltava a base sacramentai, não se v ê como podia ser suprida por uma simples delegação humana. Se, pelo contrário, com S. Tomás, se pensava no poder de jurisdição, como base da distinção entre presbíteros e bispos, devia explicar-se porque a Igreja considerava como (4) "A d quartum dicendum quod episcopus accipit potestaten ut agat in persona Cliristi supra corpus eius mvsticum: idest super Ecclesiam: quam quidem potestatem non accipit sacerdos in sua consecratione, licet possit eam habere ex episcopi commissione. Et ideo ea quae non pertinent ad disposi - tionem cornoris mvstici, non reservantur eoiscopo" (S. Th. 111, q. 82, a. I, ad 4). Cf. também; In IV Sen», d. 7, q. 3, a. 1 co. 2, ad 3; d. 24, q. 3, a. 2, col. 2-3; S. Th. ll-llae q. 184, a. 6, ad 1 ; III q. 65, a. 3, ad 2 ; q. 67, a. 2; q. 82, a. 1, ad 4 e a. 3 , ad 3. Não deve esquecer-se, porém, que o mesmo S. Tomás parece inclinar-se, nas suas últimas obras , por uma distinção entre bispos e nresbíteros baseada não apenas na diversa "jurisdição" . Cf. De perf. vitae spir., c. 24, n. 715. (5) Cf. BONIFAT . IX, Bulla Sacra* raliglonis, DS 1145; MARTIN. V . Bulla Gerantas ad vos , DS 1290; INNOCENT . VIII , Bulla Exposcit tua * d*votionis , DS 1435. O recurso fácil à negação da autenticidade destes d» , cumentos , que costumava empregar-se nos nossos manuais de Teologia, não é mais possível depoi s que foram descobertos o i originais conservados no Arquivo Vaticano. inválidas — e não apenas como ilícitas — as confirmações e ordenações realizadas por sacerdotes não autorizados. Para fugir a essas dificuldades foram elaboradas diversas teorias. Pensou-se, em primeiro lugar, numa irritação eclesiástica do poder sacramentai. Mas , por que essa irritação era possível nos casos da crisma e da ordem e não no da eucaristia? De fato, a Igreja considerou sempre como válida — embora ilícita — a celebração eucarística dos presbíteros que se encontram fora da comunhão eclesial, enquanto que ordenações e crismas, realizadas por padres incensurados mas não autorizados, eram dadas como inválidas. Falou-se, então, de um poder delegado de ordem. Os presbíteros não possuiriam, em virtude da própria ordenação, a faculdade de administrar os dois sacramentos citados, mas a Igreja, através dos bispos ou do papa, poderia delegar-lhes esse poder. A teoria ia , porém, diretamente contra a base da distinção entre ordem e jurisdi- ção. O poder de ordem era , como dizíamos, sacramentai, conferido diretamente por Deus, dirigido à santificação dos indivíduos e, por isso, subtraído radicalmente ao domínio da sociedade eclesial. Mas poder delegado de ordem significa algo social, regulável à vontade da autoridade humana, não conferido diretamente por Deus. Aliás , se, mediante uma simples delegação, os presbíteros podiam obter todas as faculdades dos bispos, para que servia a sagração episcopal? A única saída possível parecia a negação da distinção de graus dentro do sacramento da ordem. O presbiterato seria a ordenação propriamente dita. Bispos e padres seriam completamente iguais no plano da ordem, diferindo apenas no plano da jurisdição. A eucaristia não poderia ser nunca invalidada porque a consagração não atua diretamente sobre os súditos da Igreja. As ordenações e a crism a , pelo contrário, exigem necessariamente um sujeito que, por definição, deve ser súdito da Igreja. Ora , ela poderia assiná-lo ou não a tal sacerdote concreto, conferindo ou negando a validade desses sacramentos. O resultado, porém, desta teoria foi uma enorme casuística sobre designação de súditos, subordinação de uns ministros a outros, liceidade, iliceidade ou iterabilidade dos sacramentos. No tempo do Concilio de Trento, a questão da distinção entre bispos e presbíteros se apresentava tão complicada que os padres conciliares não se atreveram a resolvê-la, contentando-se apenas com afirmar a superioridade dos bispos sobre os presbíteros, mas sem fornecer a razão intrínseca dela (6). A distinção entre ordem e jurisdição sofreu os primeiros embates quando, nos fins do século XVIII , alguns teólogos e canonistas católicos começaram a aceitar a doutrina protestante dos tempos do lluminismo sobre a divisão tripartita do poder eclesial: santificação, magistério e regime (7). Sem dúvida , essa teoria apresentava grandes vantagens do ponto de vista pedagógico e até parecia ter um fundamento bíblico (6) CONC . TRID. Sess. XXIll , cap. 4 (DS T768) e can. 7 (DS 1777). (7) Sobre a origem da divisão tripartita, cf. J . FUCHS , Magisterium, Ministarium, Regimen. V o m Ursprufig einer «MilMiologítchaii Trilogia, Bonn, 1941 ; ID., Waiheuikrameiitale Grundiagung liirchlieher Rachtsgewait, in Scholasfilc 16 (1941) 496-520. 1 8 5 claro: Mt 28 , 19-20 (8). Mas , do ponto de vista da Teologia dogmá- tica e da Sistemática jurídica, oferecia igualmente não pequenos iriíçonvenientes. Qual era, afinal, a -natureza e o modo de transmissão do poder de magistério? Para muitos parecia ser uma espécie de potestade intermédia, carismática mais do que sacramentai, e dirigida tanto à santificação quanto ao governo dos fiéis. Para fugir a essa indefinição do poder de magisté- rio, a maior parte dos canonistas da segunda metade do século XI X e da primeira do X X acabaram rejeitando a tríplice divisão e voltaram à bipartição entre ordem e jurisdição (9). O" magistério seria apenas um exercício da jurisdição eclesiástica. Justificavam-se assim as licenças que ainda hoje são necessárias para a pregação. Voltavase, porém,'às dificuldades dos sé- culos anteriores, , No momento em cjue começa o Concilio Ecumênico Vaticano II , a distinção -radical entre poder de ordem e poder de jurisdição parece ser um obstáculo para o prgresso' da Teotogia do Episcopado. Com efeito, essa distinção tinha entrado nos documentos rebentes dO' Magistério eclesiástico ordiná rio. Em Pio XI I é'clara a afirmação da transmissão da ' jurisdição por intermédio dó Papa e não direta mente pelo sacramento (10). Os Padres conciliares pretendem solucionar o dilema" mediante a compreer?são'de tôda a realidade ecle- (8) Esse fundamento bíblico não parece ser tão evidente como alguns autores afirmam: Cf. M. VIDAL , íTiiene fundamento biMico Ia ' div&ión trÍDartila de Ia Teologia Pastoral? , em Pentecostés 8 (1070) 3-17. (9) Cf. , p. ex. WERNZ-VIDAL , lus Canonieum, I I , p. 62 ss.; A. OTTAVIANI , Intlítuttones luri s Publici Ecciesiaslici, ed. 4.^, Romae, , 1958, 1. p. 186 ss.; J . FERRANTE , Suinnia luris Constifutionalis Eeclesiae, Romae 1964, pp. 196 ss. 186 sial sob o prisma da sacramentalidade da sua ação. Falar-se-á de "mistério", de "sacramento", de "natureza encarnatória da Igreja", de "caráter teândrico", etc. No fundo, está presente a realidade de uma dupla estrutura eclesial: visível e invisível, jurídica e carismática, humana e divina. Não é que essa dupla estrutura fosse desconhecida anteriormente, mas a união íntima, inseparável, entre os dois elementos não era suficientemente acentuada (11). À luz desta nova compreensão da Igreja, a distinção radical entre ordem e jurisdição não é mais .possível. No "poder de ordem" deve estar presente também um elemento organizativo, social; e »o "poder de jurisdição" não pocíe faltar o elemento sacramentai. Numa linguagem às vezes obscura, que procura evitar as palavras "ordem" e "jurisdição" e até mesmo o termo (10) "(Episcopi) non plane sui iuris sunt, sed sub debita Romani Pontificis auctoritate • positi, quamvts ordinária iurisdictionís potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontífice Summo impertita" ; Ene. Mvstici Corporis , em AA S 35 (1943) 212; "iuris - dictionís autem potestas, quae Supremo Pontifici iure ipso divino confertur, Episcopis ex eodem provenit iure, at nonnísí. per Petri Sucessorem" : Ene. A d Sínarum Gentes efn AA S 47 (1955) 9; "hoc posito, efficitur ut Episcopi nec nominati nec confirmati a Sede Apostólicanuli a fruantur potestate magisterlí et iurisdictionís, cum iurísdictio Episcopi s per unüm Romanum Pontificem obtingat" : Ene. A d Apoitolorum Pincipis , em AA S 50 (1958) 610. O s grifos são meus . (11) Cf. W. BERTRAMS, De constilulione Écclasiae simui charismalica e l inslilulionali, em Periódica 57 (1968) 302 ss. Quase em todos os escritos deste autor iiá úm aceno a essa dupla estrutura. Por isso, não parece haver dúvida quanto à sua contribuição para a redação final do capítulo III e da "Not a explicativa prévia da Const. dogm. lume n Oentium. ' Cf , entre outros, bs' seguintes estudos do citada P. BERTRAMS: De relalione inter Episcopatum et Primatum, Principia philosophica et theologica quibus relatio iuridica fundatur inter officium episcopaje e» primatiale, Romae, 1963;^ De quaestione circa originem potestis iurisdic- . .«ionis Eaiscoperum in Contilio Tridantino non resoluta, em Periódica 52 ,(1963) 45? - 476;'Paps t und Bischâfskollegium ais Trãger der kirchiichen Hirtengewait, Paderborn, 1965. "poder", o Capítulo III da "Lumen Gentium" e a sua "Nota explicativa prévia " nos falam da participa- ção ontológica nos múnus sagrados através da sagração episcopal. Pensava-se assim poder explicar facilmente as relações entre os membros do Colégio episcopal e o Romano pontífice. Na realidade, porém, atingia-se também a questão da diferença entre bispos e presbíteros. Não há dúvida que o Concilio realizou um grande avanço, mas ainda deixou alguns pontos obscuros e não poucas ambigüidades, principalmente em relação à essa última questão. Procuremos, portanto, tirar as conseqüências da doutrina conciliar. A base para a compreensão do sacerdócio cristão, neste como em qualquer outro aspecto, é a vida e a obra de Cristo. Dêle deriva todo poder, porque a Êle foi entregue pelo Pai (12). É, portanto, no Cristo onde poderemos encontrar o modelo para a interpretação do poder eclesiástico. E o que encontramos aí? Cristo é envjado pelo Pai (13). Mas, simultâne^ente , é ungido pelo Espírito Santo (14). Do mesmo modo, Êle envia ôs Apóstolos (15) e lhes concede'ou promete para o futuro a unção do Espírito Santo (16). Nestes textos, aparece claro que missão e consagração, embora separaveis, è até mesmo conferidas em ocasiões diversas, estão sempre em íntima relação. Cristo, que iá desde o início recebeu a sua missão, não começa a sua "pregação do Reino", quer dizer a rea- (12) Cf. M l 28 18. (13) Jo 20, 21 . Aliás , em todo o Evangelho de S. João é um tema constante a missão do Filho, que é enviado ao mundo pelo Pai. (14) Cf. Lc. 4, 18s. e os relatos do batismo de Jesus . (15) Jo 20, 21 ; Mt 23 , 19-20; Mc 16, 15-18. (16) Lc 24, 49 ; Jo 14, 16-17; 20,22; At 7, 5.8. iização estrita da sua missão, senSo depois da unção visível pelo Espirito, no momento do batismo. Por sua vez , os Apóstolos recebem a ordem de não se empenharem diretamente na missão até não terem recebido a consagração interior do Paráciito (17). É claro que a missão, a ordem externa pela qual alguém é enviado, representa um elemento organizativo. Na compreensão humana, é a autoridade quem dá o mandato, quem envia. E, no caso dos Apóstolos, essa autoridade é o pró- prio Cristo, que manifesta claramente a sua vontade. Por sua vez , a santificação ou consagração é um elemento fundamentalmente interno e invisível. Mas aqui, ao igual que em tôda a ordem derivada do Encarnação, os elementos divinos e humanos, internos e externos , não aparecem separados, desunidos. A missão é externa, mas a autoridade que a confere é divina. A un- ção do Espírito é interna, mas é realizada mediante um rito externo (18), e se destina a completar a missão recebida. Porém, a tarefa a realizar não está dividida; é única como único é o Espírito que a deve dirigir. Há, em principio, uma única missão, e há um único grande missionário: o Colégio apostólico, depositário do mandato de Cristo e transmissor do único Espirito (19). Daí se derivam os dois grandes princípios que o Vaticano II enunciou no capítulo III da tumen Gentium: a colegialidade e a'sacra - mentalidade do Episcopado. Não (17) Lc 24 , 49; A t 1, 4. (18) Cf. Jo 20, 22 ; At 6,6; 9, 17; 13, 2-3. (19) ".. . quos Apóstolos (cf. Lc 6,13) ad modum çòllegii sçu coefus stabilis instifuit.. . Eos ad filios Israel primum et ad omnes gentes misit (cf. Rom 1, 161" : Const. dogm. de Ecciesia lume n Gentium, n. 19. r 8 7 há, não pode haver na Igreja um ministério individual, indeperidente da comunhão eclesial. Quem se coloca voluntariamente contra a ordem estabelecida por Cristo, como participará da sua missão e do seu Espírito? É na comunhão do Colégio que todos os ministérios encontram a sua unidade. E é na imposição das mãos pelos membros do Colégio, seguindo o exemplo dos Apóstolos, que o Espírito nos é dado para a edificação do Corpo de Cristo. Essa comunhão, de origem sacramentai, mas de conseqüências sociológicas e organizativas, é o ponto de encontro do visível e do invisível, do divino e do humano, no ministério eclesial (20). De acordo com os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, o Colégio apostólico começa a realizar a sua missão unido como um todo, como um conjunto. A dé-> da unidade da tarefa a realizar parece ocupar naqueles momentos o primeiro plano. Mas a mesma dinâmica da vida da Igreja deveria, mais tarde, levar necessariamente ao reconhecimento da multiplicidade implícita nessa unidade. Surge assim, em primeiro lugar, o problema da limitação das forças dos Doze, que os leva a impor as mãos aos sete varões que deverão encarregar-se da assistência aos indigentes (21). Apresenta-se depois a necessidade de espalhar a boa nova além dos limites restritos de Jerusalém e, conseqüentemente, a desagregação dos Doze, que passam a viver dispersos, sem, contudo, romperem a sua unidade na comunhão. Há, enfim — com o (20) O caráter social dos sacramenots (portanto, também do sacramento da ordem) é frisado no n.o 7 da lumen Gentium. (21) At 6, 1-7. 188 decorrer dos anos — o avizinhar-se da morte e o crescimento da consciência de que o ministério não poderá desaparecer com a passagem do Apóstolo. Seus colaboradores deverão continuar a sua tarefa (22). Nesse contexto histórico, a Igreja primitiva viveu uma realidade antes de refletir sobre ela. Essa realidade pode-se resumir em três frases: unidade da missão encomendada por Cristo; sacramentalidade da inserção no Colégio apostólico, através da imposição das mãos; multiplicidade de ministé- rios, explicitada de acordo com as circunstâncias e necessidades das comunidades locais. A unidade nos fala da comunhão eclesial; a sacramentalidade nos mostra a união entre o visível e o invisível na sucessão apostólica; a multiplicidade, enfim , nos indica um certo poder da Igreja sobre os sacramentos. Nas primeiras comunidades cristãs, não só a diversidade de nomes (apóstolos, colaboradores, enviados , evangelistas, profetas, bispos, presbíteros, guias, diretores, pastores, presidentes. . .) , mas também a falta de diferenciação clara das diversas funções, nos está indicando a multiplicidade potencial do ministério eclesial (23). Num tempo relativamente breve, essa multiplicidade acaba enquadrando-se no (22) Cf. , por exemplo, 2, Tim 4, 5-8 e as passagens finais das Epístolas do cativeiro. A Const. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium ensina o mesmo no seu número 20: (Apostou) "non solum.. . vários adíutores in mi - nistério habuerunt, sed ut missio ipsis concredita post eorum mortem continuaretur, cooperatoribus suis immediatis , quasi per modum testamenti, demandaverunt munus perficiendi et confirmandi opus ab ipsis inceptum" . (23) Entre os múltiplos estudos sabre este ponto, podemos destacar: MANUE L GUERI^A GO - MEZ, I a Colegialidad en Ia conttitueiin jerárquica y en el gobiarno da la> primerat comunidades cristianas, na obra coletiva El Colégio Episcopal, Madrid, 1964. tríplice esquema, hoje tão conhecido para nós: episcopado, presbiterato e diaconato. Tão acostumados estamos a esse esquema, que nem sequer nos apresentamos a questão da sua reformabilidade. Contemplando, po- • rém, a evolução histórica a que temos feito referência, manifestase-nos um primeiro problema. Nas comunidades cristãs primitivas, o único ministério apostólico se desdobrou, sob o impulso das circunstâncias e necessidades pastorais, até chegar a cristalizar nos três graus da chamada "hierarquia de ordem". Conserva a Igreja, ainda hoje, a capacidade de desenvolver em formas novas as virtualidades do sacramento da ordem? Quer dizer, poderia ela, no nosso tempo, estabelecer novos modos de participação no sacerdócio ministerial que foi confiado ao Colégio apostólico? Dificilmente se poderá negar essa possibilidade se se considera que o exclusivismo da nossa organização atujl não parece ser um dado dos primeiros tempos do Cristianismo, mas apenas um fruto da era pós-apostólica. A s declara- ções do Concilio de Trento, que afirmam uma hierarquia de ordem, estabelecida por instituição divina (24), não constituem nenhuma dificuldade, pois, de modo algum, afirmam que os diversos graus procedam imediatamente de Cristo, nem que todas as virtualidades do sacramento da ordem fiquem esgotadas na trilogia "bispos , presbíteros e ministros". Não é nenhuma novidade a teoria da instituição apenas genérica do sacramento da ordem por Cristo. A literatura canônica e teológica a (24) CONC . TRID. jess . XXIll : Decr. de sacram. ordinis , especialmente o cap. 4 e o cânon 6: DS 17Ó8, 1776. este respeito é grande (25). Dividem-se, porém, os autores quando se trata de determinar se após a fixação dos três graus conhecidos é ainda possível uma ordenação diferente do ministério eclesial. E a verdade é que não há nenhum argumento convincente. Se, como parece, a distinção clara entre bispos, presbíteros e diáconos é apenas pós-apostólica, não se pode dizer que pertença ao núcleo da revelação, que ficou encerrada com a morte do último Apóstolo. O Colégio apostólico, primeiramente, e o Colégio episcopal depois, foram chamando homens que, em diversos graus e de diversos modos deveriam colaborar na missão única, ou continuá-la. Essa participação não parece ser, na consciência dos primeiros séculos cristãos, uma entrega parcelada de podêres que só através de etapas sucessivas possam ser alcançados. O ministério nos aparece dividido não em degraus que devam ser escalados progressivamente, mas em modos de participação, em tarefas especializadas, em missões a cumprir dentro da grande missão. Os exemplos de ordenações "pe r saltus" não são raros, nem levantaram maiores problemas teológicos (26). Em tôda ordenação de diácono, presbítero ou bispo há, fundamentalmente, uma inserção nessa grande missão do Colégio; há — valha a expressão — uma "incardinação" não nesta ou naquela diocese, mas no Colégio episcopal, depositário e transmissor (25) Pode consultar-se uma lista bastante completa no trabalho de ANTÔNI O MOSTAZ A RODRIGUEZ , Poderes episcopales y pretbi - terales, em La Función pastoral de los ©bis - pos , XI Semana espanola de Derecho canónico, Salamanca 1967. (26j É típico, a este respeito, o caso dos papas. Cf. MICHE L ANDRIEU , La urrièr e eeclesiastiqua des papes du moyen tge , em Rev. des Sciences rei. 27 (1947) 90-120. 189 do mandato de Cristo. Por isso, a Lumen Gentium pôde afirmar que "todos os sacerdotes. . . estão unidos com o Corpo dos Bispos e, segundo sua vocação e graça, devem servir ao bem de tôda a Igreja" (27). Em tôda ordenação há, portanto, já uma missão. Ordenação e missão aparecem tão intimamente unidas nos primeiros séculos que nem se cogita na sua pogsível separação. Daí que os clérigos sejam sempre ordenados relativamente, quer dizer destinados já a um ministério particular: a uma diocese, a um "título" ou a uma diaconia concretos e determinados (28). A participação de, pelo menos, três bispos na sagra- ção episcopal, que nos é apresentada em Nicéia como lei universal e tradicional (29), dá , por sua vez , o sentido da universalidade, da participação na missão única do Colégio através do rito sacro do sacramento da ordem. Quando, a partir da Alta Idade Média, começam a generalizar-se na Igreja as ordenações absolutas, sem referência explícita a um ofí- cio determinado, o pensamento teológico procura uma justificação (27) Consf. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. (28) Essa disciplina foi rigorosamente observada durante os, quatro primeiros séculos. Aos poucos , caiu em desuso; mas para a Igreja Romana airida era lei, nos fins do século IX, e a sua inobservância deu lugar aos conhecidos episódios relacionados com a elevação de Formoso (891-896) ao Pontifi - , cado. Tão forte era a união entre o ordenado e ofício a que se destinava que c próprio Concilio Ecumênico de Nicéia consi - dera como absolutamente nula qualquer trasladação a outra diocese, título ou diaconia. Cf. CONC . NICAEN . 1, can. 15: ".. . si qui s vero,. . tale quid agere temptaverit.. . hoc factum prorsus in irritum deducatur et restituatur eeclesiae, cui fuit episcopus , presbyter aut diaconus órdinatus" : em Conci - líorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc, p. 12. (29) Cf. CONC . NICAEN . I, can. 4, em Concí - liorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc), Friburgi 1962, pp. 6-7. i9Ó teórica para o fato d a aparente separação radical e adequada das duas realidades que virão a receber o nome de ordem e jurisdição. Surgirá assim a teoria a que fazíamos referência no começo deste artigo. A ordenação conferiria somente o poder de ordem, sacramentai, de santificação; poder que deveria ser completado em todos os casos nos quais o seu exercício atinge diretamente os indivíduos (os "súditos", como costumava dizer-se). Por isso, a confissão "sem jurisdição" seria nula, mas a celebração da Eucaristia — que atua diretamente sobre a realidade divina do Corpo de Cristo e só indiretamente sobre os fiéis — seria sempre válida. A jjjrisdição, distinta e separável do poder de ordem, se transmitiria e seria, até certo ponto, independente da ordenação sacerdotal. Esta teoria parecia mais cômoda enquanto permitia explicar a diferença entre bispos e presbíteros, sem aumentar o nú- mero dos sacramentos e nem sequer recorrer à concepção da diversidade de graus no sacramento da ordem. A verdadeira, a única ordenação sacerdotal, seria ó presbiterato. Bispos e presbíteros diferenciar-se-iam apenas no poder de jurisdição (30). J á temos falado, anteriormente, das dificuldades que essa teoria apresenta. Vejamos ainda uma outra. Na realidade, a distinção radical entre ordem e jurisdição e a negação da multiplicidade contida no sacramento da ordem, em lugar de explicar, obscureciâ a distinção entre bispos e presbíteros. Perante um bispo titular sem (30) Entre os autores mais recentes partidários dessa teoria, pode destacar-se J . BEVÉR, Nature et position du iacerdoce, em Nouv. Rev. Théol. 86 (1954) 356-373; 469-480. nenhuma função especial numa diocese, deveríamos dizer que se encontra "degradado" à condição de presbítero? E, por sua vez , um presbítero que, como no caso dos prelados "nuliius", dos administradores apostólicos, dos vigários capitulares ou dos prefeitos apostólicos, governasse de fato uma diocese ou um território afim, poderia dizer-se que tinha sido "elevado" à categoria de bispo? Pôr causa das dificuldades apontadas, o Concilio Vaticano II abandonou a velha terminologia e fala não de "ordem" e "jurisdição", mas do tríplice "múnus " de ensinar, santificár e governar, cuja participação ontológica é conferida aos bispos na sagração episcopal. Os três múnus têm, portanto, uma base sacramentai, uma estrutura interna anterior à sua manifestação externa, à sua atuação no contexto social da Igreja. Mas se isso é verdade para os bispos, deve sê-lo igualmente para os presbíteros, que também recebem o sacramento da ordem, embora em forma diferente. Os presbíteros não são chamados "participantes do sacerdócio dos bispos", mas do único sacerdócio de Cristo (31). Daí que, também para êles , ps podêres de ensinar, santificár e governar tenham o seu apoio, a sua base ontológica, na ordenação recebida. A mudança de terminologia no Concilio é evidente. Trata-se, poréni, também de uma mudança de doutrina? Ou melhor, de uma volta a uma doutrina esquecida: a da sacramentalidade radical do poder eclesial? Assim parece ser. Contudo, nem todas as dificuldades fo- (31) ".. . (Presbyteri). consecranfur, ut veri sa- . cerdotes Novi Testamenti Muneri s unici Me-, diatoris Christi (1 Tim 2,5) participes in suo ' . gradu ministérii" : Const. dogm, de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. ram resolvidas. Os "múnus", afirma o Concilio, são conferidos na ordenação sagrada; mas devem ser exercidos na "comunhão hierárquica" (32). Não está aqui ainda escondida a distinção entre ordem e jurisdição? Pelo menos uma reminiscência dela é clara. De fato, a relação da comissão sobre o modo 39 afirma que a restrição da necessidade da comunhão para o exercício dos múnus episcopais se refere unicamente aos de ensinar e reger, não ao de santificár. Èm outras palavras , o múnus de santificár (antigo "poder de ordem") já estaria expedito para a ação pélp fato da simples sagração episcopal, enquanto os múnus de ensinar e governar (antigo "poder de jurisdição") deveriam ser completados pela "comunhão hierárquica" (33). Se fôssemos tirar as conseqüências lógicas dessa explicação dada na aula conciliar, teríamos que concluir que o poder de santificár é sempre vàlidamente exercido; ó que não acontece com os de ensinar e governar. E não era èssá a doutrina "pré-conciliar" das duas potestades? Colocada, porém, a premissa da unidade do ministério em Cristd, tem sentido um poder sacramentai exercido totalmente fora da comunhão eclesial? A necessidade dessa comunhão não me parece que: se possa justificar apenas pela exigência da determinação dos súdir tos sobre os quais o ministério deva ser exercido. Pelo contrário, a comunhão hierárquica é uma con- (32) C{. Const. dogm. de Ecciesia-^luiniM -.âmr tium, n. 21 . (33) (Textus approbatus) "affirmàt cohsècfationô conferri, cum munere sanctificandl,^- ^çtlam munera regendi ac.docendi ; curn hac qui - dem restrictione, quod haec ultim a extra communionem exercteri non possunt" : Responsió ad modurti 39, âp. J . Aí. RAMIREZ, De Epiacopatu u t sacramentp deqúe epii ? coporum collegio, Salmanticae 1966, p. 55 , Í91 seqüência da estrutura social de todos os sacramentos, incluído o da Eucaristia. Êles são ações "da Igreja", realizadas "na Igreja". O caráter indelével do sacramento da ordem é, sem dúvida , um dado certo da tradição cristã, mas é igualmente certo que a ordenação é uma realidade destinada a ser exercida numa comunidade local, dentro da comunidade universal que é a Igreja. Colocar-se fora ou contra esta privaria de sentido a atuação do poder de santificár. A Eucaristia, sinal e causa eficaz da unidade dos irmãos em Cristo, teria algum sentido se fosse celebrada por alguém que rompeu por inteiro essa unidade? É evidente que um raciocínio que logicamente leva à admissão da irritabilidade do poder de santificár causa pelo menos perplexidade. Mas não me parece que as dificuldades que daí se derivam sejam insalváveis. As reflexões expostas até aqui constituem a base para a formula- ção de algumas hipóteses sobre o ministério presbiteral e a sua rela- ção com o episcopado. Não me atrevo a dizer que elas tenham sido perfeitamente provadas , mas me parece que constituem a explicação mais coerente dos ensinamentos do Concilio e dos fatos que a História da Igreja nos transmitiu. Eis, pois, as minhas conclusões: 1) A diferença entre bispo e presbítero não pode descansar unicamente numa jurisdição extrasacramental, que era desconhecida na primitiva Igreja e que pugnaria com a própria economia da salva- ção, onde os elementos interno e externo vão sempre unidos. Essa diferença tem a sua base no pró- prio sacramento da ordem. O presbítero, pela ordenação, passa a participar da missão única do Co- 192 légio apostólico; não como titular desse Colégio, mas como o seu auxiliar e subordinado. O bispo, pelo contrário, é membro pleno, continuador do ministério apostó- lico, presencializador na comunidade local de tôda a obra de Cristo e co-responsável na comunidade universal da tarefa primitivamente encomendada aos Doze. 2) Os podêres do presbítero são variáveis e, de fato, variaram ao longo da História, porque o Colégio episcopal pode escolher os seus auxiliares com finalidades diversas , de acordo com as circunstâncias e necessidades da Igreja. A tradição eclesiástica reservou o nome de presbítero para aqueles que foram chamados a colaborar diretamente no q/^erecimento do único sacrifício def Cristo. Daí o nome de sacerdotes pelo qual também são conhecidos. Quanto à administração de outros sacramentos (sobretudo crisma e ordem) o Colégio pode chamar para colaboração maior ou menor. E, precisamente porque o Colégio dos bispos quer conceder estes e não outros podêres, concede-os, de fato, porque êle é o titular da missão e o encarregado de arbitrar os meios necessários para o cumprimento dela. Não se esque- ça: a missão do Colégio é originá- ria, enquanto a dos presbíteros é derivada. 3) O que se afirma dos presbíteros pode ser aplicado — corri as devidas correções — aos diáconos. Também êles foram chamados a colaborar com o Colégio episcopal , mas apenas no plano do ministério e não no do sacerdócio. Aliás , a Igreja — sempre através do Colégio — poderia estabelecer novas e.cambiantes formas de participação na sua tarefa, a serem construídas sobre a base do sacramento da ordem. A função deste sacramento é, portanto, agregar alguém, como membro ou como colaborador, ao Corpo episcopal. 4) O exercício dos podêres conferidos na ordenação, de acordo com a própria natureza da Igreja e da missão, encomendada não a indivíduos isolados mas a um corpo, exige a comunhão eclesial. Mas essa comunhão não pode ser concebida como mero elemento jurídico externo e sim como expressão de uma vida íntima de união na fé , na esperança e na caridade. Ora , assim como a união intencional admite diversos graus , é também possível uma comunhão eclesial limitada e gradual, que dê sentido à ação do ministro, mesmo quando externamente êle se encontre fora ou à margem da comunidade. Aí estaria a explicação da validade do ministério dos orientais separados (inclusive no caso da crisma). 5) Poderia ser irritado ou tornado nulo, o poder já concedido pela ordenação ê pela comunhão com o Colégio? Não se vê como negar essa possibilidade, considerando que o próprio Colégio episcopal é capaz de retirar radicalmente a comunhão com indivíduos ou grupos determinados. Mas , nessa perspectiva, não se pode manter a distinção tradicional entre ordem e jurisdição, porque tôda ação ministerial, mesmo a celebração eucarística, deve realizarse nesse quadro da comunhão eclesial. A natureza sacramentai da Igreja, como conjunto, leva, ao meu modo de ver, a esta conclusão. É verdade, porém, que tradicionalmente se vem afirmando que a Eucaristia é válida em todo caso, sempre que o ministro fôr ordenado e tiver a intenção de celebrar. Mas , isso é conseqüência de uma necessidade intrínseca, nascida da própria ordenação, ou do fato de o Colégio episcopal não ter querido negar nunca a comunhão mínim a , imprescindível para que essa Eucaristia seja uma realidade eclesial? 6) Finalmente, a terminologia atual pode induzir a erro. Principalmente porque reserva o nome de sacerdote para os presbíteros. Os sacerdotes do Novo Testamento são, fundamentalmente, os membros plenos do Colégio episcopal, porque a êles foi encomendada diretamente a tarefa de perpetuar a ação sacerdotal de Cristo. Os presbíteros são, como o Vaticano II os chama, sacerdotes "em grau subordinado" (34), cuja ação fora ou contra a comunhão do Colégio episcopal perderia todo o seu significado eclesial. (34) CONC . OECUM , VAT . II , Decr. de Presbyterorum ministério et vita, Presbyterorum ordinis , n. 2 . 193 Bispo s e Presbíteros: Aspectos sacramentais e organizativos do ministério eclesial Jesu s Hortal , S . J . Thi s articl e mtend s t o dra w th e consequence s ou t o f t h e teaching s o f Vaticãn I I Counci l abou t th e sacramen - talit y o f th e episcopacy . Fro m th e fac t tha t th e tradltíon a l theor y abou t th e distinctio n betwee n orde r powe r a n d jurisdictio n powe r canno t an y longe r b e interprete d a s a basi c an d adequat e divisio n òf th e cburc h ministry , i t look s fo r a sur e bas e fo r th e realit y -wel l knox ^ a s traditiona l o f th e thre e form s I n whic h th e hol y order s a r e conferred : episcopacy , priesthoo d an ^ de^co^ship . A rapi d historica l visio n examine s th e diffèrent theorie s buit t b y canonist s an d theblog^ians , i n orde r t o expláin t h e realit y live d b y th e Church . Base d o n th e counci l texts , i t trie s t o understan d the , sacre d minístry a s a continuatio n o f th e uniqu e missio n transmitte d to th e apostle s b y Christ , thrdug h a n insertio n i h th e episcopa l coUege . , Communio n — no t "jurisdiction " seem s t q b e th e basi c concep t fo r th e Characte r receive d it i ordination . Finally , ther e ar e expresse d a serie s óf hypothese s base d o n |h e previou s analysi s abou t th e distinctio n betwee n bishop s an d priests , abou t th e variou s saçred powers , abou t a possibl e dlvisio n o f th e Sacraínent o f Hòly Órder, abou t th e diffèrent grade s o f tlíe sacreá ministry , abou t t h e possibl e "irritation " o f th e poWér t o sanctify , an d abou t th e convenienc e o f modifyin g th e presen t termino - logy . Na realidade eclesial concreta em que vivemos , nos encontramos com três tipos plenamente diferenciados de ministérios, dentro do que costumamos chamar de "sacramento da ordem": bispos, presbí- teros e diáconos. Ainda que as três, denominações apareçam já na Escritura, a sua distinção clara é testemunhada a partir do século II. Isso vale principalmente para as Igrejas da Ásia Menor, onde a hierarquia tripartita é considerada por Santo Inácio de Antioquia como j organização natural e comum das cornunidades cristãs. Mas se a distinção é conhecida,já naqueles tempos primitivos, a reflexão teológica que.lh e pretendeu dar um fundamento foi elaborada tardiamente e com vacilações. Construiuse., primeiramente, a teoria da distinção de potestades ou do dú- plice poder; de ordem e de jurisdi- ção. O poder de ordem seria plenamente divino, transmissível 183 diretamente pelo sacramento, dirigido à santificação interna dos fiéis , e, uma vez conferido, subtraí- do, quanto à validade, ao domínio da Igreja. O poder de jurisdição, pelo contrário, teria muito de humano, transmitir-se-ia por delega- ção pontifícia e até (pelo menos parcialmente) sem necessidade da base sacramentai, estaria dirigido ao governo externo da sociedade eclesial, e poderia ser invalidado, em todo ou em parte pela autoridade competente. Elaborada pelos canonistas dos séculos XI-XII , esta distinção penetrou profundamente na Escolástica, devido, em grande parte, à autoridade de S. Tomás , que a adotou, com a célebre terminologia de "potestas in Corpus Christi verum " (poder de ordem) e "potestas in Corpus Christi mysticum" (poder de jurisdição) (1). Mas este modo de ver as coisas tem um inconveniente fundamental: a separação quase total dos dois elementos que correm sempre unidos na Igreja: o divino e o humano (2). Ora , a fórmula do Calcedonense — "inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter" (3) percorre toda a realidade derivada da Encarnação. Pretender separar os elementos divinos e humanos é tanto como destruir a ordem inaugurada pelo Homem-Deus. Na prática, aliás, a distinção entre ordem e jurisdição não era tão fácil como podia parecer à primeira vista. Afirmava-se — e o mesmo S. Tomás é testemunha disso — que os bispos e os (1) . Cf. S. Th. Il-llae, q. 184, a. 6, ad 1 ; III , q. 67, a. 2, ad 2 ; 111, q. 82, a. 1, ad 4. (2) Cf. CONCIUU M OECUMENICU M VATICA - N UM II, Const. dogm. de Ecciesla, Lumen Génlium , n. 8. (3) DS 302. 184 presbíteros diferiam apenas no poder de jurisdição e não no de ordem (4). As dificuldades, porém, que se derivavam dessa distinção não podiam ser ignoradas. Sobretudo nos casos da administração dos sacramentos da crisma e da ordem eram particularmente perturbadoras. A confirmação, com maiores ou menores restrições, foi administrada por presbíteros durante toda a História da Igreja. As ordenações, pelo menos em alguns casos (5), foram também conferidas por simples sacerdotes. Onde estava, pois, a distinção entre bispos e padres? No poder de ordem? Por que, então, os dois únicos sacramentos citados sempre como prova podjam ser administrados, vàlidamente, pelo menos em certos casos, por presbíteros? Se faltava a base sacramentai, não se v ê como podia ser suprida por uma simples delegação humana. Se, pelo contrário, com S. Tomás, se pensava no poder de jurisdição, como base da distinção entre presbíteros e bispos, devia explicar-se porque a Igreja considerava como (4) "A d quartum dicendum quod episcopus accipit potestaten ut agat in persona Cliristi supra corpus eius mvsticum: idest super Ecclesiam: quam quidem potestatem non accipit sacerdos in sua consecratione, licet possit eam habere ex episcopi commissione. Et ideo ea quae non pertinent ad disposi - tionem cornoris mvstici, non reservantur eoiscopo" (S. Th. 111, q. 82, a. I, ad 4). Cf. também; In IV Sen», d. 7, q. 3, a. 1 co. 2, ad 3; d. 24, q. 3, a. 2, col. 2-3; S. Th. ll-llae q. 184, a. 6, ad 1 ; III q. 65, a. 3, ad 2 ; q. 67, a. 2; q. 82, a. 1, ad 4 e a. 3 , ad 3. Não deve esquecer-se, porém, que o mesmo S. Tomás parece inclinar-se, nas suas últimas obras , por uma distinção entre bispos e nresbíteros baseada não apenas na diversa "jurisdição" . Cf. De perf. vitae spir., c. 24, n. 715. (5) Cf. BONIFAT . IX, Bulla Sacra* raliglonis, DS 1145; MARTIN. V . Bulla Gerantas ad vos , DS 1290; INNOCENT . VIII , Bulla Exposcit tua * d*votionis , DS 1435. O recurso fácil à negação da autenticidade destes d» , cumentos , que costumava empregar-se nos nossos manuais de Teologia, não é mais possível depoi s que foram descobertos o i originais conservados no Arquivo Vaticano. inválidas — e não apenas como ilícitas — as confirmações e ordenações realizadas por sacerdotes não autorizados. Para fugir a essas dificuldades foram elaboradas diversas teorias. Pensou-se, em primeiro lugar, numa irritação eclesiástica do poder sacramentai. Mas , por que essa irritação era possível nos casos da crisma e da ordem e não no da eucaristia? De fato, a Igreja considerou sempre como válida — embora ilícita — a celebração eucarística dos presbíteros que se encontram fora da comunhão eclesial, enquanto que ordenações e crismas, realizadas por padres incensurados mas não autorizados, eram dadas como inválidas. Falou-se, então, de um poder delegado de ordem. Os presbíteros não possuiriam, em virtude da própria ordenação, a faculdade de administrar os dois sacramentos citados, mas a Igreja, através dos bispos ou do papa, poderia delegar-lhes esse poder. A teoria ia , porém, diretamente contra a base da distinção entre ordem e jurisdi- ção. O poder de ordem era , como dizíamos, sacramentai, conferido diretamente por Deus, dirigido à santificação dos indivíduos e, por isso, subtraído radicalmente ao domínio da sociedade eclesial. Mas poder delegado de ordem significa algo social, regulável à vontade da autoridade humana, não conferido diretamente por Deus. Aliás , se, mediante uma simples delegação, os presbíteros podiam obter todas as faculdades dos bispos, para que servia a sagração episcopal? A única saída possível parecia a negação da distinção de graus dentro do sacramento da ordem. O presbiterato seria a ordenação propriamente dita. Bispos e padres seriam completamente iguais no plano da ordem, diferindo apenas no plano da jurisdição. A eucaristia não poderia ser nunca invalidada porque a consagração não atua diretamente sobre os súditos da Igreja. As ordenações e a crism a , pelo contrário, exigem necessariamente um sujeito que, por definição, deve ser súdito da Igreja. Ora , ela poderia assiná-lo ou não a tal sacerdote concreto, conferindo ou negando a validade desses sacramentos. O resultado, porém, desta teoria foi uma enorme casuística sobre designação de súditos, subordinação de uns ministros a outros, liceidade, iliceidade ou iterabilidade dos sacramentos. No tempo do Concilio de Trento, a questão da distinção entre bispos e presbíteros se apresentava tão complicada que os padres conciliares não se atreveram a resolvê-la, contentando-se apenas com afirmar a superioridade dos bispos sobre os presbíteros, mas sem fornecer a razão intrínseca dela (6). A distinção entre ordem e jurisdição sofreu os primeiros embates quando, nos fins do século XVIII , alguns teólogos e canonistas católicos começaram a aceitar a doutrina protestante dos tempos do lluminismo sobre a divisão tripartita do poder eclesial: santificação, magistério e regime (7). Sem dúvida , essa teoria apresentava grandes vantagens do ponto de vista pedagógico e até parecia ter um fundamento bíblico (6) CONC . TRID. Sess. XXIll , cap. 4 (DS T768) e can. 7 (DS 1777). (7) Sobre a origem da divisão tripartita, cf. J . FUCHS , Magisterium, Ministarium, Regimen. V o m Ursprufig einer «MilMiologítchaii Trilogia, Bonn, 1941 ; ID., Waiheuikrameiitale Grundiagung liirchlieher Rachtsgewait, in Scholasfilc 16 (1941) 496-520. 1 8 5 claro: Mt 28 , 19-20 (8). Mas , do ponto de vista da Teologia dogmá- tica e da Sistemática jurídica, oferecia igualmente não pequenos iriíçonvenientes. Qual era, afinal, a -natureza e o modo de transmissão do poder de magistério? Para muitos parecia ser uma espécie de potestade intermédia, carismática mais do que sacramentai, e dirigida tanto à santificação quanto ao governo dos fiéis. Para fugir a essa indefinição do poder de magisté- rio, a maior parte dos canonistas da segunda metade do século XI X e da primeira do X X acabaram rejeitando a tríplice divisão e voltaram à bipartição entre ordem e jurisdição (9). O" magistério seria apenas um exercício da jurisdição eclesiástica. Justificavam-se assim as licenças que ainda hoje são necessárias para a pregação. Voltavase, porém,'às dificuldades dos sé- culos anteriores, , No momento em cjue começa o Concilio Ecumênico Vaticano II , a distinção -radical entre poder de ordem e poder de jurisdição parece ser um obstáculo para o prgresso' da Teotogia do Episcopado. Com efeito, essa distinção tinha entrado nos documentos rebentes dO' Magistério eclesiástico ordiná rio. Em Pio XI I é'clara a afirmação da transmissão da ' jurisdição por intermédio dó Papa e não direta mente pelo sacramento (10). Os Padres conciliares pretendem solucionar o dilema" mediante a compreer?são'de tôda a realidade ecle- (8) Esse fundamento bíblico não parece ser tão evidente como alguns autores afirmam: Cf. M. VIDAL , íTiiene fundamento biMico Ia ' div&ión trÍDartila de Ia Teologia Pastoral? , em Pentecostés 8 (1070) 3-17. (9) Cf. , p. ex. WERNZ-VIDAL , lus Canonieum, I I , p. 62 ss.; A. OTTAVIANI , Intlítuttones luri s Publici Ecciesiaslici, ed. 4.^, Romae, , 1958, 1. p. 186 ss.; J . FERRANTE , Suinnia luris Constifutionalis Eeclesiae, Romae 1964, pp. 196 ss. 186 sial sob o prisma da sacramentalidade da sua ação. Falar-se-á de "mistério", de "sacramento", de "natureza encarnatória da Igreja", de "caráter teândrico", etc. No fundo, está presente a realidade de uma dupla estrutura eclesial: visível e invisível, jurídica e carismática, humana e divina. Não é que essa dupla estrutura fosse desconhecida anteriormente, mas a união íntima, inseparável, entre os dois elementos não era suficientemente acentuada (11). À luz desta nova compreensão da Igreja, a distinção radical entre ordem e jurisdição não é mais .possível. No "poder de ordem" deve estar presente também um elemento organizativo, social; e »o "poder de jurisdição" não pocíe faltar o elemento sacramentai. Numa linguagem às vezes obscura, que procura evitar as palavras "ordem" e "jurisdição" e até mesmo o termo (10) "(Episcopi) non plane sui iuris sunt, sed sub debita Romani Pontificis auctoritate • positi, quamvts ordinária iurisdictionís potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontífice Summo impertita" ; Ene. Mvstici Corporis , em AA S 35 (1943) 212; "iuris - dictionís autem potestas, quae Supremo Pontifici iure ipso divino confertur, Episcopis ex eodem provenit iure, at nonnísí. per Petri Sucessorem" : Ene. A d Sínarum Gentes efn AA S 47 (1955) 9; "hoc posito, efficitur ut Episcopi nec nominati nec confirmati a Sede Apostólicanuli a fruantur potestate magisterlí et iurisdictionís, cum iurísdictio Episcopi s per unüm Romanum Pontificem obtingat" : Ene. A d Apoitolorum Pincipis , em AA S 50 (1958) 610. O s grifos são meus . (11) Cf. W. BERTRAMS, De constilulione Écclasiae simui charismalica e l inslilulionali, em Periódica 57 (1968) 302 ss. Quase em todos os escritos deste autor iiá úm aceno a essa dupla estrutura. Por isso, não parece haver dúvida quanto à sua contribuição para a redação final do capítulo III e da "Not a explicativa prévia da Const. dogm. lume n Oentium. ' Cf , entre outros, bs' seguintes estudos do citada P. BERTRAMS: De relalione inter Episcopatum et Primatum, Principia philosophica et theologica quibus relatio iuridica fundatur inter officium episcopaje e» primatiale, Romae, 1963;^ De quaestione circa originem potestis iurisdic- . .«ionis Eaiscoperum in Contilio Tridantino non resoluta, em Periódica 52 ,(1963) 45? - 476;'Paps t und Bischâfskollegium ais Trãger der kirchiichen Hirtengewait, Paderborn, 1965. "poder", o Capítulo III da "Lumen Gentium" e a sua "Nota explicativa prévia " nos falam da participa- ção ontológica nos múnus sagrados através da sagração episcopal. Pensava-se assim poder explicar facilmente as relações entre os membros do Colégio episcopal e o Romano pontífice. Na realidade, porém, atingia-se também a questão da diferença entre bispos e presbíteros. Não há dúvida que o Concilio realizou um grande avanço, mas ainda deixou alguns pontos obscuros e não poucas ambigüidades, principalmente em relação à essa última questão. Procuremos, portanto, tirar as conseqüências da doutrina conciliar. A base para a compreensão do sacerdócio cristão, neste como em qualquer outro aspecto, é a vida e a obra de Cristo. Dêle deriva todo poder, porque a Êle foi entregue pelo Pai (12). É, portanto, no Cristo onde poderemos encontrar o modelo para a interpretação do poder eclesiástico. E o que encontramos aí? Cristo é envjado pelo Pai (13). Mas, simultâne^ente , é ungido pelo Espírito Santo (14). Do mesmo modo, Êle envia ôs Apóstolos (15) e lhes concede'ou promete para o futuro a unção do Espírito Santo (16). Nestes textos, aparece claro que missão e consagração, embora separaveis, è até mesmo conferidas em ocasiões diversas, estão sempre em íntima relação. Cristo, que iá desde o início recebeu a sua missão, não começa a sua "pregação do Reino", quer dizer a rea- (12) Cf. M l 28 18. (13) Jo 20, 21 . Aliás , em todo o Evangelho de S. João é um tema constante a missão do Filho, que é enviado ao mundo pelo Pai. (14) Cf. Lc. 4, 18s. e os relatos do batismo de Jesus . (15) Jo 20, 21 ; Mt 23 , 19-20; Mc 16, 15-18. (16) Lc 24, 49 ; Jo 14, 16-17; 20,22; At 7, 5.8. iização estrita da sua missão, senSo depois da unção visível pelo Espirito, no momento do batismo. Por sua vez , os Apóstolos recebem a ordem de não se empenharem diretamente na missão até não terem recebido a consagração interior do Paráciito (17). É claro que a missão, a ordem externa pela qual alguém é enviado, representa um elemento organizativo. Na compreensão humana, é a autoridade quem dá o mandato, quem envia. E, no caso dos Apóstolos, essa autoridade é o pró- prio Cristo, que manifesta claramente a sua vontade. Por sua vez , a santificação ou consagração é um elemento fundamentalmente interno e invisível. Mas aqui, ao igual que em tôda a ordem derivada do Encarnação, os elementos divinos e humanos, internos e externos , não aparecem separados, desunidos. A missão é externa, mas a autoridade que a confere é divina. A un- ção do Espírito é interna, mas é realizada mediante um rito externo (18), e se destina a completar a missão recebida. Porém, a tarefa a realizar não está dividida; é única como único é o Espírito que a deve dirigir. Há, em principio, uma única missão, e há um único grande missionário: o Colégio apostólico, depositário do mandato de Cristo e transmissor do único Espirito (19). Daí se derivam os dois grandes princípios que o Vaticano II enunciou no capítulo III da tumen Gentium: a colegialidade e a'sacra - mentalidade do Episcopado. Não (17) Lc 24 , 49; A t 1, 4. (18) Cf. Jo 20, 22 ; At 6,6; 9, 17; 13, 2-3. (19) ".. . quos Apóstolos (cf. Lc 6,13) ad modum çòllegii sçu coefus stabilis instifuit.. . Eos ad filios Israel primum et ad omnes gentes misit (cf. Rom 1, 161" : Const. dogm. de Ecciesia lume n Gentium, n. 19. r 8 7 há, não pode haver na Igreja um ministério individual, indeperidente da comunhão eclesial. Quem se coloca voluntariamente contra a ordem estabelecida por Cristo, como participará da sua missão e do seu Espírito? É na comunhão do Colégio que todos os ministérios encontram a sua unidade. E é na imposição das mãos pelos membros do Colégio, seguindo o exemplo dos Apóstolos, que o Espírito nos é dado para a edificação do Corpo de Cristo. Essa comunhão, de origem sacramentai, mas de conseqüências sociológicas e organizativas, é o ponto de encontro do visível e do invisível, do divino e do humano, no ministério eclesial (20). De acordo com os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, o Colégio apostólico começa a realizar a sua missão unido como um todo, como um conjunto. A dé-> da unidade da tarefa a realizar parece ocupar naqueles momentos o primeiro plano. Mas a mesma dinâmica da vida da Igreja deveria, mais tarde, levar necessariamente ao reconhecimento da multiplicidade implícita nessa unidade. Surge assim, em primeiro lugar, o problema da limitação das forças dos Doze, que os leva a impor as mãos aos sete varões que deverão encarregar-se da assistência aos indigentes (21). Apresenta-se depois a necessidade de espalhar a boa nova além dos limites restritos de Jerusalém e, conseqüentemente, a desagregação dos Doze, que passam a viver dispersos, sem, contudo, romperem a sua unidade na comunhão. Há, enfim — com o (20) O caráter social dos sacramenots (portanto, também do sacramento da ordem) é frisado no n.o 7 da lumen Gentium. (21) At 6, 1-7. 188 decorrer dos anos — o avizinhar-se da morte e o crescimento da consciência de que o ministério não poderá desaparecer com a passagem do Apóstolo. Seus colaboradores deverão continuar a sua tarefa (22). Nesse contexto histórico, a Igreja primitiva viveu uma realidade antes de refletir sobre ela. Essa realidade pode-se resumir em três frases: unidade da missão encomendada por Cristo; sacramentalidade da inserção no Colégio apostólico, através da imposição das mãos; multiplicidade de ministé- rios, explicitada de acordo com as circunstâncias e necessidades das comunidades locais. A unidade nos fala da comunhão eclesial; a sacramentalidade nos mostra a união entre o visível e o invisível na sucessão apostólica; a multiplicidade, enfim , nos indica um certo poder da Igreja sobre os sacramentos. Nas primeiras comunidades cristãs, não só a diversidade de nomes (apóstolos, colaboradores, enviados , evangelistas, profetas, bispos, presbíteros, guias, diretores, pastores, presidentes. . .) , mas também a falta de diferenciação clara das diversas funções, nos está indicando a multiplicidade potencial do ministério eclesial (23). Num tempo relativamente breve, essa multiplicidade acaba enquadrando-se no (22) Cf. , por exemplo, 2, Tim 4, 5-8 e as passagens finais das Epístolas do cativeiro. A Const. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium ensina o mesmo no seu número 20: (Apostou) "non solum.. . vários adíutores in mi - nistério habuerunt, sed ut missio ipsis concredita post eorum mortem continuaretur, cooperatoribus suis immediatis , quasi per modum testamenti, demandaverunt munus perficiendi et confirmandi opus ab ipsis inceptum" . (23) Entre os múltiplos estudos sabre este ponto, podemos destacar: MANUE L GUERI^A GO - MEZ, I a Colegialidad en Ia conttitueiin jerárquica y en el gobiarno da la> primerat comunidades cristianas, na obra coletiva El Colégio Episcopal, Madrid, 1964. tríplice esquema, hoje tão conhecido para nós: episcopado, presbiterato e diaconato. Tão acostumados estamos a esse esquema, que nem sequer nos apresentamos a questão da sua reformabilidade. Contemplando, po- • rém, a evolução histórica a que temos feito referência, manifestase-nos um primeiro problema. Nas comunidades cristãs primitivas, o único ministério apostólico se desdobrou, sob o impulso das circunstâncias e necessidades pastorais, até chegar a cristalizar nos três graus da chamada "hierarquia de ordem". Conserva a Igreja, ainda hoje, a capacidade de desenvolver em formas novas as virtualidades do sacramento da ordem? Quer dizer, poderia ela, no nosso tempo, estabelecer novos modos de participação no sacerdócio ministerial que foi confiado ao Colégio apostólico? Dificilmente se poderá negar essa possibilidade se se considera que o exclusivismo da nossa organização atujl não parece ser um dado dos primeiros tempos do Cristianismo, mas apenas um fruto da era pós-apostólica. A s declara- ções do Concilio de Trento, que afirmam uma hierarquia de ordem, estabelecida por instituição divina (24), não constituem nenhuma dificuldade, pois, de modo algum, afirmam que os diversos graus procedam imediatamente de Cristo, nem que todas as virtualidades do sacramento da ordem fiquem esgotadas na trilogia "bispos , presbíteros e ministros". Não é nenhuma novidade a teoria da instituição apenas genérica do sacramento da ordem por Cristo. A literatura canônica e teológica a (24) CONC . TRID. jess . XXIll : Decr. de sacram. ordinis , especialmente o cap. 4 e o cânon 6: DS 17Ó8, 1776. este respeito é grande (25). Dividem-se, porém, os autores quando se trata de determinar se após a fixação dos três graus conhecidos é ainda possível uma ordenação diferente do ministério eclesial. E a verdade é que não há nenhum argumento convincente. Se, como parece, a distinção clara entre bispos, presbíteros e diáconos é apenas pós-apostólica, não se pode dizer que pertença ao núcleo da revelação, que ficou encerrada com a morte do último Apóstolo. O Colégio apostólico, primeiramente, e o Colégio episcopal depois, foram chamando homens que, em diversos graus e de diversos modos deveriam colaborar na missão única, ou continuá-la. Essa participação não parece ser, na consciência dos primeiros séculos cristãos, uma entrega parcelada de podêres que só através de etapas sucessivas possam ser alcançados. O ministério nos aparece dividido não em degraus que devam ser escalados progressivamente, mas em modos de participação, em tarefas especializadas, em missões a cumprir dentro da grande missão. Os exemplos de ordenações "pe r saltus" não são raros, nem levantaram maiores problemas teológicos (26). Em tôda ordenação de diácono, presbítero ou bispo há, fundamentalmente, uma inserção nessa grande missão do Colégio; há — valha a expressão — uma "incardinação" não nesta ou naquela diocese, mas no Colégio episcopal, depositário e transmissor (25) Pode consultar-se uma lista bastante completa no trabalho de ANTÔNI O MOSTAZ A RODRIGUEZ , Poderes episcopales y pretbi - terales, em La Función pastoral de los ©bis - pos , XI Semana espanola de Derecho canónico, Salamanca 1967. (26j É típico, a este respeito, o caso dos papas. Cf. MICHE L ANDRIEU , La urrièr e eeclesiastiqua des papes du moyen tge , em Rev. des Sciences rei. 27 (1947) 90-120. 189 do mandato de Cristo. Por isso, a Lumen Gentium pôde afirmar que "todos os sacerdotes. . . estão unidos com o Corpo dos Bispos e, segundo sua vocação e graça, devem servir ao bem de tôda a Igreja" (27). Em tôda ordenação há, portanto, já uma missão. Ordenação e missão aparecem tão intimamente unidas nos primeiros séculos que nem se cogita na sua pogsível separação. Daí que os clérigos sejam sempre ordenados relativamente, quer dizer destinados já a um ministério particular: a uma diocese, a um "título" ou a uma diaconia concretos e determinados (28). A participação de, pelo menos, três bispos na sagra- ção episcopal, que nos é apresentada em Nicéia como lei universal e tradicional (29), dá , por sua vez , o sentido da universalidade, da participação na missão única do Colégio através do rito sacro do sacramento da ordem. Quando, a partir da Alta Idade Média, começam a generalizar-se na Igreja as ordenações absolutas, sem referência explícita a um ofí- cio determinado, o pensamento teológico procura uma justificação (27) Consf. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. (28) Essa disciplina foi rigorosamente observada durante os, quatro primeiros séculos. Aos poucos , caiu em desuso; mas para a Igreja Romana airida era lei, nos fins do século IX, e a sua inobservância deu lugar aos conhecidos episódios relacionados com a elevação de Formoso (891-896) ao Pontifi - , cado. Tão forte era a união entre o ordenado e ofício a que se destinava que c próprio Concilio Ecumênico de Nicéia consi - dera como absolutamente nula qualquer trasladação a outra diocese, título ou diaconia. Cf. CONC . NICAEN . 1, can. 15: ".. . si qui s vero,. . tale quid agere temptaverit.. . hoc factum prorsus in irritum deducatur et restituatur eeclesiae, cui fuit episcopus , presbyter aut diaconus órdinatus" : em Conci - líorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc, p. 12. (29) Cf. CONC . NICAEN . I, can. 4, em Concí - liorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc), Friburgi 1962, pp. 6-7. i9Ó teórica para o fato d a aparente separação radical e adequada das duas realidades que virão a receber o nome de ordem e jurisdição. Surgirá assim a teoria a que fazíamos referência no começo deste artigo. A ordenação conferiria somente o poder de ordem, sacramentai, de santificação; poder que deveria ser completado em todos os casos nos quais o seu exercício atinge diretamente os indivíduos (os "súditos", como costumava dizer-se). Por isso, a confissão "sem jurisdição" seria nula, mas a celebração da Eucaristia — que atua diretamente sobre a realidade divina do Corpo de Cristo e só indiretamente sobre os fiéis — seria sempre válida. A jjjrisdição, distinta e separável do poder de ordem, se transmitiria e seria, até certo ponto, independente da ordenação sacerdotal. Esta teoria parecia mais cômoda enquanto permitia explicar a diferença entre bispos e presbíteros, sem aumentar o nú- mero dos sacramentos e nem sequer recorrer à concepção da diversidade de graus no sacramento da ordem. A verdadeira, a única ordenação sacerdotal, seria ó presbiterato. Bispos e presbíteros diferenciar-se-iam apenas no poder de jurisdição (30). J á temos falado, anteriormente, das dificuldades que essa teoria apresenta. Vejamos ainda uma outra. Na realidade, a distinção radical entre ordem e jurisdição e a negação da multiplicidade contida no sacramento da ordem, em lugar de explicar, obscureciâ a distinção entre bispos e presbíteros. Perante um bispo titular sem (30) Entre os autores mais recentes partidários dessa teoria, pode destacar-se J . BEVÉR, Nature et position du iacerdoce, em Nouv. Rev. Théol. 86 (1954) 356-373; 469-480. nenhuma função especial numa diocese, deveríamos dizer que se encontra "degradado" à condição de presbítero? E, por sua vez , um presbítero que, como no caso dos prelados "nuliius", dos administradores apostólicos, dos vigários capitulares ou dos prefeitos apostólicos, governasse de fato uma diocese ou um território afim, poderia dizer-se que tinha sido "elevado" à categoria de bispo? Pôr causa das dificuldades apontadas, o Concilio Vaticano II abandonou a velha terminologia e fala não de "ordem" e "jurisdição", mas do tríplice "múnus " de ensinar, santificár e governar, cuja participação ontológica é conferida aos bispos na sagração episcopal. Os três múnus têm, portanto, uma base sacramentai, uma estrutura interna anterior à sua manifestação externa, à sua atuação no contexto social da Igreja. Mas se isso é verdade para os bispos, deve sê-lo igualmente para os presbíteros, que também recebem o sacramento da ordem, embora em forma diferente. Os presbíteros não são chamados "participantes do sacerdócio dos bispos", mas do único sacerdócio de Cristo (31). Daí que, também para êles , ps podêres de ensinar, santificár e governar tenham o seu apoio, a sua base ontológica, na ordenação recebida. A mudança de terminologia no Concilio é evidente. Trata-se, poréni, também de uma mudança de doutrina? Ou melhor, de uma volta a uma doutrina esquecida: a da sacramentalidade radical do poder eclesial? Assim parece ser. Contudo, nem todas as dificuldades fo- (31) ".. . (Presbyteri). consecranfur, ut veri sa- . cerdotes Novi Testamenti Muneri s unici Me-, diatoris Christi (1 Tim 2,5) participes in suo ' . gradu ministérii" : Const. dogm, de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. ram resolvidas. Os "múnus", afirma o Concilio, são conferidos na ordenação sagrada; mas devem ser exercidos na "comunhão hierárquica" (32). Não está aqui ainda escondida a distinção entre ordem e jurisdição? Pelo menos uma reminiscência dela é clara. De fato, a relação da comissão sobre o modo 39 afirma que a restrição da necessidade da comunhão para o exercício dos múnus episcopais se refere unicamente aos de ensinar e reger, não ao de santificár. Èm outras palavras , o múnus de santificár (antigo "poder de ordem") já estaria expedito para a ação pélp fato da simples sagração episcopal, enquanto os múnus de ensinar e governar (antigo "poder de jurisdição") deveriam ser completados pela "comunhão hierárquica" (33). Se fôssemos tirar as conseqüências lógicas dessa explicação dada na aula conciliar, teríamos que concluir que o poder de santificár é sempre vàlidamente exercido; ó que não acontece com os de ensinar e governar. E não era èssá a doutrina "pré-conciliar" das duas potestades? Colocada, porém, a premissa da unidade do ministério em Cristd, tem sentido um poder sacramentai exercido totalmente fora da comunhão eclesial? A necessidade dessa comunhão não me parece que: se possa justificar apenas pela exigência da determinação dos súdir tos sobre os quais o ministério deva ser exercido. Pelo contrário, a comunhão hierárquica é uma con- (32) C{. Const. dogm. de Ecciesia-^luiniM -.âmr tium, n. 21 . (33) (Textus approbatus) "affirmàt cohsècfationô conferri, cum munere sanctificandl,^- ^çtlam munera regendi ac.docendi ; curn hac qui - dem restrictione, quod haec ultim a extra communionem exercteri non possunt" : Responsió ad modurti 39, âp. J . Aí. RAMIREZ, De Epiacopatu u t sacramentp deqúe epii ? coporum collegio, Salmanticae 1966, p. 55 , Í91 seqüência da estrutura social de todos os sacramentos, incluído o da Eucaristia. Êles são ações "da Igreja", realizadas "na Igreja". O caráter indelével do sacramento da ordem é, sem dúvida , um dado certo da tradição cristã, mas é igualmente certo que a ordenação é uma realidade destinada a ser exercida numa comunidade local, dentro da comunidade universal que é a Igreja. Colocar-se fora ou contra esta privaria de sentido a atuação do poder de santificár. A Eucaristia, sinal e causa eficaz da unidade dos irmãos em Cristo, teria algum sentido se fosse celebrada por alguém que rompeu por inteiro essa unidade? É evidente que um raciocínio que logicamente leva à admissão da irritabilidade do poder de santificár causa pelo menos perplexidade. Mas não me parece que as dificuldades que daí se derivam sejam insalváveis. As reflexões expostas até aqui constituem a base para a formula- ção de algumas hipóteses sobre o ministério presbiteral e a sua rela- ção com o episcopado. Não me atrevo a dizer que elas tenham sido perfeitamente provadas , mas me parece que constituem a explicação mais coerente dos ensinamentos do Concilio e dos fatos que a História da Igreja nos transmitiu. Eis, pois, as minhas conclusões: 1) A diferença entre bispo e presbítero não pode descansar unicamente numa jurisdição extrasacramental, que era desconhecida na primitiva Igreja e que pugnaria com a própria economia da salva- ção, onde os elementos interno e externo vão sempre unidos. Essa diferença tem a sua base no pró- prio sacramento da ordem. O presbítero, pela ordenação, passa a participar da missão única do Co- 192 légio apostólico; não como titular desse Colégio, mas como o seu auxiliar e subordinado. O bispo, pelo contrário, é membro pleno, continuador do ministério apostó- lico, presencializador na comunidade local de tôda a obra de Cristo e co-responsável na comunidade universal da tarefa primitivamente encomendada aos Doze. 2) Os podêres do presbítero são variáveis e, de fato, variaram ao longo da História, porque o Colégio episcopal pode escolher os seus auxiliares com finalidades diversas , de acordo com as circunstâncias e necessidades da Igreja. A tradição eclesiástica reservou o nome de presbítero para aqueles que foram chamados a colaborar diretamente no q/^erecimento do único sacrifício def Cristo. Daí o nome de sacerdotes pelo qual também são conhecidos. Quanto à administração de outros sacramentos (sobretudo crisma e ordem) o Colégio pode chamar para colaboração maior ou menor. E, precisamente porque o Colégio dos bispos quer conceder estes e não outros podêres, concede-os, de fato, porque êle é o titular da missão e o encarregado de arbitrar os meios necessários para o cumprimento dela. Não se esque- ça: a missão do Colégio é originá- ria, enquanto a dos presbíteros é derivada. 3) O que se afirma dos presbíteros pode ser aplicado — corri as devidas correções — aos diáconos. Também êles foram chamados a colaborar com o Colégio episcopal , mas apenas no plano do ministério e não no do sacerdócio. Aliás , a Igreja — sempre através do Colégio — poderia estabelecer novas e.cambiantes formas de participação na sua tarefa, a serem construídas sobre a base do sacramento da ordem. A função deste sacramento é, portanto, agregar alguém, como membro ou como colaborador, ao Corpo episcopal. 4) O exercício dos podêres conferidos na ordenação, de acordo com a própria natureza da Igreja e da missão, encomendada não a indivíduos isolados mas a um corpo, exige a comunhão eclesial. Mas essa comunhão não pode ser concebida como mero elemento jurídico externo e sim como expressão de uma vida íntima de união na fé , na esperança e na caridade. Ora , assim como a união intencional admite diversos graus , é também possível uma comunhão eclesial limitada e gradual, que dê sentido à ação do ministro, mesmo quando externamente êle se encontre fora ou à margem da comunidade. Aí estaria a explicação da validade do ministério dos orientais separados (inclusive no caso da crisma). 5) Poderia ser irritado ou tornado nulo, o poder já concedido pela ordenação ê pela comunhão com o Colégio? Não se vê como negar essa possibilidade, considerando que o próprio Colégio episcopal é capaz de retirar radicalmente a comunhão com indivíduos ou grupos determinados. Mas , nessa perspectiva, não se pode manter a distinção tradicional entre ordem e jurisdição, porque tôda ação ministerial, mesmo a celebração eucarística, deve realizarse nesse quadro da comunhão eclesial. A natureza sacramentai da Igreja, como conjunto, leva, ao meu modo de ver, a esta conclusão. É verdade, porém, que tradicionalmente se vem afirmando que a Eucaristia é válida em todo caso, sempre que o ministro fôr ordenado e tiver a intenção de celebrar. Mas , isso é conseqüência de uma necessidade intrínseca, nascida da própria ordenação, ou do fato de o Colégio episcopal não ter querido negar nunca a comunhão mínim a , imprescindível para que essa Eucaristia seja uma realidade eclesial? 6) Finalmente, a terminologia atual pode induzir a erro. Principalmente porque reserva o nome de sacerdote para os presbíteros. Os sacerdotes do Novo Testamento são, fundamentalmente, os membros plenos do Colégio episcopal, porque a êles foi encomendada diretamente a tarefa de perpetuar a ação sacerdotal de Cristo. Os presbíteros são, como o Vaticano II os chama, sacerdotes "em grau subordinado" (34), cuja ação fora ou contra a comunhão do Colégio episcopal perderia todo o seu significado eclesial. (34) CONC . OECUM , VAT . II , Decr. de Presbyterorum ministério et vita, Presbyterorum ordinis , n. 2 . 193 Bispo s e Presbíteros: Aspectos sacramentais e organizativos do ministério eclesial Jesu s Hortal , S . J . Thi s articl e mtend s t o dra w th e consequence s ou t o f t h e teaching s o f Vaticãn I I Counci l abou t th e sacramen - talit y o f th e episcopacy . Fro m th e fac t tha t th e tradltíon a l theor y abou t th e distinctio n betwee n orde r powe r a n d jurisdictio n powe r canno t an y longe r b e interprete d a s a basi c an d adequat e divisio n òf th e cburc h ministry , i t look s fo r a sur e bas e fo r th e realit y -wel l knox ^ a s traditiona l o f th e thre e form s I n whic h th e hol y order s a r e conferred : episcopacy , priesthoo d an ^ de^co^ship . A rapi d historica l visio n examine s th e diffèrent theorie s buit t b y canonist s an d theblog^ians , i n orde r t o expláin t h e realit y live d b y th e Church . Base d o n th e counci l texts , i t trie s t o understan d the , sacre d minístry a s a continuatio n o f th e uniqu e missio n transmitte d to th e apostle s b y Christ , thrdug h a n insertio n i h th e episcopa l coUege . , Communio n — no t "jurisdiction " seem s t q b e th e basi c concep t fo r th e Characte r receive d it i ordination . Finally , ther e ar e expresse d a serie s óf hypothese s base d o n |h e previou s analysi s abou t th e distinctio n betwee n bishop s an d priests , abou t th e variou s saçred powers , abou t a possibl e dlvisio n o f th e Sacraínent o f Hòly Órder, abou t th e diffèrent grade s o f tlíe sacreá ministry , abou t t h e possibl e "irritation " o f th e poWér t o sanctify , an d abou t th e convenienc e o f modifyin g th e presen t termino - logy . Na realidade eclesial concreta em que vivemos , nos encontramos com três tipos plenamente diferenciados de ministérios, dentro do que costumamos chamar de "sacramento da ordem": bispos, presbí- teros e diáconos. Ainda que as três, denominações apareçam já na Escritura, a sua distinção clara é testemunhada a partir do século II. Isso vale principalmente para as Igrejas da Ásia Menor, onde a hierarquia tripartita é considerada por Santo Inácio de Antioquia como j organização natural e comum das cornunidades cristãs. Mas se a distinção é conhecida,já naqueles tempos primitivos, a reflexão teológica que.lh e pretendeu dar um fundamento foi elaborada tardiamente e com vacilações. Construiuse., primeiramente, a teoria da distinção de potestades ou do dú- plice poder; de ordem e de jurisdi- ção. O poder de ordem seria plenamente divino, transmissível 183 diretamente pelo sacramento, dirigido à santificação interna dos fiéis , e, uma vez conferido, subtraí- do, quanto à validade, ao domínio da Igreja. O poder de jurisdição, pelo contrário, teria muito de humano, transmitir-se-ia por delega- ção pontifícia e até (pelo menos parcialmente) sem necessidade da base sacramentai, estaria dirigido ao governo externo da sociedade eclesial, e poderia ser invalidado, em todo ou em parte pela autoridade competente. Elaborada pelos canonistas dos séculos XI-XII , esta distinção penetrou profundamente na Escolástica, devido, em grande parte, à autoridade de S. Tomás , que a adotou, com a célebre terminologia de "potestas in Corpus Christi verum " (poder de ordem) e "potestas in Corpus Christi mysticum" (poder de jurisdição) (1). Mas este modo de ver as coisas tem um inconveniente fundamental: a separação quase total dos dois elementos que correm sempre unidos na Igreja: o divino e o humano (2). Ora , a fórmula do Calcedonense — "inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter" (3) percorre toda a realidade derivada da Encarnação. Pretender separar os elementos divinos e humanos é tanto como destruir a ordem inaugurada pelo Homem-Deus. Na prática, aliás, a distinção entre ordem e jurisdição não era tão fácil como podia parecer à primeira vista. Afirmava-se — e o mesmo S. Tomás é testemunha disso — que os bispos e os (1) . Cf. S. Th. Il-llae, q. 184, a. 6, ad 1 ; III , q. 67, a. 2, ad 2 ; 111, q. 82, a. 1, ad 4. (2) Cf. CONCIUU M OECUMENICU M VATICA - N UM II, Const. dogm. de Ecciesla, Lumen Génlium , n. 8. (3) DS 302. 184 presbíteros diferiam apenas no poder de jurisdição e não no de ordem (4). As dificuldades, porém, que se derivavam dessa distinção não podiam ser ignoradas. Sobretudo nos casos da administração dos sacramentos da crisma e da ordem eram particularmente perturbadoras. A confirmação, com maiores ou menores restrições, foi administrada por presbíteros durante toda a História da Igreja. As ordenações, pelo menos em alguns casos (5), foram também conferidas por simples sacerdotes. Onde estava, pois, a distinção entre bispos e padres? No poder de ordem? Por que, então, os dois únicos sacramentos citados sempre como prova podjam ser administrados, vàlidamente, pelo menos em certos casos, por presbíteros? Se faltava a base sacramentai, não se v ê como podia ser suprida por uma simples delegação humana. Se, pelo contrário, com S. Tomás, se pensava no poder de jurisdição, como base da distinção entre presbíteros e bispos, devia explicar-se porque a Igreja considerava como (4) "A d quartum dicendum quod episcopus accipit potestaten ut agat in persona Cliristi supra corpus eius mvsticum: idest super Ecclesiam: quam quidem potestatem non accipit sacerdos in sua consecratione, licet possit eam habere ex episcopi commissione. Et ideo ea quae non pertinent ad disposi - tionem cornoris mvstici, non reservantur eoiscopo" (S. Th. 111, q. 82, a. I, ad 4). Cf. também; In IV Sen», d. 7, q. 3, a. 1 co. 2, ad 3; d. 24, q. 3, a. 2, col. 2-3; S. Th. ll-llae q. 184, a. 6, ad 1 ; III q. 65, a. 3, ad 2 ; q. 67, a. 2; q. 82, a. 1, ad 4 e a. 3 , ad 3. Não deve esquecer-se, porém, que o mesmo S. Tomás parece inclinar-se, nas suas últimas obras , por uma distinção entre bispos e nresbíteros baseada não apenas na diversa "jurisdição" . Cf. De perf. vitae spir., c. 24, n. 715. (5) Cf. BONIFAT . IX, Bulla Sacra* raliglonis, DS 1145; MARTIN. V . Bulla Gerantas ad vos , DS 1290; INNOCENT . VIII , Bulla Exposcit tua * d*votionis , DS 1435. O recurso fácil à negação da autenticidade destes d» , cumentos , que costumava empregar-se nos nossos manuais de Teologia, não é mais possível depoi s que foram descobertos o i originais conservados no Arquivo Vaticano. inválidas — e não apenas como ilícitas — as confirmações e ordenações realizadas por sacerdotes não autorizados. Para fugir a essas dificuldades foram elaboradas diversas teorias. Pensou-se, em primeiro lugar, numa irritação eclesiástica do poder sacramentai. Mas , por que essa irritação era possível nos casos da crisma e da ordem e não no da eucaristia? De fato, a Igreja considerou sempre como válida — embora ilícita — a celebração eucarística dos presbíteros que se encontram fora da comunhão eclesial, enquanto que ordenações e crismas, realizadas por padres incensurados mas não autorizados, eram dadas como inválidas. Falou-se, então, de um poder delegado de ordem. Os presbíteros não possuiriam, em virtude da própria ordenação, a faculdade de administrar os dois sacramentos citados, mas a Igreja, através dos bispos ou do papa, poderia delegar-lhes esse poder. A teoria ia , porém, diretamente contra a base da distinção entre ordem e jurisdi- ção. O poder de ordem era , como dizíamos, sacramentai, conferido diretamente por Deus, dirigido à santificação dos indivíduos e, por isso, subtraído radicalmente ao domínio da sociedade eclesial. Mas poder delegado de ordem significa algo social, regulável à vontade da autoridade humana, não conferido diretamente por Deus. Aliás , se, mediante uma simples delegação, os presbíteros podiam obter todas as faculdades dos bispos, para que servia a sagração episcopal? A única saída possível parecia a negação da distinção de graus dentro do sacramento da ordem. O presbiterato seria a ordenação propriamente dita. Bispos e padres seriam completamente iguais no plano da ordem, diferindo apenas no plano da jurisdição. A eucaristia não poderia ser nunca invalidada porque a consagração não atua diretamente sobre os súditos da Igreja. As ordenações e a crism a , pelo contrário, exigem necessariamente um sujeito que, por definição, deve ser súdito da Igreja. Ora , ela poderia assiná-lo ou não a tal sacerdote concreto, conferindo ou negando a validade desses sacramentos. O resultado, porém, desta teoria foi uma enorme casuística sobre designação de súditos, subordinação de uns ministros a outros, liceidade, iliceidade ou iterabilidade dos sacramentos. No tempo do Concilio de Trento, a questão da distinção entre bispos e presbíteros se apresentava tão complicada que os padres conciliares não se atreveram a resolvê-la, contentando-se apenas com afirmar a superioridade dos bispos sobre os presbíteros, mas sem fornecer a razão intrínseca dela (6). A distinção entre ordem e jurisdição sofreu os primeiros embates quando, nos fins do século XVIII , alguns teólogos e canonistas católicos começaram a aceitar a doutrina protestante dos tempos do lluminismo sobre a divisão tripartita do poder eclesial: santificação, magistério e regime (7). Sem dúvida , essa teoria apresentava grandes vantagens do ponto de vista pedagógico e até parecia ter um fundamento bíblico (6) CONC . TRID. Sess. XXIll , cap. 4 (DS T768) e can. 7 (DS 1777). (7) Sobre a origem da divisão tripartita, cf. J . FUCHS , Magisterium, Ministarium, Regimen. V o m Ursprufig einer «MilMiologítchaii Trilogia, Bonn, 1941 ; ID., Waiheuikrameiitale Grundiagung liirchlieher Rachtsgewait, in Scholasfilc 16 (1941) 496-520. 1 8 5 claro: Mt 28 , 19-20 (8). Mas , do ponto de vista da Teologia dogmá- tica e da Sistemática jurídica, oferecia igualmente não pequenos iriíçonvenientes. Qual era, afinal, a -natureza e o modo de transmissão do poder de magistério? Para muitos parecia ser uma espécie de potestade intermédia, carismática mais do que sacramentai, e dirigida tanto à santificação quanto ao governo dos fiéis. Para fugir a essa indefinição do poder de magisté- rio, a maior parte dos canonistas da segunda metade do século XI X e da primeira do X X acabaram rejeitando a tríplice divisão e voltaram à bipartição entre ordem e jurisdição (9). O" magistério seria apenas um exercício da jurisdição eclesiástica. Justificavam-se assim as licenças que ainda hoje são necessárias para a pregação. Voltavase, porém,'às dificuldades dos sé- culos anteriores, , No momento em cjue começa o Concilio Ecumênico Vaticano II , a distinção -radical entre poder de ordem e poder de jurisdição parece ser um obstáculo para o prgresso' da Teotogia do Episcopado. Com efeito, essa distinção tinha entrado nos documentos rebentes dO' Magistério eclesiástico ordiná rio. Em Pio XI I é'clara a afirmação da transmissão da ' jurisdição por intermédio dó Papa e não direta mente pelo sacramento (10). Os Padres conciliares pretendem solucionar o dilema" mediante a compreer?são'de tôda a realidade ecle- (8) Esse fundamento bíblico não parece ser tão evidente como alguns autores afirmam: Cf. M. VIDAL , íTiiene fundamento biMico Ia ' div&ión trÍDartila de Ia Teologia Pastoral? , em Pentecostés 8 (1070) 3-17. (9) Cf. , p. ex. WERNZ-VIDAL , lus Canonieum, I I , p. 62 ss.; A. OTTAVIANI , Intlítuttones luri s Publici Ecciesiaslici, ed. 4.^, Romae, , 1958, 1. p. 186 ss.; J . FERRANTE , Suinnia luris Constifutionalis Eeclesiae, Romae 1964, pp. 196 ss. 186 sial sob o prisma da sacramentalidade da sua ação. Falar-se-á de "mistério", de "sacramento", de "natureza encarnatória da Igreja", de "caráter teândrico", etc. No fundo, está presente a realidade de uma dupla estrutura eclesial: visível e invisível, jurídica e carismática, humana e divina. Não é que essa dupla estrutura fosse desconhecida anteriormente, mas a união íntima, inseparável, entre os dois elementos não era suficientemente acentuada (11). À luz desta nova compreensão da Igreja, a distinção radical entre ordem e jurisdição não é mais .possível. No "poder de ordem" deve estar presente também um elemento organizativo, social; e »o "poder de jurisdição" não pocíe faltar o elemento sacramentai. Numa linguagem às vezes obscura, que procura evitar as palavras "ordem" e "jurisdição" e até mesmo o termo (10) "(Episcopi) non plane sui iuris sunt, sed sub debita Romani Pontificis auctoritate • positi, quamvts ordinária iurisdictionís potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontífice Summo impertita" ; Ene. Mvstici Corporis , em AA S 35 (1943) 212; "iuris - dictionís autem potestas, quae Supremo Pontifici iure ipso divino confertur, Episcopis ex eodem provenit iure, at nonnísí. per Petri Sucessorem" : Ene. A d Sínarum Gentes efn AA S 47 (1955) 9; "hoc posito, efficitur ut Episcopi nec nominati nec confirmati a Sede Apostólicanuli a fruantur potestate magisterlí et iurisdictionís, cum iurísdictio Episcopi s per unüm Romanum Pontificem obtingat" : Ene. A d Apoitolorum Pincipis , em AA S 50 (1958) 610. O s grifos são meus . (11) Cf. W. BERTRAMS, De constilulione Écclasiae simui charismalica e l inslilulionali, em Periódica 57 (1968) 302 ss. Quase em todos os escritos deste autor iiá úm aceno a essa dupla estrutura. Por isso, não parece haver dúvida quanto à sua contribuição para a redação final do capítulo III e da "Not a explicativa prévia da Const. dogm. lume n Oentium. ' Cf , entre outros, bs' seguintes estudos do citada P. BERTRAMS: De relalione inter Episcopatum et Primatum, Principia philosophica et theologica quibus relatio iuridica fundatur inter officium episcopaje e» primatiale, Romae, 1963;^ De quaestione circa originem potestis iurisdic- . .«ionis Eaiscoperum in Contilio Tridantino non resoluta, em Periódica 52 ,(1963) 45? - 476;'Paps t und Bischâfskollegium ais Trãger der kirchiichen Hirtengewait, Paderborn, 1965. "poder", o Capítulo III da "Lumen Gentium" e a sua "Nota explicativa prévia " nos falam da participa- ção ontológica nos múnus sagrados através da sagração episcopal. Pensava-se assim poder explicar facilmente as relações entre os membros do Colégio episcopal e o Romano pontífice. Na realidade, porém, atingia-se também a questão da diferença entre bispos e presbíteros. Não há dúvida que o Concilio realizou um grande avanço, mas ainda deixou alguns pontos obscuros e não poucas ambigüidades, principalmente em relação à essa última questão. Procuremos, portanto, tirar as conseqüências da doutrina conciliar. A base para a compreensão do sacerdócio cristão, neste como em qualquer outro aspecto, é a vida e a obra de Cristo. Dêle deriva todo poder, porque a Êle foi entregue pelo Pai (12). É, portanto, no Cristo onde poderemos encontrar o modelo para a interpretação do poder eclesiástico. E o que encontramos aí? Cristo é envjado pelo Pai (13). Mas, simultâne^ente , é ungido pelo Espírito Santo (14). Do mesmo modo, Êle envia ôs Apóstolos (15) e lhes concede'ou promete para o futuro a unção do Espírito Santo (16). Nestes textos, aparece claro que missão e consagração, embora separaveis, è até mesmo conferidas em ocasiões diversas, estão sempre em íntima relação. Cristo, que iá desde o início recebeu a sua missão, não começa a sua "pregação do Reino", quer dizer a rea- (12) Cf. M l 28 18. (13) Jo 20, 21 . Aliás , em todo o Evangelho de S. João é um tema constante a missão do Filho, que é enviado ao mundo pelo Pai. (14) Cf. Lc. 4, 18s. e os relatos do batismo de Jesus . (15) Jo 20, 21 ; Mt 23 , 19-20; Mc 16, 15-18. (16) Lc 24, 49 ; Jo 14, 16-17; 20,22; At 7, 5.8. iização estrita da sua missão, senSo depois da unção visível pelo Espirito, no momento do batismo. Por sua vez , os Apóstolos recebem a ordem de não se empenharem diretamente na missão até não terem recebido a consagração interior do Paráciito (17). É claro que a missão, a ordem externa pela qual alguém é enviado, representa um elemento organizativo. Na compreensão humana, é a autoridade quem dá o mandato, quem envia. E, no caso dos Apóstolos, essa autoridade é o pró- prio Cristo, que manifesta claramente a sua vontade. Por sua vez , a santificação ou consagração é um elemento fundamentalmente interno e invisível. Mas aqui, ao igual que em tôda a ordem derivada do Encarnação, os elementos divinos e humanos, internos e externos , não aparecem separados, desunidos. A missão é externa, mas a autoridade que a confere é divina. A un- ção do Espírito é interna, mas é realizada mediante um rito externo (18), e se destina a completar a missão recebida. Porém, a tarefa a realizar não está dividida; é única como único é o Espírito que a deve dirigir. Há, em principio, uma única missão, e há um único grande missionário: o Colégio apostólico, depositário do mandato de Cristo e transmissor do único Espirito (19). Daí se derivam os dois grandes princípios que o Vaticano II enunciou no capítulo III da tumen Gentium: a colegialidade e a'sacra - mentalidade do Episcopado. Não (17) Lc 24 , 49; A t 1, 4. (18) Cf. Jo 20, 22 ; At 6,6; 9, 17; 13, 2-3. (19) ".. . quos Apóstolos (cf. Lc 6,13) ad modum çòllegii sçu coefus stabilis instifuit.. . Eos ad filios Israel primum et ad omnes gentes misit (cf. Rom 1, 161" : Const. dogm. de Ecciesia lume n Gentium, n. 19. r 8 7 há, não pode haver na Igreja um ministério individual, indeperidente da comunhão eclesial. Quem se coloca voluntariamente contra a ordem estabelecida por Cristo, como participará da sua missão e do seu Espírito? É na comunhão do Colégio que todos os ministérios encontram a sua unidade. E é na imposição das mãos pelos membros do Colégio, seguindo o exemplo dos Apóstolos, que o Espírito nos é dado para a edificação do Corpo de Cristo. Essa comunhão, de origem sacramentai, mas de conseqüências sociológicas e organizativas, é o ponto de encontro do visível e do invisível, do divino e do humano, no ministério eclesial (20). De acordo com os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, o Colégio apostólico começa a realizar a sua missão unido como um todo, como um conjunto. A dé-> da unidade da tarefa a realizar parece ocupar naqueles momentos o primeiro plano. Mas a mesma dinâmica da vida da Igreja deveria, mais tarde, levar necessariamente ao reconhecimento da multiplicidade implícita nessa unidade. Surge assim, em primeiro lugar, o problema da limitação das forças dos Doze, que os leva a impor as mãos aos sete varões que deverão encarregar-se da assistência aos indigentes (21). Apresenta-se depois a necessidade de espalhar a boa nova além dos limites restritos de Jerusalém e, conseqüentemente, a desagregação dos Doze, que passam a viver dispersos, sem, contudo, romperem a sua unidade na comunhão. Há, enfim — com o (20) O caráter social dos sacramenots (portanto, também do sacramento da ordem) é frisado no n.o 7 da lumen Gentium. (21) At 6, 1-7. 188 decorrer dos anos — o avizinhar-se da morte e o crescimento da consciência de que o ministério não poderá desaparecer com a passagem do Apóstolo. Seus colaboradores deverão continuar a sua tarefa (22). Nesse contexto histórico, a Igreja primitiva viveu uma realidade antes de refletir sobre ela. Essa realidade pode-se resumir em três frases: unidade da missão encomendada por Cristo; sacramentalidade da inserção no Colégio apostólico, através da imposição das mãos; multiplicidade de ministé- rios, explicitada de acordo com as circunstâncias e necessidades das comunidades locais. A unidade nos fala da comunhão eclesial; a sacramentalidade nos mostra a união entre o visível e o invisível na sucessão apostólica; a multiplicidade, enfim , nos indica um certo poder da Igreja sobre os sacramentos. Nas primeiras comunidades cristãs, não só a diversidade de nomes (apóstolos, colaboradores, enviados , evangelistas, profetas, bispos, presbíteros, guias, diretores, pastores, presidentes. . .) , mas também a falta de diferenciação clara das diversas funções, nos está indicando a multiplicidade potencial do ministério eclesial (23). Num tempo relativamente breve, essa multiplicidade acaba enquadrando-se no (22) Cf. , por exemplo, 2, Tim 4, 5-8 e as passagens finais das Epístolas do cativeiro. A Const. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium ensina o mesmo no seu número 20: (Apostou) "non solum.. . vários adíutores in mi - nistério habuerunt, sed ut missio ipsis concredita post eorum mortem continuaretur, cooperatoribus suis immediatis , quasi per modum testamenti, demandaverunt munus perficiendi et confirmandi opus ab ipsis inceptum" . (23) Entre os múltiplos estudos sabre este ponto, podemos destacar: MANUE L GUERI^A GO - MEZ, I a Colegialidad en Ia conttitueiin jerárquica y en el gobiarno da la> primerat comunidades cristianas, na obra coletiva El Colégio Episcopal, Madrid, 1964. tríplice esquema, hoje tão conhecido para nós: episcopado, presbiterato e diaconato. Tão acostumados estamos a esse esquema, que nem sequer nos apresentamos a questão da sua reformabilidade. Contemplando, po- • rém, a evolução histórica a que temos feito referência, manifestase-nos um primeiro problema. Nas comunidades cristãs primitivas, o único ministério apostólico se desdobrou, sob o impulso das circunstâncias e necessidades pastorais, até chegar a cristalizar nos três graus da chamada "hierarquia de ordem". Conserva a Igreja, ainda hoje, a capacidade de desenvolver em formas novas as virtualidades do sacramento da ordem? Quer dizer, poderia ela, no nosso tempo, estabelecer novos modos de participação no sacerdócio ministerial que foi confiado ao Colégio apostólico? Dificilmente se poderá negar essa possibilidade se se considera que o exclusivismo da nossa organização atujl não parece ser um dado dos primeiros tempos do Cristianismo, mas apenas um fruto da era pós-apostólica. A s declara- ções do Concilio de Trento, que afirmam uma hierarquia de ordem, estabelecida por instituição divina (24), não constituem nenhuma dificuldade, pois, de modo algum, afirmam que os diversos graus procedam imediatamente de Cristo, nem que todas as virtualidades do sacramento da ordem fiquem esgotadas na trilogia "bispos , presbíteros e ministros". Não é nenhuma novidade a teoria da instituição apenas genérica do sacramento da ordem por Cristo. A literatura canônica e teológica a (24) CONC . TRID. jess . XXIll : Decr. de sacram. ordinis , especialmente o cap. 4 e o cânon 6: DS 17Ó8, 1776. este respeito é grande (25). Dividem-se, porém, os autores quando se trata de determinar se após a fixação dos três graus conhecidos é ainda possível uma ordenação diferente do ministério eclesial. E a verdade é que não há nenhum argumento convincente. Se, como parece, a distinção clara entre bispos, presbíteros e diáconos é apenas pós-apostólica, não se pode dizer que pertença ao núcleo da revelação, que ficou encerrada com a morte do último Apóstolo. O Colégio apostólico, primeiramente, e o Colégio episcopal depois, foram chamando homens que, em diversos graus e de diversos modos deveriam colaborar na missão única, ou continuá-la. Essa participação não parece ser, na consciência dos primeiros séculos cristãos, uma entrega parcelada de podêres que só através de etapas sucessivas possam ser alcançados. O ministério nos aparece dividido não em degraus que devam ser escalados progressivamente, mas em modos de participação, em tarefas especializadas, em missões a cumprir dentro da grande missão. Os exemplos de ordenações "pe r saltus" não são raros, nem levantaram maiores problemas teológicos (26). Em tôda ordenação de diácono, presbítero ou bispo há, fundamentalmente, uma inserção nessa grande missão do Colégio; há — valha a expressão — uma "incardinação" não nesta ou naquela diocese, mas no Colégio episcopal, depositário e transmissor (25) Pode consultar-se uma lista bastante completa no trabalho de ANTÔNI O MOSTAZ A RODRIGUEZ , Poderes episcopales y pretbi - terales, em La Función pastoral de los ©bis - pos , XI Semana espanola de Derecho canónico, Salamanca 1967. (26j É típico, a este respeito, o caso dos papas. Cf. MICHE L ANDRIEU , La urrièr e eeclesiastiqua des papes du moyen tge , em Rev. des Sciences rei. 27 (1947) 90-120. 189 do mandato de Cristo. Por isso, a Lumen Gentium pôde afirmar que "todos os sacerdotes. . . estão unidos com o Corpo dos Bispos e, segundo sua vocação e graça, devem servir ao bem de tôda a Igreja" (27). Em tôda ordenação há, portanto, já uma missão. Ordenação e missão aparecem tão intimamente unidas nos primeiros séculos que nem se cogita na sua pogsível separação. Daí que os clérigos sejam sempre ordenados relativamente, quer dizer destinados já a um ministério particular: a uma diocese, a um "título" ou a uma diaconia concretos e determinados (28). A participação de, pelo menos, três bispos na sagra- ção episcopal, que nos é apresentada em Nicéia como lei universal e tradicional (29), dá , por sua vez , o sentido da universalidade, da participação na missão única do Colégio através do rito sacro do sacramento da ordem. Quando, a partir da Alta Idade Média, começam a generalizar-se na Igreja as ordenações absolutas, sem referência explícita a um ofí- cio determinado, o pensamento teológico procura uma justificação (27) Consf. dogm. de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. (28) Essa disciplina foi rigorosamente observada durante os, quatro primeiros séculos. Aos poucos , caiu em desuso; mas para a Igreja Romana airida era lei, nos fins do século IX, e a sua inobservância deu lugar aos conhecidos episódios relacionados com a elevação de Formoso (891-896) ao Pontifi - , cado. Tão forte era a união entre o ordenado e ofício a que se destinava que c próprio Concilio Ecumênico de Nicéia consi - dera como absolutamente nula qualquer trasladação a outra diocese, título ou diaconia. Cf. CONC . NICAEN . 1, can. 15: ".. . si qui s vero,. . tale quid agere temptaverit.. . hoc factum prorsus in irritum deducatur et restituatur eeclesiae, cui fuit episcopus , presbyter aut diaconus órdinatus" : em Conci - líorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc, p. 12. (29) Cf. CONC . NICAEN . I, can. 4, em Concí - liorum Oecumenicorum Decreta (ed. ALBE - RIGO , JOANNOU , etc), Friburgi 1962, pp. 6-7. i9Ó teórica para o fato d a aparente separação radical e adequada das duas realidades que virão a receber o nome de ordem e jurisdição. Surgirá assim a teoria a que fazíamos referência no começo deste artigo. A ordenação conferiria somente o poder de ordem, sacramentai, de santificação; poder que deveria ser completado em todos os casos nos quais o seu exercício atinge diretamente os indivíduos (os "súditos", como costumava dizer-se). Por isso, a confissão "sem jurisdição" seria nula, mas a celebração da Eucaristia — que atua diretamente sobre a realidade divina do Corpo de Cristo e só indiretamente sobre os fiéis — seria sempre válida. A jjjrisdição, distinta e separável do poder de ordem, se transmitiria e seria, até certo ponto, independente da ordenação sacerdotal. Esta teoria parecia mais cômoda enquanto permitia explicar a diferença entre bispos e presbíteros, sem aumentar o nú- mero dos sacramentos e nem sequer recorrer à concepção da diversidade de graus no sacramento da ordem. A verdadeira, a única ordenação sacerdotal, seria ó presbiterato. Bispos e presbíteros diferenciar-se-iam apenas no poder de jurisdição (30). J á temos falado, anteriormente, das dificuldades que essa teoria apresenta. Vejamos ainda uma outra. Na realidade, a distinção radical entre ordem e jurisdição e a negação da multiplicidade contida no sacramento da ordem, em lugar de explicar, obscureciâ a distinção entre bispos e presbíteros. Perante um bispo titular sem (30) Entre os autores mais recentes partidários dessa teoria, pode destacar-se J . BEVÉR, Nature et position du iacerdoce, em Nouv. Rev. Théol. 86 (1954) 356-373; 469-480. nenhuma função especial numa diocese, deveríamos dizer que se encontra "degradado" à condição de presbítero? E, por sua vez , um presbítero que, como no caso dos prelados "nuliius", dos administradores apostólicos, dos vigários capitulares ou dos prefeitos apostólicos, governasse de fato uma diocese ou um território afim, poderia dizer-se que tinha sido "elevado" à categoria de bispo? Pôr causa das dificuldades apontadas, o Concilio Vaticano II abandonou a velha terminologia e fala não de "ordem" e "jurisdição", mas do tríplice "múnus " de ensinar, santificár e governar, cuja participação ontológica é conferida aos bispos na sagração episcopal. Os três múnus têm, portanto, uma base sacramentai, uma estrutura interna anterior à sua manifestação externa, à sua atuação no contexto social da Igreja. Mas se isso é verdade para os bispos, deve sê-lo igualmente para os presbíteros, que também recebem o sacramento da ordem, embora em forma diferente. Os presbíteros não são chamados "participantes do sacerdócio dos bispos", mas do único sacerdócio de Cristo (31). Daí que, também para êles , ps podêres de ensinar, santificár e governar tenham o seu apoio, a sua base ontológica, na ordenação recebida. A mudança de terminologia no Concilio é evidente. Trata-se, poréni, também de uma mudança de doutrina? Ou melhor, de uma volta a uma doutrina esquecida: a da sacramentalidade radical do poder eclesial? Assim parece ser. Contudo, nem todas as dificuldades fo- (31) ".. . (Presbyteri). consecranfur, ut veri sa- . cerdotes Novi Testamenti Muneri s unici Me-, diatoris Christi (1 Tim 2,5) participes in suo ' . gradu ministérii" : Const. dogm, de Ecciesia Lumen Gentium, n. 28. ram resolvidas. Os "múnus", afirma o Concilio, são conferidos na ordenação sagrada; mas devem ser exercidos na "comunhão hierárquica" (32). Não está aqui ainda escondida a distinção entre ordem e jurisdição? Pelo menos uma reminiscência dela é clara. De fato, a relação da comissão sobre o modo 39 afirma que a restrição da necessidade da comunhão para o exercício dos múnus episcopais se refere unicamente aos de ensinar e reger, não ao de santificár. Èm outras palavras , o múnus de santificár (antigo "poder de ordem") já estaria expedito para a ação pélp fato da simples sagração episcopal, enquanto os múnus de ensinar e governar (antigo "poder de jurisdição") deveriam ser completados pela "comunhão hierárquica" (33). Se fôssemos tirar as conseqüências lógicas dessa explicação dada na aula conciliar, teríamos que concluir que o poder de santificár é sempre vàlidamente exercido; ó que não acontece com os de ensinar e governar. E não era èssá a doutrina "pré-conciliar" das duas potestades? Colocada, porém, a premissa da unidade do ministério em Cristd, tem sentido um poder sacramentai exercido totalmente fora da comunhão eclesial? A necessidade dessa comunhão não me parece que: se possa justificar apenas pela exigência da determinação dos súdir tos sobre os quais o ministério deva ser exercido. Pelo contrário, a comunhão hierárquica é uma con- (32) C{. Const. dogm. de Ecciesia-^luiniM -.âmr tium, n. 21 . (33) (Textus approbatus) "affirmàt cohsècfationô conferri, cum munere sanctificandl,^- ^çtlam munera regendi ac.docendi ; curn hac qui - dem restrictione, quod haec ultim a extra communionem exercteri non possunt" : Responsió ad modurti 39, âp. J . Aí. RAMIREZ, De Epiacopatu u t sacramentp deqúe epii ? coporum collegio, Salmanticae 1966, p. 55 , Í91 seqüência da estrutura social de todos os sacramentos, incluído o da Eucaristia. Êles são ações "da Igreja", realizadas "na Igreja". O caráter indelével do sacramento da ordem é, sem dúvida , um dado certo da tradição cristã, mas é igualmente certo que a ordenação é uma realidade destinada a ser exercida numa comunidade local, dentro da comunidade universal que é a Igreja. Colocar-se fora ou contra esta privaria de sentido a atuação do poder de santificár. A Eucaristia, sinal e causa eficaz da unidade dos irmãos em Cristo, teria algum sentido se fosse celebrada por alguém que rompeu por inteiro essa unidade? É evidente que um raciocínio que logicamente leva à admissão da irritabilidade do poder de santificár causa pelo menos perplexidade. Mas não me parece que as dificuldades que daí se derivam sejam insalváveis. As reflexões expostas até aqui constituem a base para a formula- ção de algumas hipóteses sobre o ministério presbiteral e a sua rela- ção com o episcopado. Não me atrevo a dizer que elas tenham sido perfeitamente provadas , mas me parece que constituem a explicação mais coerente dos ensinamentos do Concilio e dos fatos que a História da Igreja nos transmitiu. Eis, pois, as minhas conclusões: 1) A diferença entre bispo e presbítero não pode descansar unicamente numa jurisdição extrasacramental, que era desconhecida na primitiva Igreja e que pugnaria com a própria economia da salva- ção, onde os elementos interno e externo vão sempre unidos. Essa diferença tem a sua base no pró- prio sacramento da ordem. O presbítero, pela ordenação, passa a participar da missão única do Co- 192 légio apostólico; não como titular desse Colégio, mas como o seu auxiliar e subordinado. O bispo, pelo contrário, é membro pleno, continuador do ministério apostó- lico, presencializador na comunidade local de tôda a obra de Cristo e co-responsável na comunidade universal da tarefa primitivamente encomendada aos Doze. 2) Os podêres do presbítero são variáveis e, de fato, variaram ao longo da História, porque o Colégio episcopal pode escolher os seus auxiliares com finalidades diversas , de acordo com as circunstâncias e necessidades da Igreja. A tradição eclesiástica reservou o nome de presbítero para aqueles que foram chamados a colaborar diretamente no q/^erecimento do único sacrifício def Cristo. Daí o nome de sacerdotes pelo qual também são conhecidos. Quanto à administração de outros sacramentos (sobretudo crisma e ordem) o Colégio pode chamar para colaboração maior ou menor. E, precisamente porque o Colégio dos bispos quer conceder estes e não outros podêres, concede-os, de fato, porque êle é o titular da missão e o encarregado de arbitrar os meios necessários para o cumprimento dela. Não se esque- ça: a missão do Colégio é originá- ria, enquanto a dos presbíteros é derivada. 3) O que se afirma dos presbíteros pode ser aplicado — corri as devidas correções — aos diáconos. Também êles foram chamados a colaborar com o Colégio episcopal , mas apenas no plano do ministério e não no do sacerdócio. Aliás , a Igreja — sempre através do Colégio — poderia estabelecer novas e.cambiantes formas de participação na sua tarefa, a serem construídas sobre a base do sacramento da ordem. A função deste sacramento é, portanto, agregar alguém, como membro ou como colaborador, ao Corpo episcopal. 4) O exercício dos podêres conferidos na ordenação, de acordo com a própria natureza da Igreja e da missão, encomendada não a indivíduos isolados mas a um corpo, exige a comunhão eclesial. Mas essa comunhão não pode ser concebida como mero elemento jurídico externo e sim como expressão de uma vida íntima de união na fé , na esperança e na caridade. Ora , assim como a união intencional admite diversos graus , é também possível uma comunhão eclesial limitada e gradual, que dê sentido à ação do ministro, mesmo quando externamente êle se encontre fora ou à margem da comunidade. Aí estaria a explicação da validade do ministério dos orientais separados (inclusive no caso da crisma). 5) Poderia ser irritado ou tornado nulo, o poder já concedido pela ordenação ê pela comunhão com o Colégio? Não se vê como negar essa possibilidade, considerando que o próprio Colégio episcopal é capaz de retirar radicalmente a comunhão com indivíduos ou grupos determinados. Mas , nessa perspectiva, não se pode manter a distinção tradicional entre ordem e jurisdição, porque tôda ação ministerial, mesmo a celebração eucarística, deve realizarse nesse quadro da comunhão eclesial. A natureza sacramentai da Igreja, como conjunto, leva, ao meu modo de ver, a esta conclusão. É verdade, porém, que tradicionalmente se vem afirmando que a Eucaristia é válida em todo caso, sempre que o ministro fôr ordenado e tiver a intenção de celebrar. Mas , isso é conseqüência de uma necessidade intrínseca, nascida da própria ordenação, ou do fato de o Colégio episcopal não ter querido negar nunca a comunhão mínim a , imprescindível para que essa Eucaristia seja uma realidade eclesial? 6) Finalmente, a terminologia atual pode induzir a erro. Principalmente porque reserva o nome de sacerdote para os presbíteros. Os sacerdotes do Novo Testamento são, fundamentalmente, os membros plenos do Colégio episcopal, porque a êles foi encomendada diretamente a tarefa de perpetuar a ação sacerdotal de Cristo. Os presbíteros são, como o Vaticano II os chama, sacerdotes "em grau subordinado" (34), cuja ação fora ou contra a comunhão do Colégio episcopal perderia todo o seu significado eclesial. (34) CONC . OECUM , VAT . II , Decr. de Presbyterorum ministério et vita, Presbyterorum ordinis , n. 2 . 193